Ana Estaregui e Gabriela Perigo: dança, corpos e gesta
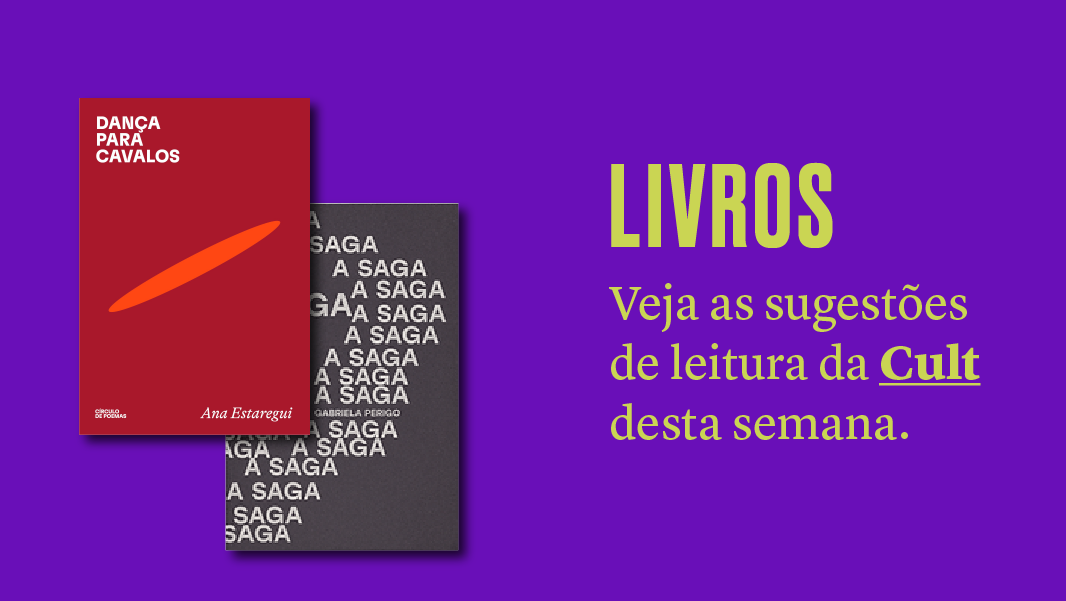
Eis a semente de tudo, o sentido de todas as coisas. Você nunca sabe quem, nesse exato momento, pode estar pensando em matar você. Use isso como título da entrevista, se quiser: Estamos todos em perigo.
Pier Paolo Pasolini
A frase seminal de Pier Paolo Pasolini – “Estamos todos em perigo” – dita em sua última entrevista, a Furio Colombo, poucas horas antes de ser assassinado, vem em meio a uma circunstância desesperada e desesperadora, tal como já dissera em meio a uma ideia de um “vazio do poder” que a imagem dos vagalumes não projeta nenhuma esperança, mas sim o ab-sens [a presença-ausente] de uma denúncia severa do que é, definitivamente, o capitalismo narcótico. Na mesma entrevista lembra que, “de alguma maneira, todos somos fracos, porque todos somos vítimas. E todos somos culpados, porque todos estamos dispostos a jogar esse jogo assassino da possessão. Todos aprendemos a ter, possuir e destruir.” A lista é imensa e estamos submersos nesse “perigo imediato” impresso em nossos corpos de uma biopolítica banalizada e banalizadora de qualquer ideia de vida sem nenhum impossível.
Num poema de 3 linhas, “achar”, publicado no pequeno e forte estou viva (7Letras, 2020), Gabriela Perigo, que ainda assinava Faccioli, escreve: “tem alguma coisa atrás do verbo./ como o cão atrás do próprio rabo,/ a palavra é ferramenta e enigma, um corpo vivo”. Este é o jogo de empenho, com os prismas do que é e do quanto se lança em vida a um corpo, com um corpo, para enfrentar o que agora, desde aí, passa a ser também nome: perigo. No mesmo livrinho, em “carta pro pai”, anota que “nascemos no capitalismo”. Anotações que podem nos levar, de algum modo, ao livro que fizera anos antes, todo à mão [cola, linha de costura e caligrafia], entre uma “fome do mundo” e “camadas de um corpo vivo”, apontamentos inseguros para uma dissipação insolente, talvez perseguindo a de Drummond, “escrevo, dissipo”, que se configura no livro recente, A saga (Garupa, 2022). Gabriela tem formação em geografia, passeia em estudos pelas artes visuais e se engendra numa cilada: “escrever recados”, anota.
Num outro movimento, Ana Estaregui, com formação em artes visuais e dois livros anteriores, Chá de Jasmin (Patuá, 2014) e o impressionante e diferente Coração de boi (7Letras, 2016), publica agora Dança para cavalos (Luna Parque/Fósforo, 2022), atravessando um redesenho de escrever sobre o fogo e tocar as mãos o mais perto possível da coragem. À procura por uma palavra orgânica, primitiva, díspar, que não reproduza a reprodução constante de certas repetições, sempre absolutamente mímicas, para inferir “matéria sólida”, “seiva e um pouco de ar”, “movimento sutil” e “oscilação inaudível” já está quando escreve em Coração de boi, num trecho,que “todo poema é um chão/ feito não para helicópteros/ mas para alguns tipos de insetos e pombos/ todo poema marsupial, carrega um poema novo/ no bojo da própria barriga”. Um desejo abrangente, e muito explícito, de uma política livre a qualquer móbile de re-habitação, sem residir, que possa refazer a presença humana frente às imposições do narco-capitalismo e da esquizofrenia maquínica que, reiteradamente, nos impõe a paralisia robótica sem nenhum UM OUTRO, parados e enfiados sempre em um violento e egoico SI MESMO, este perigo da posse constante. Muito jovens – Gabriela é de 1995, Ana nasceu em 1987 –, pode-se ler no pequeno percurso de trabalho de cada uma o que há de gesta e, ao mesmo tempo, de articulação heterogênea ao que se imagina como um “meio” entre as imagens e a letra e a expropriação teológica da condição de mulher, da mulher, numa esferologia cultural hedionda, porque toda construída como machinha, machista, patriarcal, imperiosa e cretina, muito própria dos paradoxos deterministas do dinheiro e da posse. Outras coreografias, mas sem precisão de lugar, de “ter” um lugar; muito mais à procura ininterrupta de um corpo.
Esse A saga, de Gabriela, é um arremesso ao cotidiano de um país lacerado e doente em sua dimensão mais espúria, “trama louca” e “o brasil é uma península umbilical”, fincado numa América Latina sem nada parecido com algum Guamán Poma – uma aparição do milagre em um poema do livro –, homem de ascendência inca que sonhava um continente impossível, indícios de dignidade, “entre a revolução e a desesperança total”. Assim como no poema “americano acha mensagem lançada ao mar”, anunciando que quando Tyler Ivanoff acha uma mensagem perdida de um capitão de navio russo, Anatolii Prokofievich Botsanenko, diz-se também um pesadelo real de que “a guerra fria não acabou/ ela segue se espalhando pelas beiradas do mundo/ perdida e refeita em bocas confusas”.
O ponto de Hamlet reconfigurado: o mundo está fora dos eixos. E é exatamente a partir do poema que relembra Guamán Poma que o livro se reabre numa proposição de um corpo capaz de “dançar as ruas escuras” e avança num confronto a todo e qualquer perigo imediato. Num poema-anotação, sem título, escreve:
fomos avisados
da indiferença
que corrói chuveiros
elétricos
sistemas de som
só que apostamos
mais alto
e seguimos bravos
dançando
a passarela azeda
até não dar pé
até as roupas
ficarem pó.
Esta dança breve e corajosa anuncia as duas linhas que podem ser lidas como as mais fortes do livro, duas páginas depois: “perder/ o futuro pelas mãos”.
Ana, em seu Dança para cavalos, tentando uma “lição de árvores/ continuar/ envergando a haste/ até o sol”, inferindo uma luta pela natureza daquilo que um dia ainda poderíamos ter sido, presente-futuro, sugere caminhar. Se numa oficialização da desobediência, ou seja, obedecer cegamente, caminhar é o que se emprenha de vagabundagem em tudo aquilo que nesta é corte, interrupção e interdição dos modos de vida provocados pela mutação antropológica do capital: o consumo. Lê-se aí a imagem de Henry Thoreau, entre Walden e a caminhada, não como um recuo, mas uma recusa; quando recusar, sabemos, ainda não é uma renúncia: “uma aventura diária”. Nessa dança, caminhar é como já anotara Paulo Leminski, “só sei pensar andando”; um esforço para “aprender a pensar/ como pensa uma flor/ abrir/ ninguém sabe melhor/ pensar como pensa um rio”, estas são as primeiras linhas do livro.
As metamorfoses da vida vegetal e natural em um caráter humano a, ao mesmo tempo, de algum caráter humano numa impossibilidade natural, ou apenas num jogo de empréstimos, move os textos a uma espécie de “ar livre” quando quase nada se explica, nem mesmo a palavra esperança, que vem de spe, expandir, e do latim spes, espera, aguardo, porque ela está vazia de tudo. A dança deste livro de Ana pode ser também uma aproximação aos cavalos de Patti Smith, corpos amigos e livres, e a força política de “parir”, verbo que apresenta a composição partilhada de uma comunidade de mulheres como aquela imaginada por Emília Freitas em 1889, no sertão do Ceará: uma comunidade secreta de mulheres, ou seja, heliotropismo, recrutadas a partir de cotidianos de sofrimento e penúria, para a organização de um campo de luta – parir – contra as imposições da sociedade patriarcal e sua atmosfera de chumbo. Daí, quase tocando um Alberto Caeiro impensado, anota:
não posso explicar o vento
não sei dizer como a coisa é
sem traí-la
tudo é impossível se tentarmos
apreender com as mãos
e a cabeça.
Diante desses tempos de instantes anódinos e afásicos, quando quase todo poema é literal e material, quando quase nada no poema se descose, se despe, o que Jacques Derrida reclamava ao lembrar que “descoser é também despir, por a descoberto o corpo sob a superfície ou a superfície da pele sob a veste, ou a carne sob a pele. Sob um ato de guerra, descoser ainda pode salvar a verdade, a verdade do corpo”, importante, talvez, não mais uma ideia de costura com estes remendos da violência fascista: “é preciso, é necessário, deve, tem que, empatia, tolerância etc.”, mas de farrapo, molambo, rasgadura de todo corpo, de toda carne, esfarrapar a palavra até que ela possa vir sem gramática imperativa, livre, contra todo ato de guerra ou de paz. Uma palavra mais antipática, menos tolerante, porque se “estamos todos em perigo”, como dizia sereno Pasolini – e “nenhuma tolerância é real” –, muito se deve às palavras vazias e mímicas do capitalismo narcótico. Os livros de Ana Estaregui e Gabriela Perigo nos apresentam uma gesta, senso e não senso, o que ainda pode ser fora do senso; alguma “fome extrema” que, como dizia Herberto Helder, é fêmea.
Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura da UNIRIO. Publicou A guerra da água (7Letras, 2022), Xenofonte (Cultura e Barbárie, 2021), O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou Uma pausa na luta (Mórula, 2020), com a participação de 70 pessoas, e juventude, alegria (Mórula, 2021, com Davi Pessoa).


por Redação
 Reunião de 25 contos de 25 escritores contemporâneos. Além de todas as narrativas serem ambientadas em Goiânia, capital de Goiás, elas têm em comum a aproximação com a “ficção especulativa”, sem, no entanto, prenderem-se a nenhum gênero ou tema. Ficção científica, horror, fantástico e maravilhoso são algumas das formas ensaiadas ao longo dos contos, que tomam a cidade (infundada) de Goiânia como ponto de partida. Como explicam os organizadores Adérito Schneider e Fernanda Marra, “além de fomentar a cena literária goiânia, Cidade infundada tem também como objetivo pensar e elaborar pelo viés da literatura o que é viver na cidade de Goiânia”.
Reunião de 25 contos de 25 escritores contemporâneos. Além de todas as narrativas serem ambientadas em Goiânia, capital de Goiás, elas têm em comum a aproximação com a “ficção especulativa”, sem, no entanto, prenderem-se a nenhum gênero ou tema. Ficção científica, horror, fantástico e maravilhoso são algumas das formas ensaiadas ao longo dos contos, que tomam a cidade (infundada) de Goiânia como ponto de partida. Como explicam os organizadores Adérito Schneider e Fernanda Marra, “além de fomentar a cena literária goiânia, Cidade infundada tem também como objetivo pensar e elaborar pelo viés da literatura o que é viver na cidade de Goiânia”.
 Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013, a escritora e doutora em Literatura Paula Fábrio aborda em seu novo romance as diferentes histórias que perpassam a cidade e constituem a complexa sociedade brasileira. A partir do roubo de bicicletas em um prédio de classe média em São Paulo, a narrativa acompanha tais histórias pelas fímbrias do tecido social, espiando “através dos buracos negros, das frestas, das feridas e cicatrizes”, como escreve Maria Valéria Rezende na orelha da obra. Com esse olhar atento e minucioso, o romance entrelaça diferentes personagens, com entregadores de aplicativos, moradores da periferia, empresas de segurança, pastores e camelôs, traçando também um perfil e uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo.
Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013, a escritora e doutora em Literatura Paula Fábrio aborda em seu novo romance as diferentes histórias que perpassam a cidade e constituem a complexa sociedade brasileira. A partir do roubo de bicicletas em um prédio de classe média em São Paulo, a narrativa acompanha tais histórias pelas fímbrias do tecido social, espiando “através dos buracos negros, das frestas, das feridas e cicatrizes”, como escreve Maria Valéria Rezende na orelha da obra. Com esse olhar atento e minucioso, o romance entrelaça diferentes personagens, com entregadores de aplicativos, moradores da periferia, empresas de segurança, pastores e camelôs, traçando também um perfil e uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo.
 Poemas que exploram as “formas de contragolpear o bloqueio do futuro”, no que “carregam uma espécie de ambivalência produtiva, estratégia lírica desfolhada em uma bandeira ao mesmo tempo política e afetiva”. Assim o jornalista Andrei Reina define os versos de Flora Miguel publicados em tempo sem cruz. Dividido em três partes, “tempo sem cruz, “post lembranças” e “cruz”, o livro espraia-se com um olhar para diversos pontos da cidade: do “faqui” urbano que deita “na cama de pedras pontiagudas” às formigas que marcham no imperativo de “travar batalha/ minimalista”. Trata-se, retomando a apresentação de Andrei Reina, de afirmar um olhar no contratempo: “contra o tempo e a sua cruz”.
Poemas que exploram as “formas de contragolpear o bloqueio do futuro”, no que “carregam uma espécie de ambivalência produtiva, estratégia lírica desfolhada em uma bandeira ao mesmo tempo política e afetiva”. Assim o jornalista Andrei Reina define os versos de Flora Miguel publicados em tempo sem cruz. Dividido em três partes, “tempo sem cruz, “post lembranças” e “cruz”, o livro espraia-se com um olhar para diversos pontos da cidade: do “faqui” urbano que deita “na cama de pedras pontiagudas” às formigas que marcham no imperativo de “travar batalha/ minimalista”. Trata-se, retomando a apresentação de Andrei Reina, de afirmar um olhar no contratempo: “contra o tempo e a sua cruz”.










