Leonardo Fróes, um vocabulário afetivo, e outros lançamentos
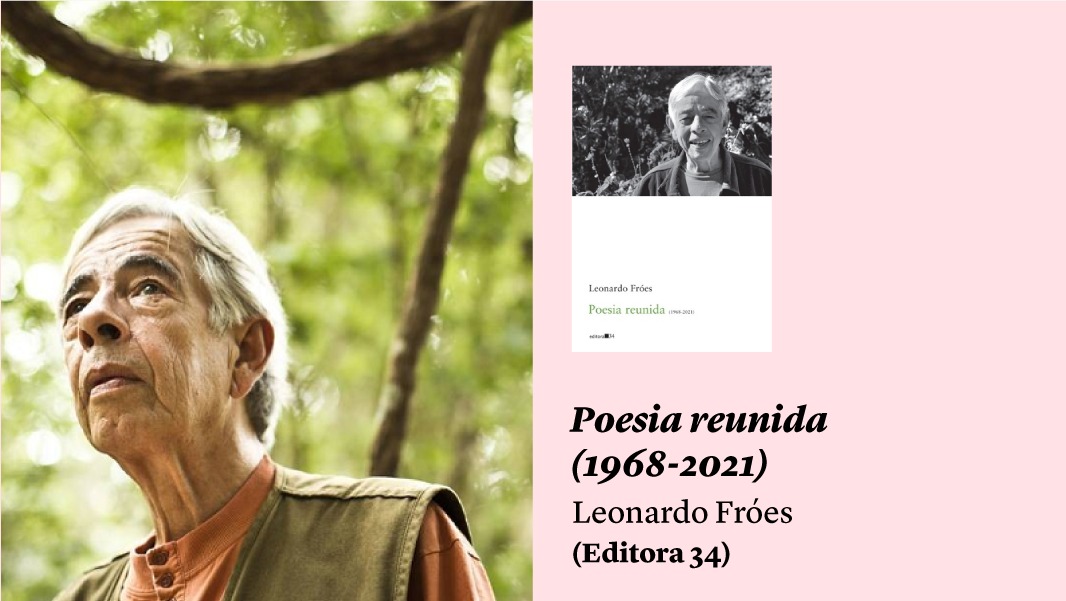
Acabam de chegar às livrarias dois lançamentos pelos quais o leitor de poesia não pode passar desapercebido: a Poesia reunida (Editora 34) de Leonardo Fróes e a reedição de seu ensaio Um outro. Varella (Corsário-Satã). O interesse despertado pela poesia e por tudo que cerca a figura de Fróes nos últimos anos acendeu a busca por seus livros lançados desde os anos 1960 – em especial pelo volume Vertigens (Rocco, 1998), que reúne os livros do poeta até então –, mas era difícil encontrá-los nos sebos. Também a primeira edição de Um outro. Varella (Rocco, 1990) se tornou rara em pouco tempo. Uma nova e apaixonada geração de leitores de Fróes, que o descobriram na antologia Trilha (Azougue, 2015) e na reedição de Sibilitz (Chão da Feira, 2015), aguardava ansiosamente por esses livros e agora poderá ler também uma seleção de textos da coluna sobre meio ambiente que o poeta manteve durante mais de uma década em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, no volume Natureza: a arte de plantar, que a Companhia Editora de Pernambuco – CEPE lançará no próximo mês.
Leonardo Fróes nasceu em fevereiro de 1941, em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Completou 80 anos há poucos meses, vendo sua obra ser acolhida numa época em que, diante da cada vez mais terrível encruzilhada a que a destruição ambiental nos leva, seu exemplo de equilíbrio, cuidado, harmonia entre poesia e vida, entre homem e natureza, contrasta ainda mais com os rumos desses dias brutais, doentiamente velozes, e parece nos chamar, com sua voz calma, para refletir e tentar salvar algo nesse mundo, ou melhor, construir um mundo em que faça sentido viver.
Muito jovem, Fróes se destacou como tradutor, pesquisador e editor, o que levou ao convite para trabalhar em grandes editoras internacionais. Nesta época, rodou o mundo e ganhou dinheiro, mas o que queria mesmo não estava em Nova Iorque, Paris ou Berlim, muito menos na rotina de “executivo” que esses empregos impunham. Ainda antes dos 30 anos, Fróes e sua esposa, Regina, decidem morar num sítio em Secretário, nas montanhas de Petrópolis, e transformar a vida num poema. Começa aí uma travessia que seus versos registrarão com uma beleza extraordinária: o aprendizado dos trabalhos manuais – da construção da própria casa até o plantio de todo o sítio –, a dedicação-entrega aos ritmos da terra e dos bichos, a vivência profunda de um relacionamento amoroso que se confunde com essa imersão na natureza.
Lado a lado com o trabalho na terra, com os cuidados do sítio, Fróes escreve bastante poesia e é um dos mais prolíficos dos nossos tradutores. Discretamente, seu nome está na página de rosto de obras de Faulkner, Goethe, Virginia Woolf, Ferlinghetti e Flanery O’Connor, entre muitos outros autores de diferentes línguas. Escreve também ensaios sobre literatura que são preciosos, tanto pelo que dizem sobre seus temas (do amor em Goethe à poesia clássica chinesa), quanto pelo que revelam do pensamento que está por trás da própria poesia e da vida de Fróes. Um outro. Varella, lançado pela primeira em 1990, talvez seja o melhor exemplo, porque, enquanto persegue Fagundes Varella (1841-1875), dialogando com a melhor bibliografia sobre o poeta romântico, analisando cuidadosamente sua poesia e biografia, Fróes acaba esclarecendo também muitas questões – e paixões – importantes para si mesmo, porque Varella, “um outro”, também foge das cidades e de tudo que comprometa sua liberdade.
Aliás, no caso de Fróes, esse afastar-se da vida na cidade grande também significou, em certo sentido, afastar-se das linhas “dominantes” da poesia brasileira nas últimas décadas (pensando na forma mais esquemática como essa história costuma ser contada), dando ao poeta uma liberdade muito grande para desenvolver seu próprio caminho, em diálogo mais com os grandes poetas que o antecederam do que com qualquer movimento (ou moda) surgido em sua própria época. Hoje, quando toda essa poesia nos salta aos olhos, fica ainda mais evidente que Fróes estava gestando uma poética – uma voz, um olhar, um ritmo – inconfundível, profundamente enraizada nas mesmas transformações que sua vida como um todo atravessou.
Poesia reunida (1968-2021) traz, a um público mais amplo, a oportunidade de passear por toda essa riqueza da obra de Fróes. O volume reúne os livros Língua franca (1968), A vida em comum (1969), Esqueci de avisar que estou vivo (1973), Anjo tigrado (1975), Sibilitz (1981), Assim (1986), Argumentos invisíveis (1995), Um mosaico chamado a paz do fogo (1997), Quatorze quadros redondos (1998), Chinês com sono (2005) e A pandemônia e outros poemas (2021), este último composto de quinze poemas recentes e inéditos em livro. É de se notar, a despeito das datas na capa apontarem para o passado, que estamos diante de uma poesia que é absolutamente nova, que fala de coisas vivas e futuras, cheias de frescor, apontando muito mais para um mundo que devemos construir do que para qualquer traço desse mundo violento, injusto e destrutivo em que nós (não Fróes!) estamos mergulhados até aqui.
Também por isso, é muito esperado o lançamento de Natureza: a arte de plantar, seleção de 60 textos entre os quase 500 publicados pelo poeta nas colunas “Natureza” e “A arte de plantar”, entre os anos 1971 e 1983, no Jornal do Brasil e no Jornal da Tarde. Com organização de Victor da Rosa, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, o livro apresenta um outro lado, ou melhor, uma outra entrada para o universo do poeta, porque em Fróes tudo está envolvido na poesia – as mãos que cavam a terra e os olhos que aguardam o tempo das sementes são as mesmas e os mesmos que esculpem os versos. Ao registrar o aprendizado do poeta em sua dedicação diária ao sítio (e é importante notar que a coluna surge logo depois da mudança de Fróes e Regina para Secretário), os textos de Natureza constituem também um documento fundamental do entrelace vida-poesia que nele se dá.
Foi pensando nesse percurso admirável que sugeri ao poeta que nos falasse sobre algumas palavras que, a meu ver, o acompanham de modo especial. Palavras mais espessas dentro de sua voz. Aquelas que talvez sejam as palavras fundamentais de um certo vocabulário afetivo, levando a muitas outras e indicando outros caminhos, como se lê nos comentários do poeta para as palavras que selecionei. Pouco importa, leitor, se você entrará nessa mata densa pela primeira vez ou se já segue a trilha há mais tempo – não há nada melhor que ter um guia como Leonardo Fróes.
Tarso de Melo é poeta, autor de Rastros (martelo casa editorial, 2019), entre outros livros.
* * *
Leonardo, começo explicando o porquê da forma que proponho para essa nossa conversa. Reli diversas entrevistas suas nos últimos dias e acho que seus interlocutores – Sérgio Cohn, Júlia de Carvalho Hansen, Dirceu Villa, Alberto Pucheu, Sérgio Maciel, Rob Packer, Paulo Werneck, entre outros – fizeram um trabalho excelente, cobrindo as questões mais importantes para seu leitor e, mais, para o leitor que descobrirá você na Poesia reunida. Remeto, com entusiasmo, a essas entrevistas que estão na rede.
Além disso, tive o prazer de conversar algumas vezes com você recentemente e percebi que algumas palavras acendem seus olhos de modo especial. Acendem algo forte em sua memória. Arrisco dizer: talvez sejam as palavras em que o sentido da sua vida esteja mais enraizado, mais forte, mais vibrante. Então, para não aborrecer com longas perguntas, interpretando sua poesia, vida etc., decidi provocar sua fala a partir do que essas palavras significam para você. Acredito que este momento, em que você vê “todas” as suas palavras reunidas num livro, seja perfeito para partir de algumas delas e, assim, revisitar o trajeto até aqui. Que tal?
Com a(s) palavras(s), Leonardo Fróes:
Itaperuna – Na década de 1940, quando lá nasci e comecei a crescer, a cidade ainda era um lugarejo da roça. Quase não havia carros. Caminhões, se tanto, uma meia dúzia, todos muito remendados. A maioria dos habitantes ainda andava a cavalo. Com poucas ruas calçadas, a poeira circulava à vontade sob um sol de rachar. Mas eu achava tudo lindo, e é nesse ninho de simplicidade que se fincam minhas raízes. Gostava sobretudo do rio que dividia a cidade em duas bandas e onde se podia tomar banho pelado. Que delícia! Gostava de andar pelos arvoredos e descobrir novidades. Minha primeira contribuição à família foi uma abóbora que achei um dia no mato e carreguei para casa. Devia ter uns oito anos. Mesmo depois que nos mudamos para o Rio, quando eu estava chegando aos dez, até o fim da adolescência sempre voltava a Itaperuna — o Caminho da Pedra Preta, para os índios que antes tinham vivido por lá — para passar minhas férias. Mas há bem mais de meio de século não retorno à cidade. Deve estar muito mudada, toda espetada de edifícios que talvez já não deixem olhar tão bem para o céu.
Pedro II – Entrei para o internato desse colégio notável já com onze ou doze anos. Passar no exame de admissão, que era muito disputado, foi uma de minhas grandes proezas. É infinita a gratidão que sinto pelo que lá me ensinaram. Desde o início, comecei a estudar as primeiras das seis línguas estrangeiras que então faziam parte do currículo. No internato (o modelo do ateneu do famoso romance homônimo de Raul Pompéia, que também estudou lá), fiz no Rio os meus primeiros amigos. E comecei a falar em público, participando das Horas Literárias do grêmio, organizadas pelos alunos mais velhos. Sempre estudei em escolas públicas. Meus pais nunca poderiam pagar pela educação esmerada que esse colégio me deu. Quando saí do Pedro II, com dezoito anos, logo arranjei meu primeiro emprego em jornal.
Regina – É difícil falar dessa pessoa com quem moro há tantas décadas, sempre tão apaixonado por ela como nos primeiros momentos. Mas ouso dizer que é uma criatura adorável, uma eterna menina-moça cheia de charme, inteligência, delicadeza e sensibilidade. Em “Homenagem a Louise Labé”, o primeiro poema de minha recém-publicada Poesia reunida, escrevi em 1968: “procuro uma emoção bem simples / um rosto / no qual me reconheça”. Pouco tempo depois aconteceu o milagre. Desde que conheci a Regina, a ansiedade que esse poema revela perdeu sua razão de ser.
Secretário – Brincando, já chamei esse lugar de Secretovário. Instalar-me nele, onde tenho até hoje o sítio, foi como regressar à Itaperuna da infância. Todo mundo ainda andava a cavalo, quando chegamos a essa vila de Petrópolis, no começo da década de 1970, tal como eu tinha visto no começo da vida lá no norte do estado. Bois pastavam sonolentos à beira das estradinhas de terra. Poucos carros circulavam. O silêncio era poderoso e tangível, de tão sólido. As chuvas e vendavais eram assustadores. Mas logo nos habituamos a apreciar os fenômenos, entendendo-os como manifestações inevitáveis do todo. Muita coisa mudou em meio século. Mansões de veranistas e secretos condomínios murados surgiram pela região. Os cavalos dos nativos foram substituídos por motos. Mas nosso sítio se mantém como um oásis diante da suposta civilização que avança sobre a antiga zona rural, um recanto de paz. Assim são as coisas. Não posso nem devo me contrapor às metamorfoses da vida.
Terra – Para mim é o que há de mais sagrado, o que mais merece reverência, pois é ela que produz tudo o que me alimenta. Quem come um abacate ou uma manga que comprou num supermercado não tem como avaliar como é lenta e laboriosa a produção de uma fruta. Sei disso pela experiência vivida, tendo plantado e cuidado de fruteiras desde que eram mudinhas com um palmo de altura. Algumas levaram até vinte anos ou mais para começar a florir.
Bicho – Remeto a um poema que está na Poesia reunida. Foi onde melhor já consegui falar sobre o tema.
O OBSERVADOR OBSERVADO
Quando eu me largo, porque achei
no animal que observo atentamente
um objeto mais interessante de estudo
do que eu e minhas mazelas ou
imoderadas alegrias;
e largando de lado, no processo,
todo e qualquer vestígio de quem sou,
lembranças, compromissos ou datas
ou dores que ainda ficam doendo;
quando, hirto, parado, concentrado,
para não assustá-lo, com o animal me confundo,
já sem saber a qual dos dois
pertence a consciência de mim —
— qualquer coisa maior se estabelece
nesta ausência de distinção entre nós:
a glória, a beleza, o alívio,
coesão impessoal da matéria, a eternidade.
Liberdade – “Abre as asas sobre nós”. É imprescindível. É fundamental. Para qualquer artista que se preze é o néctar mais precioso para viver com dignidade e criar.
Línguas – Fui iniciado em várias no Pedro II, como disse antes, e cada nova aprendizagem era uma nova alegria, porque entrar no universo de outra língua é abrir não só a cabeça como também nossa receptividade em relação aos outros. Nos seis anos que vivi no exterior, morando e trabalhando em Nova York, Paris e Berlim, pude aperfeiçoar um pouco mais meu conhecimento de línguas. Tendo me tornado tradutor, sou até hoje obrigado a me aperfeiçoar sem descanso, porque todo tradutor é um eterno estudante, e sempre cuido disso, como no início, com imenso prazer nas descobertas.
Trilha – Uma trilha é a da própria vida, tão ramificada em atalhos. Outra é a do título da antologia que publiquei em 2015 pela Azougue. Se é dessa que se trata, devo dizer que ela foi muito oportuna, porque meu livro anterior de poesia, o Chinês com sono, tinha saído em 2005, portanto dez anos antes. Ao que parece, muita gente entrou em contato com meu trabalho através dessa antologia Trilha, que despertou ainda mais interesse depois de ser lançada na Flip.
Poesia – É o que eu tenho de melhor para dar. Dizem que não serve para nada, mas para mim tem servido, e muito, para fazer amigos. Pode haver coisa melhor?
[ficção]
por Redação
 Escritas em 1931, em parceria entre o poeta chinelo Vicente Huidobro e o multiartista franco-alemão Hans Arp, as curtas novelas desse volume trazem narrativas fantásticas, ambientadas em universos superreais, que “buscam uma outra experiência da temporalidade, como se a destruição humana já tivesse se consumado e vivêssemos uma espécie de pós-vida, pós-histórica, que começasse pelo fim”, como escreve o crítico Roberto Zular. Em uma das narrativas, por exemplo, somos apresentados a Oratônia, país cujo presidente declara que ele é o único que pode armar uma conspiração. Em outra novela, visitamos Peterúnia, país que não tem nenhum gângster, pois todos os seus habitantes tornaram-se gângsteres. “Em tempos de certezas polarizadas entre presidentes e gângsters é um alento beber na fonte do absurdo”, complementa Zular.
Escritas em 1931, em parceria entre o poeta chinelo Vicente Huidobro e o multiartista franco-alemão Hans Arp, as curtas novelas desse volume trazem narrativas fantásticas, ambientadas em universos superreais, que “buscam uma outra experiência da temporalidade, como se a destruição humana já tivesse se consumado e vivêssemos uma espécie de pós-vida, pós-histórica, que começasse pelo fim”, como escreve o crítico Roberto Zular. Em uma das narrativas, por exemplo, somos apresentados a Oratônia, país cujo presidente declara que ele é o único que pode armar uma conspiração. Em outra novela, visitamos Peterúnia, país que não tem nenhum gângster, pois todos os seus habitantes tornaram-se gângsteres. “Em tempos de certezas polarizadas entre presidentes e gângsters é um alento beber na fonte do absurdo”, complementa Zular.
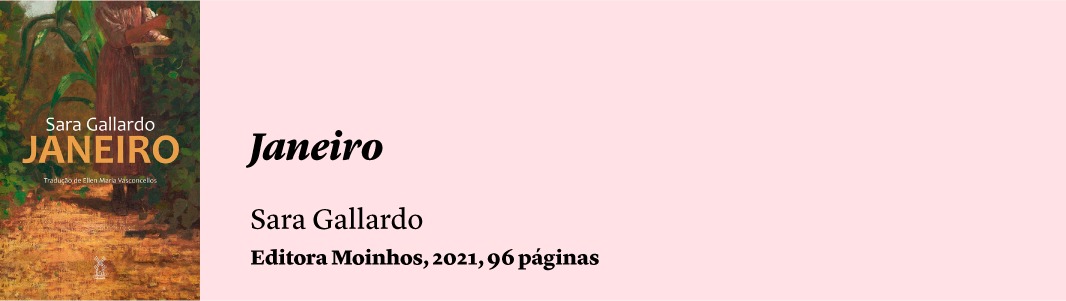 Após ser apresentada ao leitor brasileiro com Eisejuaz, pela editora Relicário, o primeiro romance da autora argentina chega ao país. Publicado nos anos 1960, Janeiro traz o retrato de uma pacata comunidade ao norte da Argentina, onde camponeses trabalham a terra e cuidam dos animais. Nefer, a protagonista, é uma adolescente de 16 anos que, após ser violentada, está grávida e não sabe como lidar com essa situação no meio rural conservador em que vive. O tempo da natureza, com a colheita se aproximando, acompanha o tempo da protagonista, que também vê sua barriga crescer e precisa lidar com o julgamento social. Como escreve Maria Ellen Vasconcellos, “em tempos de gritos de ofensa e correntes ‘à favor da vida’ em porta de hospital, onde uma menina grávida por estupro é operada, o romance nos traz a perspectiva da vítima, que, com a voz possível, nos emociona enquanto busca, nos detalhes do cotidiano, um respiro, uma distração para a ternura”.
Após ser apresentada ao leitor brasileiro com Eisejuaz, pela editora Relicário, o primeiro romance da autora argentina chega ao país. Publicado nos anos 1960, Janeiro traz o retrato de uma pacata comunidade ao norte da Argentina, onde camponeses trabalham a terra e cuidam dos animais. Nefer, a protagonista, é uma adolescente de 16 anos que, após ser violentada, está grávida e não sabe como lidar com essa situação no meio rural conservador em que vive. O tempo da natureza, com a colheita se aproximando, acompanha o tempo da protagonista, que também vê sua barriga crescer e precisa lidar com o julgamento social. Como escreve Maria Ellen Vasconcellos, “em tempos de gritos de ofensa e correntes ‘à favor da vida’ em porta de hospital, onde uma menina grávida por estupro é operada, o romance nos traz a perspectiva da vítima, que, com a voz possível, nos emociona enquanto busca, nos detalhes do cotidiano, um respiro, uma distração para a ternura”.
 Racismo, misoginia e violência são alguns dos temas que perpassam o romance policial da autora estadunidense. Em uma espécie de thriller feminista ambientado nos Estados Unidos da década de 1940, a dona de casa Lucia Holley tem problemas com o namorado da filha: um homem de 35 anos, casado e com comportamentos suspeitos. Quando ele aparece morto na lancha dos Holley, Lucia tenta esconder seu corpo para manter a fachada da família de classe-média. A dificuldade de executar essa tarefa, com um detetive que investiga o caso e pessoas tentando extorquir a dona de casa, desencadeia a trama. Raymond Chandler, um dos mestres da narrativa policial, considerava a obra de Elisabeth Holding como uma das mais consistentes do gênero, e classificou Fachada como sua obra-prima.
Racismo, misoginia e violência são alguns dos temas que perpassam o romance policial da autora estadunidense. Em uma espécie de thriller feminista ambientado nos Estados Unidos da década de 1940, a dona de casa Lucia Holley tem problemas com o namorado da filha: um homem de 35 anos, casado e com comportamentos suspeitos. Quando ele aparece morto na lancha dos Holley, Lucia tenta esconder seu corpo para manter a fachada da família de classe-média. A dificuldade de executar essa tarefa, com um detetive que investiga o caso e pessoas tentando extorquir a dona de casa, desencadeia a trama. Raymond Chandler, um dos mestres da narrativa policial, considerava a obra de Elisabeth Holding como uma das mais consistentes do gênero, e classificou Fachada como sua obra-prima.
[não ficção]
 Verbete que o pensador marxista francês escreveu em 1987, sobre a palavra “abolir”, para a Encyclopédie des Nuisances, publicada em 15 fascículos entre novembro de 1984 e abril de 1992. A publicação seguia os pressupostos do movimento Internacional Situacionista, que buscava a convergência entre o movimento vanguardista de misturar arte e vida, e a teoria e prática revolucionária marxista. Nesse sentido, pode-se ler em Abolir que “a separação trabalho-lazer foi derrotada quando o trabalho se tornou tão massivamente improdutivo e inepto, e o lazer se tornou uma atividade econômica tediosa e fatigante. As desigualdades diante da cultura foram abolidas em praticamente toda parte e para quase todo mundo com o novo analfabetismo”. A edição conta com um posfácio de Erick Corrêa, doutor em Ciências Sociais.
Verbete que o pensador marxista francês escreveu em 1987, sobre a palavra “abolir”, para a Encyclopédie des Nuisances, publicada em 15 fascículos entre novembro de 1984 e abril de 1992. A publicação seguia os pressupostos do movimento Internacional Situacionista, que buscava a convergência entre o movimento vanguardista de misturar arte e vida, e a teoria e prática revolucionária marxista. Nesse sentido, pode-se ler em Abolir que “a separação trabalho-lazer foi derrotada quando o trabalho se tornou tão massivamente improdutivo e inepto, e o lazer se tornou uma atividade econômica tediosa e fatigante. As desigualdades diante da cultura foram abolidas em praticamente toda parte e para quase todo mundo com o novo analfabetismo”. A edição conta com um posfácio de Erick Corrêa, doutor em Ciências Sociais.
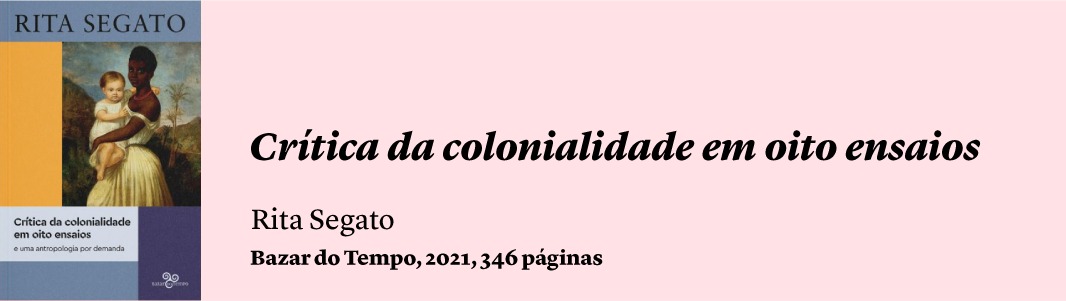
O livro apresenta uma das principais teses da antropóloga e feministas argentina: a antropologia por demanda. Partindo de uma perspectiva crítica sobre a colonialidade do poder, a autora propõe uma prática etnográfica que inverta seus pressupostos históricos: uma etnografia que se coloca a serviço das “demandas” das comunidades e povos que antes eram apenas vistos como seus objetos de estudo. Ao propor essa virada, Rita Segato expõe questões como as hierarquias de gênero e raça e a violência contra a mulher, agravadas pelo processo da “colonial-modernidade”. Por trás de sua perspectiva teórica, está um projeto histórico alternativo, que se defronta com as questões da modernidade para refletir sobre os direitos humanos e colocar valores disfuncionais ao capitalismo.

O isolamento social, aliado à intensificação do uso de tecnologias digitais, promove uma torção dos sentidos, por meio da qual vivencia-se tudo ao redor como próximo ou distante. Essa é a hipótese do livro, que sonda as implicações existenciais e epistêmicas da pandemia do coronavírus. Para o autor, musicólogo e filósofo português, o acontecimento da pandemia não seria o próprio vírus, mas essa mudança na percepção, que implica as formas de reconhecer distâncias, presenças e ausências, espaço e tempo. “Os sentidos que estão sendo torcidos, portanto, não são somente visão, audição, tato, paladar e olfato. São os sentidos pelos quais as coisas ganham, perdem e definem sentidos para nós no mundo em que estamos”, escreve Pedro Duarte no prefácio à obra.
 Primeiro volume dos diários que a escritora inglesa manteve ao longo de 44 anos. A obra percorre o período de 1915 a 1918, quando Virginia Woolf, aos 33 anos, era uma jovem recém-casada e ainda sem nenhuma obra publicada. Quando se iniciam esses diários, a escritora estava se restabelecendo de um colapso mental que sofrera em 1913. Ao longo de suas páginas, Woolf afasta-se da confissão de um diário íntimo, transformando-o em terreno para suas experimentações estilísticas e literárias e, acima de tudo, para registrar tudo o que observa: o mundo, as pessoas e, em especial, a si mesma.
Primeiro volume dos diários que a escritora inglesa manteve ao longo de 44 anos. A obra percorre o período de 1915 a 1918, quando Virginia Woolf, aos 33 anos, era uma jovem recém-casada e ainda sem nenhuma obra publicada. Quando se iniciam esses diários, a escritora estava se restabelecendo de um colapso mental que sofrera em 1913. Ao longo de suas páginas, Woolf afasta-se da confissão de um diário íntimo, transformando-o em terreno para suas experimentações estilísticas e literárias e, acima de tudo, para registrar tudo o que observa: o mundo, as pessoas e, em especial, a si mesma.










