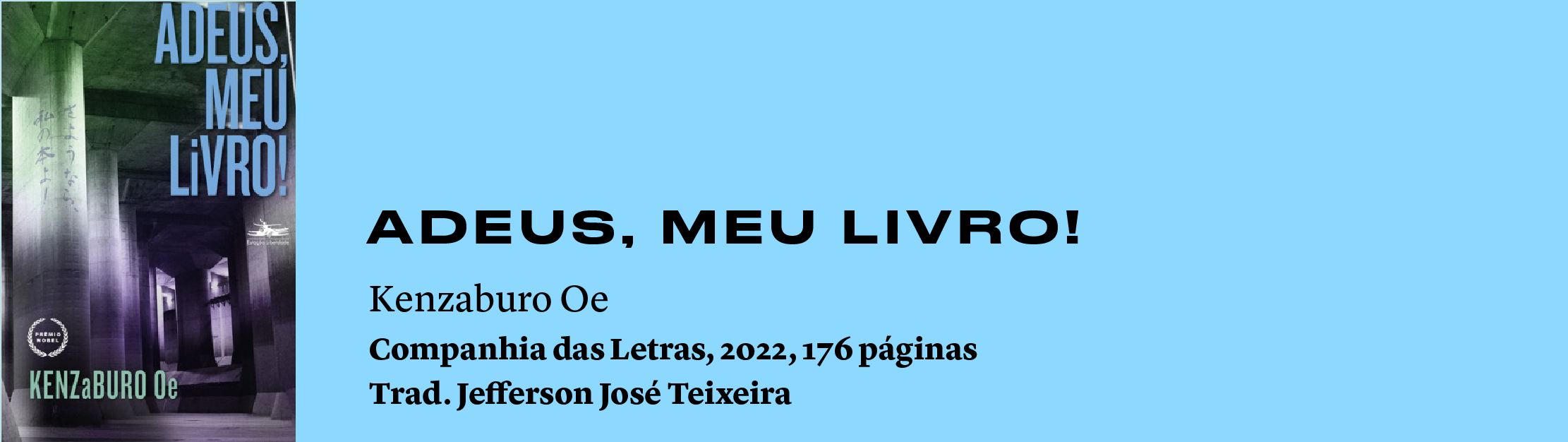Estante Cult | Uma voz no contratempo

.
A mais popular cantora de blues das décadas de 1920 e 1930, a norte-americana Bessie Smith (1894-1937), tem muito a dizer à cultura contemporânea, não somente pela qualidade de seu canto, considerado de uma força e de uma intensidade inigualáveis por inúmeros críticos e músicos, como também pelo modo como viveu, demolindo a série de barreiras normalmente impostas às mulheres negras e, em especial, às mulheres negras que nascem pobres como ela.
Tendo vivido uma fama até então inédita nos meios musicais – muitos lhe atribuem a condição de primeira estrela do show business – que a fez comprar seu próprio vagão de trem Pullman, com o qual fez várias turnês pelos Estados Unidos, Bessie conheceu o ocaso nos últimos anos de sua vida conturbada, no momento em que a era do swing começa a substituir a era do blues e seu estilo vocal passa a ser considerado ultrapassado. Na virada dos anos 1950 para os anos 1960, a indústria fonográfica redescobre Bessie (Dinah Washington grava em 1958 um LP totalmente dedicado a ela e em 1960 Nina Simone lança sua versão de “Nobody knows when you’re down and out”, um grande hit na voz de ambas as cantoras) e, curiosamente, dois outros universos culturais a apresentam às novas gerações – de espectadores de teatro e de amantes da literatura, respectivamente.
Em 1959, Edward Albee escreve A morte de Bessie Smith, que estreia em Berlim Ocidental no ano seguinte. Em 1963, ao lado de outros representes notáveis do blues e do jazz, a “imperatriz” ocupa muitas páginas de O jogo da amarelinha, o romance experimental escrito por Julio Cortázar para quem a literatura é uma espécie de vibração rítmica, cuja musicalidade, segundo as palavras do próprio autor, é comparável “aos solos de Satchmo [Louis Armstrong] em Potato head blues ou ao encontro do canto de Bessie Smith em Baby doll”. Ler a fascinante narrativa de Cortázar ao som da série de canções apresentadas – Bessie Smith e Ma Rainey, sua precursora, vale evidenciar, as raras mulheres presentes na lista – ao longo de seus capítulos dispostos em forma de jogo era uma experiência de pura fruição.
O lançamento no mercado editorial brasileiro do misto de biografia e autobiografia Bessie Smith, da poeta e romancista Jackie Kay (nascida de mãe escocesa e pai nigeriano e adotada por um casal escocês ainda bebê), tem uma dupla finalidade: apresentar ao leitor contemporâneo um perfil biográfico-crítico da cantora cujo primeiro disco vendeu 780 mil cópias em apenas seis meses (um recorde para a época) e tratar do fenômeno Bessie Smith a partir de uma perspectiva muito própria aos tempos que correm, a da afirmação da identidade negra e da vida feminina. “Da vida feminina com fome de expressão”, segundo descreve Jarid Arraes na orelha do livro.
A grande qualidade da narrativa é a interpenetração de vozes entre biógrafa e biografada que, postas uma diante da outra, abolem mitologicamente a separação entre sujeito e objeto, como postula Roland Barthes em O prazer do texto, evocando a máxima de Angelus Silesius: “O olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por onde ele me vê”.
As reflexões poéticas, socioculturais e políticas de Jackie Kay a respeito do talento de Bessie e de seu modo de vida indômito fazem com que a carreira e a trajetória biográfica da imperatriz do blues, no sentido inverso, também levem a autora a rememorar fatos essenciais a sua própria existência – o encontro com Bessie, aos onze anos, como, senão a primeira, ao menos sua mais importante referência negra (“Na minha rua [em Glasgow] e nas ruas vizinhas à Brackenbrae Avenue, nunca vi outra pessoa negra. O açougueiro, o padeiro e o fabricante de velas eram todos brancos”) – e a analisar como a sexualidade libertária da artista e seu mergulho radical em um estilo por meio do qual as cantoras davam conselhos revolucionários às mulheres, e não conselhos sentimentais, podem ser entendidos à luz de hoje, ecoando a máxima de Toni Morrison para quem “todo o futuro está no passado”. Ou seja, Jackie Kay e Bessie Smith se iluminam reciprocamente.
Publicado originalmente em 1997 e relançado na Europa em 2021, em edição revista e acrescida de um texto de apresentação, o livro não se dispõe a concorrer com a caudalosa biografia de Bessie Smith (Bessie) lançada por Chris Albertson em 1971. Não há pesquisa que divulgue fatos novos ou entrevistas que revelem uma faceta insuspeita da mitológica blues woman.
Jackie Key se deixa conduzir por um conjunto de informações até mesmo bastante sintéticas a respeito da artista – em cuja lápide está escrito “A maior cantora de blues do mundo nunca parará de cantar” – para deixá-las serem atravessadas por muito afeto, muito lirismo e muita imaginação. A bem dizer, imaginação pública, a matéria que parece cada vez mais escassa no mundo da arte (e por que não dizer também no da política?) nos dias atuais.
Seja recontando o episódio em que Bessie Smith brigou sozinha com membros da Ku Klux Klan, seja recuperando o dado precioso (observado por Albert Murray) de que nas suas 160 gravações a preocupação maior da cantora é denunciar “o amor descuidado de homens irritantes, amantes que maltratam, cafajestes desonestos e molestadores”, Jackie Key constrói a imagem de uma Bessie de outrora cuja voz em direção ao aqui-agora ainda tem muito a reverberar.
Em oposição à sexualidade publicizada dos corpos vendidos hoje pela indústria cultural e à irrupção do que seja mais conservador e retrógrado na esfera da cultura artística (um rapper, por exemplo, fazer discursos antissemitas e neonazistas), a figura de Bessie Smith apontará sempre para a vocação de uma arte, de uma educação e de uma cultura verdadeiramente humanistas: contestar os valores vigentes e colocar o dedo na ferida do que não tem conserto, mas um dia, quem sabe, terá.
“Bessie Smith é o antídoto perfeito para esses tempos. Ela não mente. A voz dela ainda é autêntica. As histórias dela parecem ainda mais urgentes”, afirma Jackie Kay a respeito da personagem por quem nutre uma intensa afeição. Assim como a poeta e romancista escocesa obteve seu processo de letramento racial por meio da voz de Bessie Smith, outras leitoras e leitores contemporâneos poderão fazer o mesmo. O canto da “maior de todas”, segundo Alberta Hunter, ainda ecoa. Não somente na memória, mas também em nossa prontidão para fazer com que “Let it bleed” seja somente uma imagem poética. Nada mais.

ESTANTE CULT | NOTAS
Paulo Henrique Pompermaier
Povoados de junkies, alcoólatras e ladrões, os onze contos de Filho de Jesus retratam uma América do Norte fria e cruel. Enfermeiras viciadas em um pronto-socorro, internos em um hospital a falar sobre o barato com antipsicóticos, ladrões de casas arruinadas, bêbados e drogados a bordo de carros sem rumo pela noite: por meio dessas histórias, como nota Joca Reiners Terron na orelha da obra, Denis Johnson revela o outro lado da contracultura beatnik, em que as drogas não são mais a promessa de libertação, mas a prisão na qual os personagens se debatem em meio à “grande lástima que era a vida de uma pessoa neste mundo”, como nota o protagonista do primeiro conto, “Desastre de carro no meio da carona”. Em seu título, o livro originalmente publicado em 1992 faz referência à música “Heroin”, composta por Lou Reed: “When I’m rushing on my run/ And I feel just like Jesus’ Son…”.
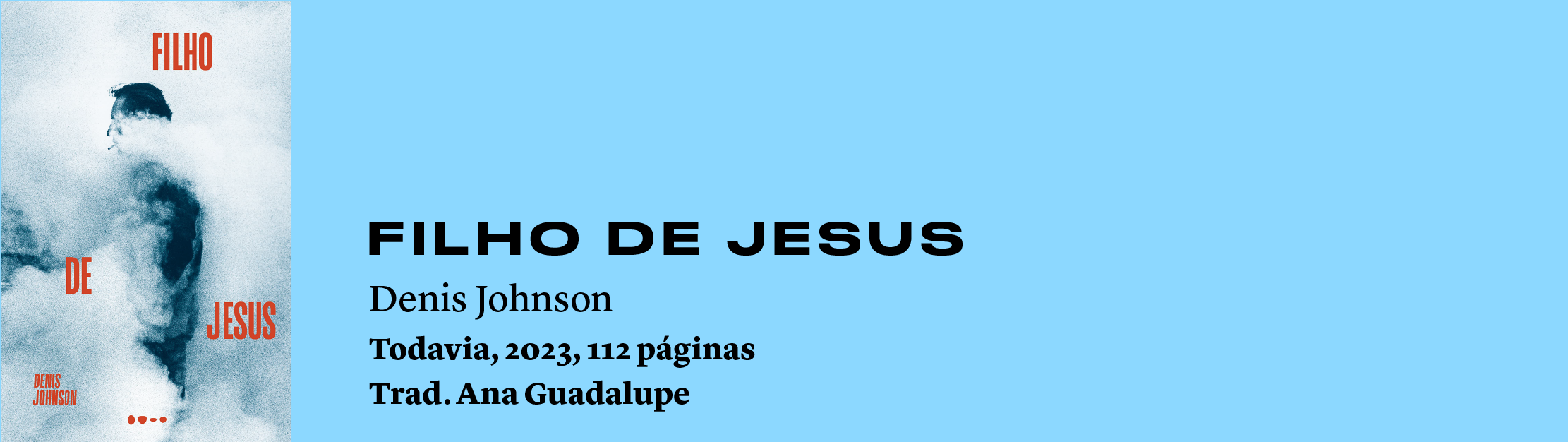
Ao traçar um inédito panorama da atuação das mulheres na economia, Hélène Périvier situa o lugar da mulher na história do pensamento econômico, indo de encontro à ideia de que a economia é uma disciplina predominantemente masculina. Nesse sentido, recupera pensadoras pioneiras na virada do século 18 para o 19, como Jane Marcet, Harriet Martineau, Flora Tristan e Harriet Taylor, até importantes economistas contemporâneas, como Margaret Reid, Joan Robinson, Elinor Ostrom e Esther Duflo (as duas últimas, inclusive, vencedoras do prêmio Nobel de Economia, em 2009 e 2019, respectivamente). Além de reavaliar essas trajetórias, a autora desvela o cientificismo da economia, que reveste seu funcionamento patriarcal, e aponta para a necessidade de pensar em uma “economia política”, “consciente da pluralidade das escolhas políticas e dos modos de organização que se oferecem às sociedades”, segundo Thomas Piketty no prefácio da obra.

Na mitologia grega, as Hespérides eram ninfas primaveris, descendentes de Atlas, que habitavam o Jardim das Hespérides, paraíso que encerrava a árvore dos pomos de ouro. Um dragão protegia a árvore até ser morto por Hércules para cumprir seu 12º trabalho. Ao estudar a percepção do mundo natural em relação com a colonização de Minas Gerais no século 18, a historiadora Laura de Mello e Souza tensiona os dois lados do mito das Hespérides. De um lado, o encanto e o temor do colonizador diante da natureza mineira davam àquela terra os ares de um paraíso grego, como registrou Diogo de Vasconcelos na frase que serve de epígrafe da obra. De outro, o trabalho de Hércules, após matar o guardião do jardim e colher os frutos auríferos, representa a vitória do mundo civilizado sobre o pensamento mítico, mimetizando a própria destruição de Minas diante do empreendimento colonial. Assentado sobre fontes primárias, tanto visuais como escritas, o estudo de Laura de Mello e Souza parte dessas diferentes nuances para pensar as dimensões mítica, trágica, prática e afetiva que se cruzam na formação sociocultural de Minas Gerais em contração com sua natureza.

Dando continuidade à trilogia dos anos maduros do escritor japonês Kenzaburo Oe, Adeus, meu livro! traz o protagonista Kogito Choko, alter ego do autor, em um momento de convalescimento e às voltas com a realidade de envelhecer. A velhice, inclusive, é tematizada nas três partes do livro, cujos títulos são extraídos de poemas de T. S. Elliot: primeiro sobre o “delírio dos velhos”, depois sobre a “língua de fogo” dos que morreram e, por fim, sobre o paroxismo da velhice imóvel que, todavia, precisa se mover. Tal jogo de duplos, aliás, espelha-se ao longo de toda a obra: na relação com o amigo de infância Shigeru Tsubaki, com quem Choko vai morar após a alta hospitalar; entre Ocidente e Oriente e, em última instância, entre a vida e a morte. Nesse entremeio, Oe reflete sobre literatura, arquitetura, cinema, música, política, guerras, suicídio, relações familiares e a posição de um Japão em crescentes modernização e abertura para o mundo.