Da leveza e da amargura: “A piada judaica”, de Devorah Baum, e outros lançamentos

“Você já deve ter ouvido falar que, onde houver dois judeus, haverá também três opiniões.” Essa é certamente uma piada, mas é também o que escreve Devorah Baum, professora de Literatura Inglesa e Teoria Crítica da Universidade de Southampton, inaugurando um dos primeiros capítulos de seu livro, A piada judaica, que chega ao Brasil publicado pela Âyiné, em tradução de Pedro Sette-Câmara.
A piada, o chiste, a frase irônica e sagaz são breves, brevíssimas tipologias narrativas que antes de tudo se estabelecem na oralidade e só depois na escrita; são próprias de todas as culturas, todos os tempos e todas as línguas — seria possível um mundo, qualquer mundo, sem humor? —, mas ocupam um lugar de destaque na tradição judaica, nas representações que os não judeus fazem dos judeus, e que eles fazem de si mesmos.
“O que é essencialmente judeu? É estar em conflito consigo mesmo. É orgulhar-se de ser diferente e sentir-se envergonhado disso ao mesmo tempo.” O retrato que Baum fornece do judaísmo, ou, melhor dizendo, dos judaísmos, é sutil e irônico, flagrando uma natureza dupla, até múltipla, dizendo muito não só a respeito dos traços que, em geral, caracterizam o mundo judaico, mas das diversas formas de habitá-lo. Em A piada judaica lemos sobre os judeus humildes provenientes do shtetl (o vilarejo do leste europeu), mas também sobre os judeus dos grandes centros urbanos, que assimilaram os costumes ocidentais; nos retratos individuais reconhecemos as marcas de um judaísmo plural, homogêneo só nas aparências.
A história da piada judaica é também uma história de diálogos entre culturas: atribuído em sua acepção mais genérica às diversas manifestações do judaísmo — suas raízes se encontram, de fato, já no texto bíblico e no Talmude —, o tipo de humor identificado como “humor judaico” se desenvolve sobretudo dentro da cultura dos asquenazes, ou seja, daqueles judeus que originariamente habitavam os territórios do leste europeu, como Rússia e Polônia, e que agora se encontram espalhados pelo mundo. É um humor profundamente influenciado pela prosa russa do século 19, sem a qual não teria empreendido seu caminho singular.
Já a partir do final do século 19, e durante os anos da Segunda Guerra Mundial, os judeus desses territórios emigraram para outras regiões (para os centros urbanos europeus, para os Estados Unidos e a América Latina), levando consigo esse grande patrimônio cuja originalidade não demoraria em ser notada: a tradição do humor asquenaze, e judaico lato sensu, começou a envolver também os países ocidentais, tornado-se progressivamente mais presente nos diversos ramos da indústria cultural: nos Estados Unidos, basta pensar na stand-up comedy dos anos 1950 e 1960, no cinema e na literatura — Woody Allen e Philip Roth são célebres exemplos.
Com seu livro, Baum fornece uma antologia, breve e bem pensada, que reúne diversas tipologias de piada, cutucando a curiosidade do leitor e da leitora já no começo do livro: “Qual a diferença entre um schlemiel e um schlimazel?”, “Qual a diferença entre a moralidade e a neurose?”, ou “Qual a diferença entre uma mãe judia e uma sogra judia?”, são alguns dos títulos que abrem os capítulos, falando das diversas formas de ver e pensar as próprias experiências e as dos outros, tendo em comum essa capacidade de rir diante da dificuldade, do imprevisto, de si mesmos.
Algumas piadas são fruto de uma transmissão popular, outras são frases pronunciadas por personagens famosos, como Groucho Marx, que disse “São estes os meus princípios! Se você não gostar, tenho outros”, apontando para certo caráter camaleônico que os judeus têm fama de possuir (como não se lembrar de Zelig!), sobretudo a respeito dos negócios.
Certos episódios remetem à tradição do estudo, e, no específico, à literatura rabínica, surgida para ler e discutir o texto bíblico, interessada muito mais nas perguntas do que nas respostas; é a essa mesma literatura que remetem o duplo e o múltiplo, o que nunca termina de ser lido e interpretado.
Ao longo do livro nos deparamos com palavras em iídiche que entraram no uso da língua inglesa, resgatando o humor em sua matriz linguística: kvetch é uma delas, que significa literalmente “esmagar” ou “apertar”, e tem o sentido figurado de “reclamar”, sobretudo de algo pouco importante: atividade favorita das mães e das sogras judias, como nos conta a autora em seu livro.
Além de refletir sobre a língua e o uso de certas palavras — outros termos que integram esse pequeno dicionário iídiche são schlemiel, schlimazel, schmuck, schmendrick, todos dentro da semântica do “tolo”, do “estúpido” e do “desastrado” —, Baum reflete também sobre o poder do cômico, que, em diversos casos, se torna a linguagem mais adequada para falar de assuntos trágicos, constituindo o gênero que melhor se aproxima da representação do absurdo, do impossível, do indizível.
Assim, o humor se revela um instrumento precioso para destravar certos mecanismos de pensamento e ação: move águas estagnadas, permite sair de maneira elegante de situações incômodas que oprimem, apresenta “o outro lado”, ou, melhor dizendo, “os outros lados”, apontando para novas perspectivas que requerem outra percepção. “Que os judeus que conseguem ver o lado positivo das más notícias também vejam o lado negativo das boas notícias explica o delicioso despeito contraintuitivo que há em típicas maldições iídiches”, brinca a autora, observando a alternância entre ironia e pessimismo, leveza e neurose, sugerindo que, para aprender com todas as situações, basta saber enxergar.
E quando o pessimismo e a neurose aparecem, entra em cena a “mãe judia”, consagrada na tradição popular com o estereótipo da yiddishe mama, intrometida e controladora:
“O que é um suéter judaico? É uma roupa de lã que o filho usa quando a mãe está com frio.”
Ou:
“Um garotinho judeu está contando à mãe que vai fazer um papel na peça da escola. A mãe pergunta: ‘Qual papel você vai fazer, Saul?’. Saul responde: ‘Vou fazer o marido judeu’. A mãe responde: ‘Ora! Vá falar agora mesmo com essa professora e diga a ela que você quer um papel com falas!’”.
Efeito dessa presença persistente e inevitável — a mãe judia, representada no estereótipo como “castradora”, “mártir de si mesma” e “indutora de culpa” —, seriam as inúmeras desgraças psicanalíticas que o filho teria de enfrentar, por exemplo:
“Mãe 1: Meu filho me ama muito – está sempre me comprando presentes.
Mãe 2: Meu filho me ama muito – está sempre me levando para viajar.
Mãe judia: Isso não é nada. Meu filho me ama tanto que vai ver um médico especial cinco vezes por semana só para falar de mim.”
E outra, mais inclinada para a paranoia-hipocondria:
“Um inglês, um escocês e um judeu estão sentados no banco de um parque.
O inglês diz: ‘Estou tão cansado, com tanta sede, que preciso de uma cerveja.’
O escocês diz: ‘Estou tão cansado, com tanta sede, que preciso de um uísque.’
O judeu diz: ‘Estou tão cansado, com tanta sede, que devo ter diabetes.’”
A autoironia, quando é feita com honestidade e inteligência, além de perspicácia, requer profunda introspecção: só olhando para as nossas falhas poderemos gerar e entender o riso, tornando-o ponto de força e fonte de renovação.
“Você sabia que foram os judeus que afundaram o Titanic?”
“Os judeus? Achei que tinha sido um iceberg.”
“Iceberg, Goldenberg, Rosenberg, é tudo a mesma coisa.”
Jogos de palavras convidam ao riso por sua imediatez e sua comicidade intrínseca, que não reside no conteúdo apenas, mas também na forma. Diante dessa associação de sobrenomes, esdrúxula e hilariante, quase nos esquecemos da extrema facilidade que se tem de representar o outro, o estranho, o estrangeiro, o diferente, como parte de uma entidade informe, toda igual, toda a mesma coisa.
A piada judaica, ensaio variado em suas abordagens, amplia seu espectro falando também da disparidade entre comediantes homens e mulheres, judeus e judias, que foi asperizada, durante muito tempo, pela misoginia e pelas convenções sociais. A autora mostra a originalidade de certas comediantes que conquistam sua plateia não se limitando a inverter os papéis preestabelecidos: elas põem em discussão a linguagem do humor, judaico e não judaico, que é historicamente prerrogativa masculina.
E Baum dedica uma parte do livro também aos judeus israelenses, ironizando seus hábitos e modos, considerando as diversas formas de judaísmo: o diaspórico, sinônimo de diferença e convivência, e o do estado nacional. A ironia sombria dos asquenazes chegou aos israelenses judeus, e deles passou aos israelenses palestinos: Sayed Kashua, como diz a autora, é escritor e humorista palestino-israelense, “cujos romances lembram Kafka, e cuja série de humor israelense, Arab Labour, é em parte inspirada em Seinfeld”.
Baum entende bem o poder da palavra e do riso, e sabe que o humor, em muitos casos, não é apenas uma escolha, mas uma necessidade; reconhece a complexidade escondida de trás da simples ironia, que, junto com os lapsos linguísticos e os sonhos, revela o aspecto íntimo que queremos resguardar: a piada se torna lembrete de um ser humano imperfeito e falho, distante das figuras heroicas, e o riso, mesmo que por um instante, exorciza, liberta, veste de leveza.
Abraçando contradições e ambiguidades, expondo dores e fraturas, o exercício do humor flagra o ser humano em sua fragilidade e inconsistência, lembrando-nos da importância de ver “o outro lado” e do perigo de todo absolutismo: medo se deve ter do que não muda, e não do inesperado.
Valentina Cantori é pesquisadora, tradutora e performer. Doutora em Letras pela Universidade de Macerata e pela Universidade Hebraica de Jerusalém, desenvolveu na USP um projeto de pós-doutorado sobre literatura italiana e judaísmo.
[ficção]
por Redação
 Um dia de agosto de 1982, durante a invasão israelense ao Líbano e o cerco a Beirute, é o ponto de partida para a narrativa do poeta palestino Mahmud Darwich, sua terceira obra publicada no Brasil pela Tabla. Assim como em Da presença da ausência, aqui o escritor alia a prosa à narrativa, a esfera política à pessoal. A invasão israelense, nessa chave, não é apreendida apenas do ponto de vista político (sempre presente), mas espraia-se às memórias pessoais do narrador e sua subjetividade. O significado do exílio, o papel do escritor em tempos de guerra e o lugar do amor são tópicos pelos quais o sujeito poético percorre enquanto as bombas caem sobre Beirute e o ar é cortado pelo barulho dos aviões.
Um dia de agosto de 1982, durante a invasão israelense ao Líbano e o cerco a Beirute, é o ponto de partida para a narrativa do poeta palestino Mahmud Darwich, sua terceira obra publicada no Brasil pela Tabla. Assim como em Da presença da ausência, aqui o escritor alia a prosa à narrativa, a esfera política à pessoal. A invasão israelense, nessa chave, não é apreendida apenas do ponto de vista político (sempre presente), mas espraia-se às memórias pessoais do narrador e sua subjetividade. O significado do exílio, o papel do escritor em tempos de guerra e o lugar do amor são tópicos pelos quais o sujeito poético percorre enquanto as bombas caem sobre Beirute e o ar é cortado pelo barulho dos aviões.
 Recriação moderna do mito de Gerião, o monstro vermelho ao qual Héracles deveria matar para cumprir um de seus doze trabalhos. Em sua versão moderna, a helenista canadense baseia-se em um poema de Estesícoro para transformar Gerião em um menino sensível que, durante seu amadurecimento, passa por uma turbulenta relação amorosa com Héracles. Além de seu romance em versos, a edição traz um texto sobre Estesícoro, fragmentos de seu poema, testemunhos sobre o poeta e uma discussão sobre seu “cegamento por Helena”. Nas epígrafes do livro, de Gertrude Stein e Emily Dickinson, Anne Carson já deixa entrever ao leitor sua inspiração moderna que rompe os gêneros literários e suas fronteiras.
Recriação moderna do mito de Gerião, o monstro vermelho ao qual Héracles deveria matar para cumprir um de seus doze trabalhos. Em sua versão moderna, a helenista canadense baseia-se em um poema de Estesícoro para transformar Gerião em um menino sensível que, durante seu amadurecimento, passa por uma turbulenta relação amorosa com Héracles. Além de seu romance em versos, a edição traz um texto sobre Estesícoro, fragmentos de seu poema, testemunhos sobre o poeta e uma discussão sobre seu “cegamento por Helena”. Nas epígrafes do livro, de Gertrude Stein e Emily Dickinson, Anne Carson já deixa entrever ao leitor sua inspiração moderna que rompe os gêneros literários e suas fronteiras.
 Terceiro livro de poemas da poeta carioca, o livro foi concebido durante a pandemia de Covid-19 para refletir a solidão e o medo provocados pelo isolamento social. Como escreve Bruna Mitrano na apresentação à obra, “Milena Martins Moura coloca diante de nossos olhos aquilo que é pouco notado, os ‘detalhes do cenário’ (que aqui não são mais mera distração), expondo o invisibilizado ao repercorrer o caminho mesmo que fez daquilo invisível, dessa vez para denunciar as várias possibilidades de apagamento, sob a perspectiva de quem ficou do lado de lá, a porta fechada: ‘olhar o cânone pela fechadura’ e ir dormir”.
Terceiro livro de poemas da poeta carioca, o livro foi concebido durante a pandemia de Covid-19 para refletir a solidão e o medo provocados pelo isolamento social. Como escreve Bruna Mitrano na apresentação à obra, “Milena Martins Moura coloca diante de nossos olhos aquilo que é pouco notado, os ‘detalhes do cenário’ (que aqui não são mais mera distração), expondo o invisibilizado ao repercorrer o caminho mesmo que fez daquilo invisível, dessa vez para denunciar as várias possibilidades de apagamento, sob a perspectiva de quem ficou do lado de lá, a porta fechada: ‘olhar o cânone pela fechadura’ e ir dormir”.
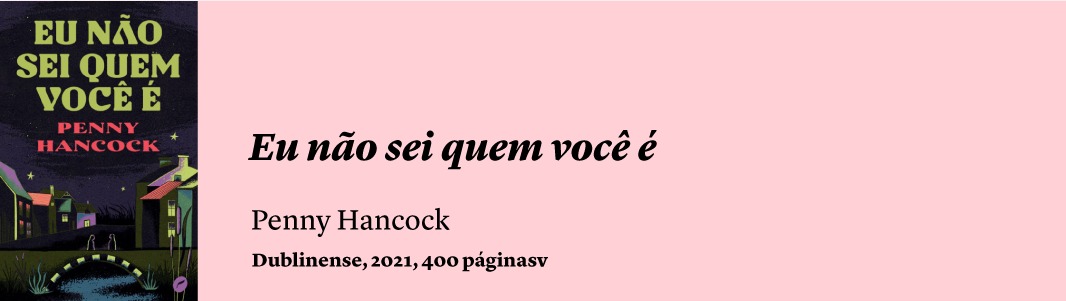 A narrativa da escritora britânica centra-se na amizade de duas amigas que, diante de uma grave acusação, vê-se abalada em sua estrutura. Jules e Holly são amigas inseparáveis desde os tempos da faculdade: compartilharam o luto pela morte do marido de Holly, que por sua vez é a única que sabe do caso amoroso de Jules. Os filhos delas, com apenas três anos de diferença, também cresceram próximos. Quando a filha de Jules acusa o filho de Holly de ter cometido um crime hediondo, no entanto, a amizade se estremece: Holly não consegue acusar o próprio filho e, assim, balança-se a amizade e a certeza se a verdade está com a vítima ou com o acusado.
A narrativa da escritora britânica centra-se na amizade de duas amigas que, diante de uma grave acusação, vê-se abalada em sua estrutura. Jules e Holly são amigas inseparáveis desde os tempos da faculdade: compartilharam o luto pela morte do marido de Holly, que por sua vez é a única que sabe do caso amoroso de Jules. Os filhos delas, com apenas três anos de diferença, também cresceram próximos. Quando a filha de Jules acusa o filho de Holly de ter cometido um crime hediondo, no entanto, a amizade se estremece: Holly não consegue acusar o próprio filho e, assim, balança-se a amizade e a certeza se a verdade está com a vítima ou com o acusado.
[não ficção]
 Arquiteto, urbanista e acadêmico da APL, Benedito Lima de Toledo dedicou sua última obra ao Mosteiro da Luz, uma das mais importantes construções coloniais do século 18 no Estado de São Paulo. Além de falar sobre as características arquitetônicas do Mosteiro e sua história, o autor explora o contexto da construção: o cotidiano da cidade no período colonial e sua relação com o Mosteiro, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra de São Paulo. O livro conta também com uma narrativa fotográfica de Maíra Acayaba, focada na história das freiras que, durante gerações, permaneceram isoladas do mundo em clausura para orações e caridades.
Arquiteto, urbanista e acadêmico da APL, Benedito Lima de Toledo dedicou sua última obra ao Mosteiro da Luz, uma das mais importantes construções coloniais do século 18 no Estado de São Paulo. Além de falar sobre as características arquitetônicas do Mosteiro e sua história, o autor explora o contexto da construção: o cotidiano da cidade no período colonial e sua relação com o Mosteiro, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra de São Paulo. O livro conta também com uma narrativa fotográfica de Maíra Acayaba, focada na história das freiras que, durante gerações, permaneceram isoladas do mundo em clausura para orações e caridades.
 Panorama histórico e social sobre o trabalho doméstico no Brasil. Com aporte teórico, entrevistas e relatos de mulheres que exercem a profissão no país, a autora mostra como essa atividade ainda vincula-se fortemente às origens históricas escravocratas do Brasil, apontando para a necessária regulamentação da atividade e a importância de pensá-la a partir da interseccionalidade. Filha de trabalhadora doméstica, a autora aliou sua biografia à pesquisa para o doutorado em Administração. Como afirma Luiza Batista Pereira na orelha do livro, “as conquistas legais ainda não nos garantiram o cumprimento dos direitos como cidadãs e cidadãos. A informalidade do trabalho doméstico é ainda muito alta. Por isso, nossa luta é constante e contínua para sermos respeitadas, e reconhecidas”.
Panorama histórico e social sobre o trabalho doméstico no Brasil. Com aporte teórico, entrevistas e relatos de mulheres que exercem a profissão no país, a autora mostra como essa atividade ainda vincula-se fortemente às origens históricas escravocratas do Brasil, apontando para a necessária regulamentação da atividade e a importância de pensá-la a partir da interseccionalidade. Filha de trabalhadora doméstica, a autora aliou sua biografia à pesquisa para o doutorado em Administração. Como afirma Luiza Batista Pereira na orelha do livro, “as conquistas legais ainda não nos garantiram o cumprimento dos direitos como cidadãs e cidadãos. A informalidade do trabalho doméstico é ainda muito alta. Por isso, nossa luta é constante e contínua para sermos respeitadas, e reconhecidas”.
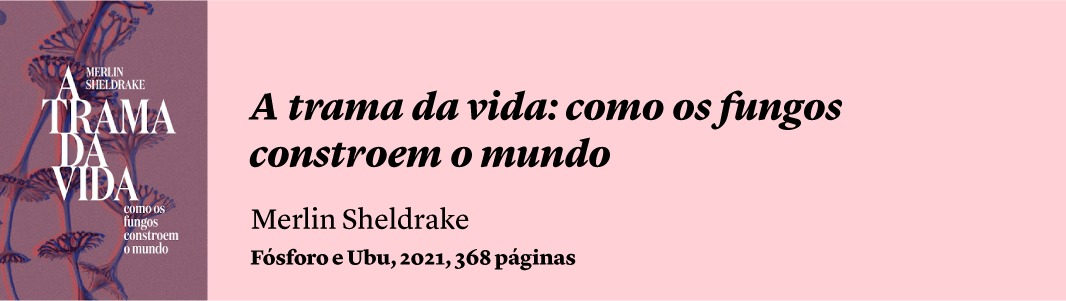 Obcecado pelos fungos desde a infância, o biólogo inglês Merlin Sheldrake fala sobre a importância deles para o funcionamento do mundo e sua manutenção tal qual o conhecemos em sua obra. Em uma diversidade que contempla mais de dois milhões de espécimes, os fungos têm um funcionamento próprio que desafiam noções tradicionais como individualidade e inteligência. Além do fascínio da pesquisa de Sheldrake, subjaz ao livro a questão sobre o futuro da humanidade na Terra: talvez nos fungos esteja uma saída para repensar o lugar das pessoas no planeta e contornar a insustentável crise climática que faz se agravar. Como diz a escritora canadense Margaret Atwood, “sabe o desespero sobre o futuro da vida na Terra? Não há com que se preocupar, teremos fungos, de um jeito ou de outro”.
Obcecado pelos fungos desde a infância, o biólogo inglês Merlin Sheldrake fala sobre a importância deles para o funcionamento do mundo e sua manutenção tal qual o conhecemos em sua obra. Em uma diversidade que contempla mais de dois milhões de espécimes, os fungos têm um funcionamento próprio que desafiam noções tradicionais como individualidade e inteligência. Além do fascínio da pesquisa de Sheldrake, subjaz ao livro a questão sobre o futuro da humanidade na Terra: talvez nos fungos esteja uma saída para repensar o lugar das pessoas no planeta e contornar a insustentável crise climática que faz se agravar. Como diz a escritora canadense Margaret Atwood, “sabe o desespero sobre o futuro da vida na Terra? Não há com que se preocupar, teremos fungos, de um jeito ou de outro”.










