No baú da desmemória, escutar o romance: “A libertação de Laura”, de Helena Zelic, e outros lançamentos

Abrir A libertação de Laura, desde as primeiras páginas que antecedem os poemas, é abrir um baú, um arquivo. O livro começa com fotografias, anúncios de revelação de fotografias e, sobretudo, com negativos, muitos negativos. Depois, um recorte: um anúncio de vinil, inscrições em árabe (enigmas, vestígios arqueológicos não decifrados), dois cantores árabes, pelo que parece, um homem e uma mulher, um endereço de uma avenida em São Paulo, uma distribuidora… Na página seguinte, a dedicatória: “para meu pai”. Na página das epígrafes, encontramos Luiz Tatit (“[…] alguém cantando é sempre alguém dizendo, e dizer é sempre aqui e agora”), Gregório de Matos na voz de Zé Miguel Wisnik (na rima “[…] loucura… cura… / […] sagrada… agrada”), e Itamar Assumpção (“Quando você menos espera/ Ela chega/ Fazendo do teu coração/ O que bem ela fizer”), dando o tom disso que chega à revelia, sem ser convidado, e se hospeda, intruso, fazendo do corpo alheio um lugar para habitar. Não seria isso o amor?
Depois, mais negativos de fotografias, um deles rasgado. Onde se inscreve o enigma? No rasgo que corta e aproxima? Depois do pai (e não antes), o bisavô, Jamil Mattar, ocupa o lugar de começo, de antes do começo, com sua voz na epígrafe ao primeiro poema do livro. Na voz do bisavô, uma prece, uma súplica, um pedido de retorno à pátria, ao lugar de origem. E então, o primeiro poema do livro, “Amor Secreto”. Logo no início, lemos: “minha avó encara mariana intrigada/ pergunta seu nome como todo dia/ maria e ana, a mãe, a avó de jesus/ segura suas mãos tão orgulhosa/ você é muito bonita, diz sem saber”; “diz sem saber/ de onde veio mariana e como/ entrou na história”. Como o amor entre duas mulheres entrou na história?
“[L]aura habuki não existe”, nos diz o primeiro poema; “laura habuki um mistério/ tocado há oitenta anos/ nas cordas escondidas do piano”. De trás para frente, os grandes se achican (diria Tamara Kamenszain em Libros chiquitos), como dizem os versos do segundo poema de Helena Zelic, intitulado “Aos Noventa”: “salua/ aos noventa/ anda menor/ cada vez menor/ logo caberá na palma/ da minha mão/ o curioso caso/ de benjamim button”. Na tragédia da memória, a sobrevivência dos dedos que leem partituras, que as sabem de cor, como numa memória muscular (“salua não sabe/ que dia é hoje/ mas sabe tocar/ uma série de hinos/ e sabe de cor/ a canção ancestral/ de laura habuki”). De trás para frente, ao revés, do avesso da genealogia, teria a avó de Helena herdado de Helena, a neta, o amor secreto – por uma mulher? “[U]ma vez tive um amor/ secreto”, diz o poema “Amor Secreto”.
“[…] laura é o nome/ da minha tia e da canção árabe/ que cantava minha avó”, lemos no poema “O Acaso”. Antes disso, em “Partes”, lemos que “por parte de mãe/ tenho uma tia chamada laura/ minha avó por parte de pai/ as associa em serenata”. Laura, que vem por parte de mãe, vem também por parte de pai na associação que a avó paterna faz de Laura, a tia, com Laura, a canção árabe. Por outra parte, Laura é o umbigo do sonho, enigma, sereia, “o pescoço longo cheio de guelras”, como lemos no poema “Travessia”, um relato de um sonho (erótico?) com Laura:
esta noite laura
me invadiu o sonho
destampou os ouvidos
hasteava um estandarte
no topo de um navio
vaziolaura habuki uma mulher linda
o pescoço longo cheio de guelras
e com os gestos das mãos clamava
suba venha comigo
compreender oceanos teceremos
a manta de mil dias
em fios de cobre
até alcançar o leito do rio
onde reside a eternidadeentre nossos pés os peixes
símbolos da sorte
os bons ventos que virão
Se, no começo de tudo, é o umbigo, é o ouvido, porém, que permite cortar o cordão umbilical para nascer de novo: em “Cantigas de Brincar”, a neta soube de cor o refrão “mamãe, mamãezinha”, e a avó propôs um segredo entre avó e neta: “você não quer ser batizada?/ depois você faz catequese/ é muito bom te deixa mais forte/ eu posso te levar/ fica tudo entre nós/ uma coisa de vó e neta”. Mas a neta, “helenita”, foi lá errar o destino e fez da aliança pelo Nome-do-pai uma aliança pelo nome de uma mulher, uma aliança por uma mulher: Laura Habuki. (Sua avó mal soube do segredo, fica aqui entre nós.)
Pedir aos jovens que passem a letra da canção de uma língua para outra (“pede aos jovens que a ajudem/ a passar de uma língua à outra/ uma vez tive um amor/ secreto”) talvez seja uma maneira de tentar traduzir um amor que Salua sabe de cor mas nunca conheceu, mas também talvez seja uma forma de salvar algo que a tragédia da memória faz a avó perguntar para a neta qual é o seu nome. Ela diz: “sou helena”. A cada vez que uma palavra da canção é traduzida, a avó não só tenta traduzir o seu objeto de amor perdido, mas também descobre a neta como se fosse pela primeira vez. Helena, nem árabe nem grega, se torna o enigma da avó: “salua não lembra/ meu nome o mesmo/ da irmã mais velha/ já falecida helena/ não foi à escola/ alguém precisava/ cuidar das bocas/ mais novas”.
Helena, que herdou o nome de sua tia-avó, reescreve a história desse nome, faz da herança uma forma de errar o destino: ama Mariana (que não é Maria nem Ana), foi à escola e hoje cuida das bocas mais velhas deslocando o que chega do ouvido à mão. Helena também rasurou a herança que chegou pelo seu ouvido, através de sua avó, sobre o significado de seu nome. Abaixo do significado do nome de Salua, “resignação”, Helena escreve a transgressão: “salua sempre me disse/ o nome de helena significa/ tocha fogo paixão de todos os homens// daí cresci/ e dei de amar as mulheres”, lemos no poema chamado “Nomes”. Encontramos essa transgressão também em “Poema em Amã”: “começo com o nome de deus […]/ assim começa o alcorão”; “eu nunca orei a deus”, diz a neta.
[…]
observo a bandeira do país
igual à palestina, somada
a uma estrela de sete pontas
nunca desenhei uma estrela
com tantas pontas, pudera
nunca tentei representar
as sete montanhas de amã
os sete primeiros versos do alcorãosó conheço, e por cima,
os sete pecados capitais
o poema de sete faces
os espelhos de sete anos
as sete vidas de um gato
minha avó levanta todos os dias
tropeça e cai todos os dias
nunca em péo que é o que é
cai em pé e corre deitado?
qual animal anda
pela manhã sobre quatro patas
pela tarde sobre duas patas
pela noite sobre três?
Helena, como Édipo, recorre à esfinge. Ao contrário de Édipo, porém, Helena não responderia “hoi dípous”, Helena diria a palavra “avó”, que duplicaria o enigma e espelharia a esfinge: Laura Habuki, ela mesma a esfinge, deixaria de perguntar “como você me interpreta?” e passaria a perguntar “como eu te interpreto?”. Como Laura Habuki interpreta Helena? Como A libertação de Laura nos interpreta?
Nessa travessia, os sonhos embaralham a genealogia: em “Uma noite com Deus”, a sombra da avó paterna, do pai e da neta se confundem; em “Noites eternas”, a avó se torna a filha do pai, o filho se torna o pai, o pai se torna o avô; forjada no escuro da madrugada, a genealogia fundida desmorona a casa e faz confundir a explosão no escuro do céu com a explosão da matéria que sustenta uma casa: “[…] meu pai se torna jamil/ encarna seu timbre e nina/ o silêncio da noite da filha/ sua mãe/ às duas da manhã/ no psicodrama da sobrevivência/ caem dúbias bigornas/ sobre as telhas da casa/ talvez pedras talvez/ estrelas”. No poema seguinte, “Noites tranquilas”, as pedras desmoronadas do poema anterior reaparecem, mas agora sustentando a infância: “no mapa a casa de pedra/ a infância de zaquia”.
Na tragédia da memória que mais se assemelha a “uma odisseia ao revés”, uma neta busca a avó e, nessa busca, a avó é encontrada enquanto é perdida em seu próprio objeto perdido que, por sua vez, não é senão o objeto central da busca, como a chave do enigma, mas que, ao contrário de oferecer respostas, reduplica cada vez mais o enigma: sonhos e pesadelos da neta e da avó tramam a armadilha da busca da neta que, indo à própria infância para encontrar a avó, se depara com a infância da memória da avó, essa que está com a memória por um fio. Na busca pela história da avó que se torna também um objeto perdido, ou seja, o objeto-causa, objeto de amor, caímos nas tramas de um “Amor Secreto”, em que o que está em jogo é o amor entre duas mulheres: Helena e Mariana espelham Salua e Laura? Laura espelha outro objeto perdido não nomeado de Salua?
No poema chamado “Outra Investigação”, surge a “dorli”, que, no equívoco entre o ouvido e o escrito, não é dorli, é “dorlin”: “durante o sono vovó perguntou/ como está a dorli? faz tempo que não a vejo/ meu pai balança a cabeça/ sussurra – faz que conhece/ respondi que dorli vai bem/ mas nunca ouvi falar em dorli/ ela corrigiu não é dorli/ é dorlin. dorlinnnnn, entendeu?”. Então, os ouvintes da pergunta começaram a buscá-la no Google. Um enigma leva a outro enigma. Buscar a história de uma mulher ajuda a encontrar a história de outra mulher? Mesmo quando essa mulher não existe? Buscar a história de uma mulher que não existe ajuda a encontrar a história de uma mulher que existe? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Tudo isso talvez leve a testemunhar o esquecimento de uma mulher, no duplo sentido que podemos escutar “o esquecimento de uma mulher”.
No poema-arquivo, encontraram uma cidade, um jornal de 1970, “um poema chamado renúncia” que diz “Em vão busquei encontrar-te”, encontraram reportagens sobre o antigo carnaval na cidade, encontraram, no fundo do baú, vestígios da Salua que ainda não era a mãe nem a avó, era uma mulher, a “jovem salua/ malandra das matinês”. Como se um documento puxasse outro, como se um fosse o eco do outro, em camadas sem fim de vestígios arqueológicos, a busca por Dorlin fez encontrar outra Salua, aquela que “pulava tanto carnaval”. Nos traços de Dorlin, traços de Salua, “o nariz grande e adunco”. Uma marca não genética as enlaça. Na triste melodia que podemos escutar nos versos que escrevem as “‘notas de falecimento’” de Dorlin, achadas nessa busca “em um perfil mórbido no facebook”, ecoa “bem baixinho para não acordar ninguém/ não tem laura habuki doris day/ e sim o lento metálico agito/ do pierrô apaixonado/ pela jovem salua/ malandra das matinês”.
“A avistei sob o véu das melodias” é o título de um poema cujo primeiro verso diz: “quando encontrei laura entendi tudo”. Mas como tudo que se avista sob o véu não é desvelado, o entendimento que se encontra quando se encontra Laura é também a tragédia do logos: não há entendimento, só há lacunas: “são muitas lacunas da história/ é duro buscar uma pessoa sem rosto”. Aqui, traduzir um rosto sem rosto é ler, no nome, o amor: “hubun significa amor/ hobouki é o seu amor”. Traduzir Laura Habuki não é chegar a Laura, mas chegar, pelo amor que porta o nome de Laura, a outra mulher: “patino sobre os morfemas/ e se acompanho a canção/ junto ao texto traduzido/ não vejo laura: vejo salua”. Na lacuna da história de Laura Habuki, lemos a história de Salua Mattar, que se entrelaça com outras muitas histórias listadas no poema “Nós que aqui estamos” (que reverbera o filme de Marcelo Masagão, Nós que aqui estamos por vós esperamos): “as ficções que são verdade/ isso é a nossa história”, dizem alguns versos desse poema.
Não sabemos o quanto Lady Laura salvou a avó dos pesadelos dela, mas sabemos que ambas, a avó e a neta, devem ter cantado algumas vezes “Lady Laura, me conte uma história”. Desconfio que, do ponto de vista da esfinge, Laura é que tenha suplicado muitas vezes à Helena: “me conte uma história”. Helena contou. E libertou Laura. Mas, uma vez que a casa cai, não sabemos se é a avó ou se a neta, ou se as duas, que cantam para Laura “me leve para casa, sim, laura/ laura, se você for embora, saiba/ saiba, laura, não tenho como/ garantir que vou lembrar/ do seu rosto, laura”, como diz o poema chamado “Lady Laura”.
Mas como é lembrar de um rosto que nunca foi visto? Performatizando uma memória que falha, que esquece as palavras, que confunde os nomes, o enigma vai se deslocando e se atualizando em outros rostos, outras vozes. Nessa história desse amor secreto, nesse romance, “Doris Day” assume o lugar da esfinge e diz “ama-me ou esquece-me”. Nesse poema, que se chama “Doris Day”, apenas o último verso não é em itálico. Os versos dizem: “ama-me ou esquece-me/ sonharei com você/ já fomos tão felizes/ meus braços te esperam/ volta meu amor/ a indomável”. Ao que o último verso, sem itálico, parecendo voltar a voz da poeta, ou ao eu-performativo, em contraposição à voz de Doris Day, diz: “sou eu” (“[…] volta meu amor/ a indomável/ sou eu”). Lado a lado, em árabe e em português, finalmente somos apresentamos à canção: “Ó, Laura, o seu amor”. Nela, lemos sonhos, terra tranquila e noites de paz. Mas, nessa odisseia ao revés, um poema nos adverte: “Não há regresso a ser traçado”. Nesse poema, as palavras em português, de trás para frente, são tão ilegíveis e indecifráveis quanto em árabe, cuja leitura, em relação à nossa, é feita de trás para frente. A única palavra que parece a mesma de trás para frente, de frente para trás, é o último verso, de uma palavra só: “somos”.
Édipo acreditou ter se libertado da esfinge, enquanto caía no abismo do enigma de sua própria resposta com o seu nome próprio. Ao contrário de Édipo que, acreditando ter derrotado a esfinge, traçava sua própria tragédia, Helena, mais sábia que Édipo, libertou a esfinge não porque a decifrou, mas porque sabia que, ao se deixar cifrar por ela, a tragédia do nome próprio não traria sua aniquilação, mas sua libertação. No revés do tempo, Helena terá libertado Salua, terá libertado Laura que terá libertado Helena, quando “nós que aqui estamos” fizermos da escuta dessa canção a escrita de outra libertação – de outro amor secreto.
Em A farmácia de Platão, Jacques Derrida já teria falado da escrita, a partir de Fedro, como um pharmakon, isto é, um paradoxo compreendido em uma dupla acepção de remédio e veneno. Diante do destino trágico que acomete a memória humana, a escrita teria a função de remediar o esquecimento, ou seja, de ser um suplemento da memória como modo de fazer os mortais se recordarem. Mas, como suplemento da memória, a escrita seria ao mesmo tempo um veneno, porque ela seria sempre um risco para a suposta autenticidade da memória que deveria reger o saber e garantir o conhecimento. Em A libertação de Laura, a escrita não tenta dar conta da restituição da memória em busca de uma suposta origem autêntica; pelo contrário, ela parte da impossibilidade dessa restituição, não só performatizando uma memória corrompida, mas também fazendo dessa corrosão um modo de invenção. Assim, saber de cor se passa menos pelo que se guarda de memória e mais pelo que a corrosão dessa memória mobiliza a inventar com ela e a partir dela.
Entre vestígio e imaginação, entre memória e invenção, ou melhor, entre a memória que está por um fio e a invenção que se desenrola desse fio, transmite-se a perda como quem testemunha o amor e testemunha-se a perda como quem transmite o amor. Desse modo, essa trama vai se compondo convocando a escuta como o fio mais fino e mais primitivo que liga à vida, quando já não é mais possível se lembrar das palavras e o que remanesce é um resto de som que se desloca de um ouvido ao encontro de outra mão. Qual é o nosso testemunho desse amor secreto?
Em “A literatura no segredo”, vemos que, para Derrida, o segredo é uma aliança que se faz entre três, em que o terceiro é sempre aquele que vê sem ser visto, que testemunha o segredo entre dois que não sabem que um terceiro vê e testemunha esse segredo. Portanto, é o terceiro que porta o segredo, é sempre o terceiro, o terstis, o testemunho, que escreve a história. Importa menos o segredo que se passa entre o primeiro e o segundo e mais o que o terceiro faz com esse segredo que ele testemunha. Nós, que aqui estamos, somos o terceiro nesse segredo selado entre a neta e a avó, entre Salua e Laura, entre Helena e Laura, entre a filha e o pai. Cabe a nós, leitores, nós, que aqui estamos, testemunharmos essa história e, portanto, (re)escrevê-la.
Esse livro termina com o recorte de uma espécie de contrato de compra e venda do piano pertencente a Salua Mattar, na data de 1945. No documento, lemos: “o referido piano vai acompanhado de banquinhochave e cobertura de teclado. Garanto que não tem caruncho ou seja cupim de madeira”. Salua Mattar morreu em 2019, mas sua libertação sobrevive como A libertação de Laura sobreviverá aos cupins que parasitam os arquivos, o tempo, os objetos, a memória, o corpo. Sobreviverá, inclusive, ao destino que está traçado nas tragédias, tal como já está sobrevivendo ao se inscrever nem como tragédia nem como épica, nem como Ilíada nem como Odisseia, mas como uma partitura que traça, em seus versos, um romance, uma ficção, ou como um jogo de criança que faz da perda do tesouro o motivo para continuar a brincadeira.
“[E] se eu também diminuir/ através dos tempos/ lembrarei de laura?”, pergunta-se o eu-performativo em “Duro Destino”. Em Libros chiquitos, ao falar do romance de Macedonio Fernández, Museo de la novela de la Eterna, Tamara Kamenszain diz: “Trata-se de um desses livros que, com o fim de deixar entrar o desejo de escrever de quem os lê, se achican justamente quando parece que vão crescer”. Para deixar entrar o desejo de escrever de quem irá ler, é preciso se achicar justamente quando parece que vai crescer – lembrando também que em achicar existe um duplo jogo entre tornar-se menor e feminino ao mesmo tempo (jogo que Tamara explora mais explicitamente no livro de poemas Chicas en tiempos suspendidos), que tem tudo a ver com as questões circunscritas no livro de Helena.
Todavia, antes de antecipar o destino, antes da sombra do destino que ata neta e avó, antes da “Profecia” que ata filho e mãe, pai e avó, antes do fim, antes da melodia da canção fincada na folha, “Para não esquecer” (na ausência de palavras, o que sobrevive é a partitura), “a pergunta [que fica] é: “até quando escutarei/ essa voz do além/ se o além é eu e mais?”. Não coloco essa pergunta na conta do destino, mas tomo a liberdade de dirigi-la aos destinatários, nós, leitores e leitoras, nós, que aqui estamos.
Na última estrofe do poema intitulado “Nós que ficamos”, lemos: “laura é a memória transmitida/ de geração em geração/ a chama que nunca morre/ laura é o fogo/ incêndio”. Indo ao que queima, na chama que, a um só tempo, incinera a memória e é matéria viva de transmissão, Helena faz de Laura o nosso objeto de desejo, o nosso objeto perdido em torno do qual damos voltas para guardá-lo de cor enquanto o perdemos, levando-nos a escutar que é no ponto de encontro do enigma de nossas avós que trapaceamos o destino, queimamos e libertamos.
Danielle Magalhães é graduada em História (UFF), mestre e doutora em Teoria Literária (UFRJ). Atualmente, desenvolve a pesquisa intitulada “Mulheres que reescrevem a história”, como bolsista de Pós-doutorado Nota 10 da FAPERJ (UFRJ).
[ficção]
por Redação
 A destruição pelo Talibã, em 11 de março de 2001, de duas grandes estátuas dos budas de Bâmiyân, no Afeganistão, é o mote do novo romance do autor e diretor franco-afegão Atiq Rahimi, originalmente lançado na França em 2019. A partir desse evento, o escritor tece a trajetória de dois personagens, que também desvelam os diferentes modos de vida no Afeganistão: um homem que se ocidentaliza, vive exilado em Paris e abandona a família para encontrar uma mulher em Amsterdã; e um que trabalha como carregador de água em Cabul, em contato direto com a miséria e a crueldade dos soldados do talibã. Trata-se do sexto livro publicado no país pela Estação Liberdade, percorrendo praticamente todas as obras publicadas por Atiq Rahimi em Paris, onde vive.
A destruição pelo Talibã, em 11 de março de 2001, de duas grandes estátuas dos budas de Bâmiyân, no Afeganistão, é o mote do novo romance do autor e diretor franco-afegão Atiq Rahimi, originalmente lançado na França em 2019. A partir desse evento, o escritor tece a trajetória de dois personagens, que também desvelam os diferentes modos de vida no Afeganistão: um homem que se ocidentaliza, vive exilado em Paris e abandona a família para encontrar uma mulher em Amsterdã; e um que trabalha como carregador de água em Cabul, em contato direto com a miséria e a crueldade dos soldados do talibã. Trata-se do sexto livro publicado no país pela Estação Liberdade, percorrendo praticamente todas as obras publicadas por Atiq Rahimi em Paris, onde vive.
 Em seu terceiro romance, a escritora e jornalista carioca Claudia Nina traz a história da jovem Benedita, que tenta escapar da miséria de um sertão seco e miserável para salvar sua família. No caminho por uma vida melhor, a protagonista e sua família são marcadas por perdas dolorosas que, no entanto, não obnubilam a esperança. Como escreve Godofredo de Oliveira Neto, no texto de orelha, a autora “deixa a paisagem aquática do romance de 2014 [Paisagem de porcelana ambienta-se na Holanda, onde Claudia fez o doutorado em Letras] e penetra em um árido povoado não identificado do Nordeste, onde mora a protagonista e sua família miserável e faminta”, em uma história de “renovada força dramática”.
Em seu terceiro romance, a escritora e jornalista carioca Claudia Nina traz a história da jovem Benedita, que tenta escapar da miséria de um sertão seco e miserável para salvar sua família. No caminho por uma vida melhor, a protagonista e sua família são marcadas por perdas dolorosas que, no entanto, não obnubilam a esperança. Como escreve Godofredo de Oliveira Neto, no texto de orelha, a autora “deixa a paisagem aquática do romance de 2014 [Paisagem de porcelana ambienta-se na Holanda, onde Claudia fez o doutorado em Letras] e penetra em um árido povoado não identificado do Nordeste, onde mora a protagonista e sua família miserável e faminta”, em uma história de “renovada força dramática”.
 O cotidiano de uma família desajustada, narrada sob a perspectiva do filho mais novo, ocupa as páginas do primeiro romance do escritor paranaense Otavio Linhares, que iniciou na literatura com o livro de contos Pancrácio, de 2013. Para o escritor Yuri Al’Hanati, o romance Cavalo de terra segue o mesmo ritmo frenético de seus contos, em um mosaico da solidão no qual cada personagem pede socorro de sua forma errática. “Os personagens de Otavio Linhares transitam entre o escárnio e a tragédia, num registro oral que exige malícia e velocidade por parte do leitor. Suas vozes se misturam, se confundem e canibalizam, explicitam o cru e tropeçam na pobreza de seus repertórios”, escreve.
O cotidiano de uma família desajustada, narrada sob a perspectiva do filho mais novo, ocupa as páginas do primeiro romance do escritor paranaense Otavio Linhares, que iniciou na literatura com o livro de contos Pancrácio, de 2013. Para o escritor Yuri Al’Hanati, o romance Cavalo de terra segue o mesmo ritmo frenético de seus contos, em um mosaico da solidão no qual cada personagem pede socorro de sua forma errática. “Os personagens de Otavio Linhares transitam entre o escárnio e a tragédia, num registro oral que exige malícia e velocidade por parte do leitor. Suas vozes se misturam, se confundem e canibalizam, explicitam o cru e tropeçam na pobreza de seus repertórios”, escreve.
[não ficção]
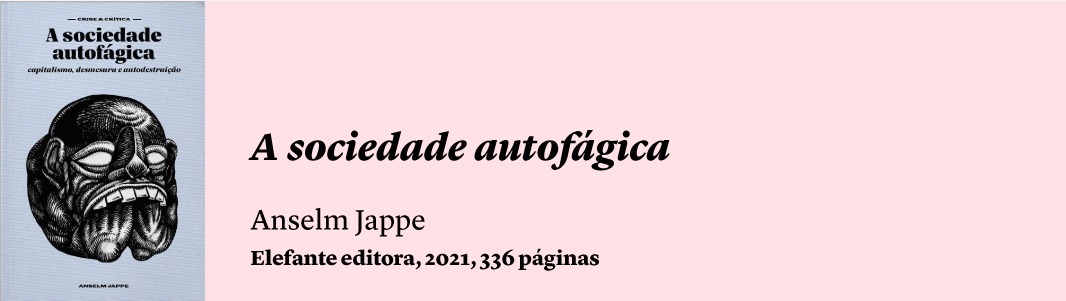 A ideia da “pulsão de morte do capitalismo” perpassa a obra do filósofo alemão Anselm Jappe. Em sua análise do capitalismo avançado, percebe a autodevoração do sistema no movimento incessável de crescimento econômico. Para entender essa sociedade, volta-se à tradição psicanalítica e sopesa a ideia de autonomia do sujeito, ressaltando o narcisismo e o fetichismo da mercadoria que atravessam-no, aqui classificado como “forma-sujeito”: a forma específica do sujeito na modernidade capitalista. “O narcisismo deixa então de ser entendido como desvio patológico, e revela-se como realização da forma-sujeito que nasce e se desenvolve com a expansão da sociedade do valor”, esclarece Gabriel Zacarias no texto de orelha.
A ideia da “pulsão de morte do capitalismo” perpassa a obra do filósofo alemão Anselm Jappe. Em sua análise do capitalismo avançado, percebe a autodevoração do sistema no movimento incessável de crescimento econômico. Para entender essa sociedade, volta-se à tradição psicanalítica e sopesa a ideia de autonomia do sujeito, ressaltando o narcisismo e o fetichismo da mercadoria que atravessam-no, aqui classificado como “forma-sujeito”: a forma específica do sujeito na modernidade capitalista. “O narcisismo deixa então de ser entendido como desvio patológico, e revela-se como realização da forma-sujeito que nasce e se desenvolve com a expansão da sociedade do valor”, esclarece Gabriel Zacarias no texto de orelha.

Em seu livro mais famoso, publicado originalmente em 1990, o filósofo martinicano desdobra seu conceito de relação: o reconhecimento da experiência de escravidão e colonização para contaminar-se pela diferença e, assim, reimaginar o mundo. Além de se ocupar com a filosofia, Glissant escreveu 8 romances, 14 ensaios, 9 livros de poemas e uma peça teatral. Sua filosofia, como notam Ana Kiffer e Edimilson de Almeida Pereira no prefácio de Poética da relação, é marcada por essa travessia entre a filosofia e a narrativa: “percebe-se uma narrativa que mantém o seu caráter dissertativo (encadeando acontecimentos e personagens), paralelamente a uma especulação sobre os dilemas que afetam os escravizados e, por conseguinte, suas culturas dentro e fora do continente africano e no exílio atribulado da escravidão. Dessa dupla face, delineia-se uma narrativa filosofante ou uma filosofia narrativa, que contempla a pulsão poética da linguagem e a dimensão política de denúncia da violência”.
 A partir do questionamento sobre o vínculo entre política e economia na obra de Aristóteles, o cientista social argentino Hernán Borisonik empreende uma análise sobre o dinheiro, os bens e o capitalismo. O tema, estudado pelo autor em seu doutorado na Universidad de Buenos Aires, parte da premissa que os escritos aristotélicos apoiam-se em certa concepção do sagrado que implica elementos proscritos ao uso humano. Assim, o autor abrange a própria concepção de sagrado no Ocidente em sua relação com a ação dos homens e o acúmulo de bens.
A partir do questionamento sobre o vínculo entre política e economia na obra de Aristóteles, o cientista social argentino Hernán Borisonik empreende uma análise sobre o dinheiro, os bens e o capitalismo. O tema, estudado pelo autor em seu doutorado na Universidad de Buenos Aires, parte da premissa que os escritos aristotélicos apoiam-se em certa concepção do sagrado que implica elementos proscritos ao uso humano. Assim, o autor abrange a própria concepção de sagrado no Ocidente em sua relação com a ação dos homens e o acúmulo de bens.
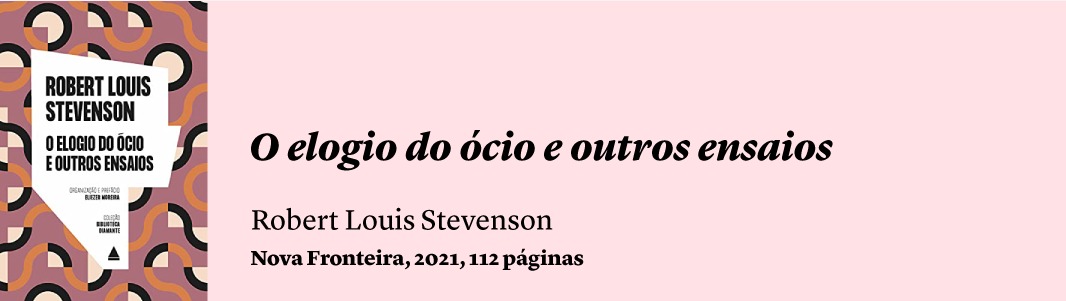 Seis ensaios que traçam o roteiro da formação intelectual do escritor britânico, autor de O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Suas observações são pontuadas pelas diversas viagens que empreendeu. Saindo de sua Escócia natal, em busca de climas mais propícios para sua saúde frágil, Stevenson percorreu diversos países, como Suíça, França, Estados Unidos e a ilha de Samoa, no Pacífico, onde morreu. Para Eliezer Moreira, que escreveu o prefácio do livro, os ensaios evidenciam que sua obra é indissociável de sua vida. Através das viagens, escreve Moreira, Stevenson “se tornou um observador inigualável de paisagens e de diferentes concentrações humanas”.
Seis ensaios que traçam o roteiro da formação intelectual do escritor britânico, autor de O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Suas observações são pontuadas pelas diversas viagens que empreendeu. Saindo de sua Escócia natal, em busca de climas mais propícios para sua saúde frágil, Stevenson percorreu diversos países, como Suíça, França, Estados Unidos e a ilha de Samoa, no Pacífico, onde morreu. Para Eliezer Moreira, que escreveu o prefácio do livro, os ensaios evidenciam que sua obra é indissociável de sua vida. Através das viagens, escreve Moreira, Stevenson “se tornou um observador inigualável de paisagens e de diferentes concentrações humanas”.










