Revolver a história com sílabas de água: “Nascente”, de Heleine Fernandes, e outros lançamentos

.
Há muitas formas de começar a contar uma história. Há muitas formas de testemunhar um nascimento. Uma delas é saudando quem veio antes, quem já está aí, há muito mais tempo que você. Saudando o mensageiro como quem abre uma gira, a epígrafe “Láaróyè!” abre o livro, abre a Nascente em que podemos testemunhar o nascimento de Heleine Fernandes. No poema chamado “cordão umbilical”, lemos:
para entrar
no mar
derramar-seé preciso tomar um caldo
uma lapada
ser arrastadapelo redemoinho
dos cabelos
da vulva
de mamãegargalhar
e chorar
como uma criança parida.
Em “derramar-se”, escutamos ramo, escutamos mar. Heleine faz do mar o seu lugar de colheita, a sua plantação, o seu pomar. No primeiro poema, intitulado “Kalimba”, com o ouvido colado a esse instrumento musical de origem africana, escutamos segredos ancestrais: “nas dobras do ouvido/ um segredo cantado/ em sílabas de água”. Em Nascente, ainda no começo, lugar do segredo, adentrar o corpo se confunde com entrar “na casa dos meus avós paternos”, como lemos em “elegbara”. É nesse habitat, em que corpo e casa se tornam estranhos um ao outro, que também nos deparamos com uma espécie de esfinge:
abria as portas do meu corpo
fumaça cheirosa.
Eu entrava
na casa dos meus avós paternos
e encarava a carranca
boca escancarada
os dentes e a língua
diziam-me: “é tudo mentira”.
eu ficava sem chão
posta à prova.
ela me engolia
como a um ovo cru
quebrado em um copo de geleia.
me deglutiu diversas vezes
divertida com a minha inexperiência.
submetida a este treino
sobrevivi à infância.
Na entrada do corpo, que se confunde com a entrada da casa dos avós, que se confunde com a entrada na vida, a infância, ali, no começo de todo o assentamento, sobreviver à infância é sobreviver a ser devorada pela carranca que faz troça. Em terra de Elegbara, ser comida e dar de comer é um duplo e mesmo processo até aprendermos a gargalhar como a carranca que gargalha de nós.
Enquanto isso, a palavra vocalizada é “socorro”, isso que o título do poema seguinte indica ser um nome próprio. Sem perder a função de interjeição, é com “socorro” que se aprende a gargalhar, diz o primeiro verso do poema: “aprendi a gargalhar com ela”. Quando um pedido de socorro e uma gargalhada cabem na mesma interjeição, herda-se do corpo da avó – que se confunde com a entrada da casa desse corpo em que se habita –, a dobra do ouvido que faz escutar, em socorro, uma gargalhada. O que, do nome “socorro”, pode ser escrito? Uma gargalhada. Essa “assinatura vocal”, como a poeta diz, “de quem meus músculos recordam/ e rendem homenagem”.
Essa assinatura não foi herdada senão como uma herança transgressora. Os versos finais do poema nos levam a crer nisso: “toda entregue à vocalização/ toda ela coberta/ de vermelho e ouro/ transfigurada”. Ao final do poema, a avó já não é mais a mesma: “transfigurada”, sua gargalhada ecoa nas encruzilhadas do tempo, antes e depois dela, fazendo da gargalhada a transmissão de uma transgressão.
Atravessada a porta de entrada, sobrevivido à infância, às peças pregadas pelas vozes que diziam “é tudo mentira”, e às peças pregadas pelos enigmas de Elegbara; atravessada a porta de entrada do corpo que se confunde com a porta de entrada da casa avó, fundamento que só assenta com muito embaralhamento e muita gargalhada; atravessada a porta de entrada, depois de darmos de cara com a esfinge, ei-la, nos olhando, “socorro”:

É Socorro quem nos olha, séria, sentada hieraticamente em um sofá, acompanhada, próximo a cada um de seus ombros, de totens, duas galinhas que as olham. Posada entre os animais sagrados de culto e sacrifício em terra de Elegbara, depois da travessia, é ela, socorro, quem nos olha.
Desobediências poéticas é uma videoinstalação de Grada Kilomba, composta de dois vídeos correspondentes ao primeiro volume da obra intitulada Illusions, constituída pelos subtítulos “Narciso e Eco” (Narcissus and Echo, 2017) e “Édipo” Oedipus, 2018). Nesses vídeos, Kilomba reconta, de outro modo, dois mitos fundadores da cultura ocidental. Em “Narciso e Eco”, escutamos o narcisismo da branquitude. Em “Édipo”, escutamos, no mito fundador do desejo, que “poder não saber” é um privilégio que mata. Na história do desejo, escutamos pela primeira vez a ênfase no genocídio daqueles e daquelas que são mortos às custas desse não-saber. Rasurando a história da família real, Kilomba inscreve a história dos que são mortos. No mito fundador do desejo, escutamos não o desejo, mas a violência do não-saber que faz do mito fundador do desejo uma história, sobretudo, de genocídio. A cada vez que Édipo não responde o enigma, uma matança acontece.
Rasurando a história da família real, rasurando o mito fundador do desejo pela psicanálise, Kilomba rasura, também, o motor que move a filosofia desde tempos remotos, o “não-saber” socrático pelo qual se constrói o saber. É certo que esse “não-saber” teve e tem sua função propulsora ao pensamento, mas o que o ponto de vista de Grada Kilomba atenta é que só privilegiados podiam construir um saber em cima de um “não-saber”. Aqueles e aquelas que não pertenciam ao domínio público, as mulheres, por exemplo, estavam excluídas desse “não-saber” que, na filosofia grega, feita por homens, era a porta de entrada do conhecimento. Recontar dois mitos fundadores do Ocidente sob outro ponto de vista é um gesto de reescrever a história. No caso de Grada Kilomba, é uma mulher negra, historicamente violentada, que reescreve a história.
Socorro também é a rasura dessa esfinge. Por sobre, por cima dessa esfinge, inscreve-se Socorro, o nome rasurado da esfinge. Poderia dizer, com Grada Kilomba, que Heleine Fernandes rasura o mito fundador do Ocidente com essa fotografia, ao nos colocar sob os olhos de Socorro. Essa que nos olha não é da família real. Socorro, essa que nos olha, nos lança muitas perguntas, e exige muitas respostas que o narcisismo da branquitude não saberia responder. E podendo não saber responder, a branquitude mata, inclusive, essa que nos olha, Socorro. Heleine Fernandes nos ensina a ter ouvidos de Kalimba e de Kilomba para escutar segredos que a branquitude ocidental nunca escutou.
Atravessada a porta de entrada, caminhamos “em busca do jardim de minhas mães”, título de um poema que sucede outra foto. Nessa, há uma aniversariante olhando para um bolo e o cortando entre as velas de quinze anos. Atrás dela, uma imagem de dois homens, sérios, parecendo vigiar todo o movimento e direcionar nosso olhar a eles, que não são o centro do evento, mas parecem ser o punctum da fotografia, desviando nosso olhar do centro da cena, a aniversariante, para esses olhos vigilantes que, como fantasmas, se debruçam sobre ela e sobre nós. O poema “em busca do jardim de minhas mães” talvez nos conte a história dessa fotografia:
[…]
quando eu era criança ela comprava LPs coloridos
com narrativas de histórias infantis
também coleções de livros
de contos de fadas
mas ela mesma
não contava suas histórias.
lembro de uma história sua
que ouvi quando era adolescente
sobre sua primeira festa de aniversário
aos quinze anos
organizada por ela mesma
com o dinheiro de seu próprio salário.
quando o pai viu a festa
destruiu tudo
e a cobriu de vergonha.acho que minha mãe
se protegia de suas histórias
enquanto mantinha chiando a TV ligada
enquanto exigia que tudo estivesse muito limpo
enquanto reclamava do meu desejo de viver
ou da melancolia de meu pai.enquanto isso
suas histórias continuavam
borbulhando em seu útero
sem imagem
e sem palavra
em silêncio.elas vibram ainda hoje
na pele dos filhos
os que nasceram e os que não nasceram.
saberei eu
traduzir esses silêncios
herdados
em canto cheiroso
em hálito de sereia?
Nesse poema, o jardim de Alice Walker, autora de Em busca dos jardins de nossas mães, assenta um solo fértil por onde se escava essas histórias que vibram na pele dos filhos que nasceram e dos que não nasceram. Nessa pele, a poeta finca a versura, dá a volta do arado a cada volta do verso e revolve a origem, o começo de tudo: a diáspora.
[…]
minha mãe nasceu em jardim
no cariri.
os pés na chapada do araripe
a moleira molhada
nas águas do rio são francisco.
meu avô
depois ela
e minha avó
vieram de lá(repetida diáspora)
plantar a família aqui
na roça pequena
que era o rio de janeiro
e já não é mais.jardim é um município do cariri
região metropolitana do ceará.
é o canteiro de
terra de onde brota
a literatura de cimento do meu avô
a literatura de letra insegura de minha avó
a literatura de minha mãe
que não escreve:
a literatura que herdei
e continuo.
No movimento do arado dos versos, na superfície da terra que é a pele dos filhos que nasceram e dos filhos que não nasceram, imprime-se uma história de uma linhagem que se entrelaça com a literatura que se herdou. Em busca do jardim de suas mães, em busca de um assentamento, grava-se, em cada sulco, uma literatura que vai se inscrevendo na tradução da herança da letra, da grama, da terra e do silêncio que já existiam antes:
[…]
jardim é um município do cariri
região metropolitana do ceará.
é o canteiro de
terra de onde brota
a literatura de cimento do meu avô
a literatura de letra insegura de minha avó
a literatura de minha mãe
que não escreve:
a literatura que herdei
e continuo.
Também é com “brita” que os versos vão à boca que conta as mesmas histórias de anos atrás para, contra o tempo, falar sobre elas com “sílabas de águas”: “[…] meu amor,/ Seu prazo de validade não venceu,/ o tempo não queima/ a pele e a carne como o cimento faz”. É com “brita” que se vai ao “riso corroído” e ao que vai à boca do filho que come “os restos do banquete dos proprietários”. É com “brita” que se vai, mas para perfurá-la com água, em contraposição à perfuração da bala:
[…]
onde é aqui
quando a bala canta?diáspora.
e quando ela silencia?
diáspora
gravada nos meus genes.
“[O]peração colonial” é a amputação do corpo-casa-assentamento, essa triangulação em que se planta toda essa Nascente. “[O]peração colonial” é invasão, expropriação, cercamento de corpos e de terras que atravessa os séculos.
[…]
mas ninguém pode invadir
a casa que levo dentro.
contra isso mantenho-me viva
em vida.
contra isso
muitas bocas
assopramos o fogo do que não morre.
Tirar som da pele (“quando aprendi/ a tirar som da sua pele/ me apaixonei/ pelas minhas mãos”). Tirar, da pele, letra. Tirar, da madeira, sílabas de água. Tirar água da brita, tirar o tiro com um poema, devolver o rosto e fazer caírem as “máscaras brancas”. Chamar de “capitão” não os soldados do caveirão, mas o bolinho de feijão e farinha que a avó dava de “comer da mão” (“pedia à minha avó/ que me desse de comer/ e de sua mão brotavam/ bolos úmidos deliciosos/ que ela chamava capitão”). Nascente é por onde brota a libertação: “lavo o seu rosto de maré./ negro ele é/ e nele eu me vejo/ solar.”, assim termina o poema “coroa”, dedicado “à marielle franco e sua família”. Nascente é a fonte em que uma ancestralidade de um passado mais anterior coincide com o que está prestes a nascer, é por onde brota a libertação – dessa voz, desse corpo, dessa casa, dessa linhagem – assentando uma terra, um terreno, um terreiro, em que se planta uma história revolvida em muitas “sílabas de água”.
Danielle Magalhães é doutora em Teoria Literária (UFRJ), bolsista de Pós-Doutorado Nota 10 da FAPERJ (UFRJ) com a pesquisa intitulada “Mulheres que reescrevem a história”. Autora dos livros de poemas Quando o céu cair (7Letras, 2018) e Vingar (7Letras, 2021).
[ficção]
por Redação
 Em edição bilíngue, o poema dramático do inglês John Milton acompanha as últimas 24 horas do herói hebreu Sansão, já cego após a traição de Dalila e capturado pelos filisteus. Com tradução de Adriano Scandolara, a edição conta com rico aparato crítico: dezenas de notas explicativas, prefácio de Caetano Galindo, revisão técnica da tradução de Guilherme Gontijo Flores e introdução e posfácio do tradutor. “Poucos são os exemplos anteriores a Strindberg capazes de rivalizar com a nudez do antagonismo sexual que se inflama entre Sansão e Dalila”, avalia o crítico literário George Steiner sobre a peça de Milton.
Em edição bilíngue, o poema dramático do inglês John Milton acompanha as últimas 24 horas do herói hebreu Sansão, já cego após a traição de Dalila e capturado pelos filisteus. Com tradução de Adriano Scandolara, a edição conta com rico aparato crítico: dezenas de notas explicativas, prefácio de Caetano Galindo, revisão técnica da tradução de Guilherme Gontijo Flores e introdução e posfácio do tradutor. “Poucos são os exemplos anteriores a Strindberg capazes de rivalizar com a nudez do antagonismo sexual que se inflama entre Sansão e Dalila”, avalia o crítico literário George Steiner sobre a peça de Milton.
 A Guerra de Troia perpassa todos os poemas do livro, mas é abordada de forma a inverter a percepção clássica sobre a batalha eternizada pela Ilíada: a partir do ponto de vista dos oprimidos, dos feridos, mortos e das mulheres atingidos pela guerra. Com essa inversão, a autora faz uma associação entre o evento clássico e a condição de opressão e violência do “sul do sul do mundo”. Luiza Romão, que também é atriz, gravou trechos da obra entremeados com imagens de intervenções poéticas. “Um livro para ir redescobrindo, à medida que ele passa”, nas palavras de Adelaide Ivánova.
A Guerra de Troia perpassa todos os poemas do livro, mas é abordada de forma a inverter a percepção clássica sobre a batalha eternizada pela Ilíada: a partir do ponto de vista dos oprimidos, dos feridos, mortos e das mulheres atingidos pela guerra. Com essa inversão, a autora faz uma associação entre o evento clássico e a condição de opressão e violência do “sul do sul do mundo”. Luiza Romão, que também é atriz, gravou trechos da obra entremeados com imagens de intervenções poéticas. “Um livro para ir redescobrindo, à medida que ele passa”, nas palavras de Adelaide Ivánova.
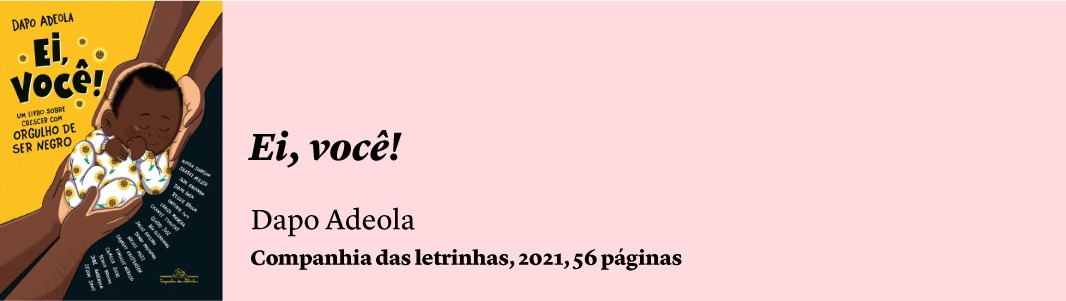 Com ilustração de 19 artistas diferentes, o livro celebra as crianças negras de todo mundo: “um livro sobre crescer com orgulho de ser negro”, como diz o subtítulo da obra. Originalmente publicado em inglês pelo ilustrador britânico-nigeriano Dapo Adeola, em sua tradução brasileira a obra tem apresentação de Taís Araújo, que escreve sobre a importância de valorizar a identidade negra em livros infantis: “você, criança de hoje, sabe que é, sim, maravilhosa do jeito que é, que é amada e que pode ser tudo o que sonhar! Não permita que o mundo diga que não: se empenhe, estude, se dedique, se junte aos que parecem com você e sonhe, sonhe muito!”.
Com ilustração de 19 artistas diferentes, o livro celebra as crianças negras de todo mundo: “um livro sobre crescer com orgulho de ser negro”, como diz o subtítulo da obra. Originalmente publicado em inglês pelo ilustrador britânico-nigeriano Dapo Adeola, em sua tradução brasileira a obra tem apresentação de Taís Araújo, que escreve sobre a importância de valorizar a identidade negra em livros infantis: “você, criança de hoje, sabe que é, sim, maravilhosa do jeito que é, que é amada e que pode ser tudo o que sonhar! Não permita que o mundo diga que não: se empenhe, estude, se dedique, se junte aos que parecem com você e sonhe, sonhe muito!”.
[não ficção]

Obra pioneira da “oralitura” no país, análise que enlaça a palavra escrita e a tradição oral, Afrografias da memória conta a história do Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Minas Gerais. Para entender esse fenômeno cultural, percebe as influências da cultura banto em sua constituição, reafirmando a importância da cultura negra na formação da cultura nacional. “Por vias das performances rituais, [a festa] transcria estilos, simbologia, metafísica, coreografia, inúmeros saberes, valores e cosmovisão africanos”, como se escreve na quarta capa da obra, reeditada 25 após sua primeira publicação.
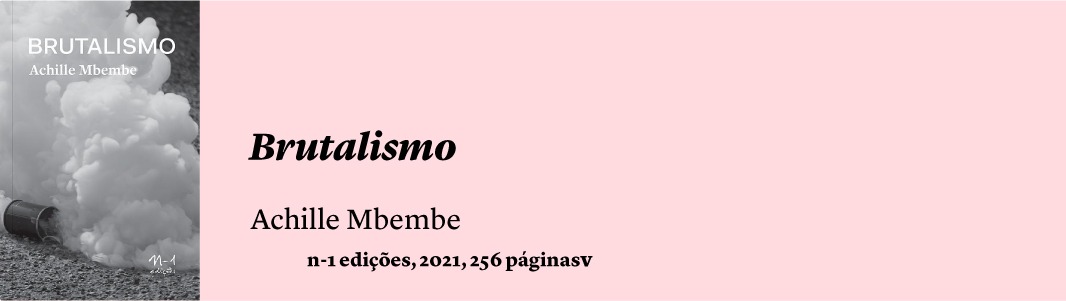 Em sua nova obra, publicada originalmente em 2020, o filósofo camaronês aborda o conceito de “brutalismo”, vindo da arquitetura, para entender a nova configuração política do mundo: “A política é, por sua vez, uma prática instrumental, um trabalho de montagem, organização, modelagem e redistribuição, inclusive espacialmente, de conjuntos corpóreos vivos, mas essencialmente imateriais. E é no ponto em que a imaterialidade, a corporeidade e os materiais se encontram que se deve situar o brutalismo”, como escreve no preâmbulo. Para o autor, trata-se de uma época “dominada pelo páthos da demolição e da produção, numa escala planetária, de reservas de obscuridade”.
Em sua nova obra, publicada originalmente em 2020, o filósofo camaronês aborda o conceito de “brutalismo”, vindo da arquitetura, para entender a nova configuração política do mundo: “A política é, por sua vez, uma prática instrumental, um trabalho de montagem, organização, modelagem e redistribuição, inclusive espacialmente, de conjuntos corpóreos vivos, mas essencialmente imateriais. E é no ponto em que a imaterialidade, a corporeidade e os materiais se encontram que se deve situar o brutalismo”, como escreve no preâmbulo. Para o autor, trata-se de uma época “dominada pelo páthos da demolição e da produção, numa escala planetária, de reservas de obscuridade”.
 Panorama do processo de formação do mercado livreiro que se constituiu, desde finais do século 18, entre França, Portugal e Brasil. Para isso, acompanha a trajetória de livreiros franceses que passaram a trabalhar em Portugal e, posteriormente, atuaram também no Brasil, como Paulo Martin e Jean-Baptiste Bompard. Também destaca a função do mercado livreiro na vida cultural e política do país, bem como as práticas relacionadas ao mundo editorial que eram comuns no mundo luso-brasileiro entre os séculos 18 e 19. A obra, assim, aproxima-nos do nascente mercado do livro e da imprensa que surgia nos finais do período colonial da história brasileira.
Panorama do processo de formação do mercado livreiro que se constituiu, desde finais do século 18, entre França, Portugal e Brasil. Para isso, acompanha a trajetória de livreiros franceses que passaram a trabalhar em Portugal e, posteriormente, atuaram também no Brasil, como Paulo Martin e Jean-Baptiste Bompard. Também destaca a função do mercado livreiro na vida cultural e política do país, bem como as práticas relacionadas ao mundo editorial que eram comuns no mundo luso-brasileiro entre os séculos 18 e 19. A obra, assim, aproxima-nos do nascente mercado do livro e da imprensa que surgia nos finais do período colonial da história brasileira.
 Espécie de crônica com elementos romanescos, a obra foi originalmente publicada em 1912 como uma sátira à elite paulistana. Os protagonistas, Leivas Gomes e Juvenal Leme, são caricaturas dos poderosos de então: o primeiro é um empreendedor que enriqueceu graças ao seu oportunismo, enquanto o segundo é um legítimo herdeiro da gema paulista, que vive das rendas da família rica. Enquanto circulam pela São Paulo em plena modernização, registram cenas da vida paulista, as novas construções que surgiam e os relacionamentos sociais nos círculos de elite. Para a crítica literária Walnice Nogueira Galvão, a obra pode ser vista como uma manifestação do pré-modernismo que, pelo furor da Semana de 1922, acabou esquecida e pouco valorizada com o tempo.
Espécie de crônica com elementos romanescos, a obra foi originalmente publicada em 1912 como uma sátira à elite paulistana. Os protagonistas, Leivas Gomes e Juvenal Leme, são caricaturas dos poderosos de então: o primeiro é um empreendedor que enriqueceu graças ao seu oportunismo, enquanto o segundo é um legítimo herdeiro da gema paulista, que vive das rendas da família rica. Enquanto circulam pela São Paulo em plena modernização, registram cenas da vida paulista, as novas construções que surgiam e os relacionamentos sociais nos círculos de elite. Para a crítica literária Walnice Nogueira Galvão, a obra pode ser vista como uma manifestação do pré-modernismo que, pelo furor da Semana de 1922, acabou esquecida e pouco valorizada com o tempo.










