Carlos Augusto Lima e Jean-Luc Godard: uma conspiração para o desperdício
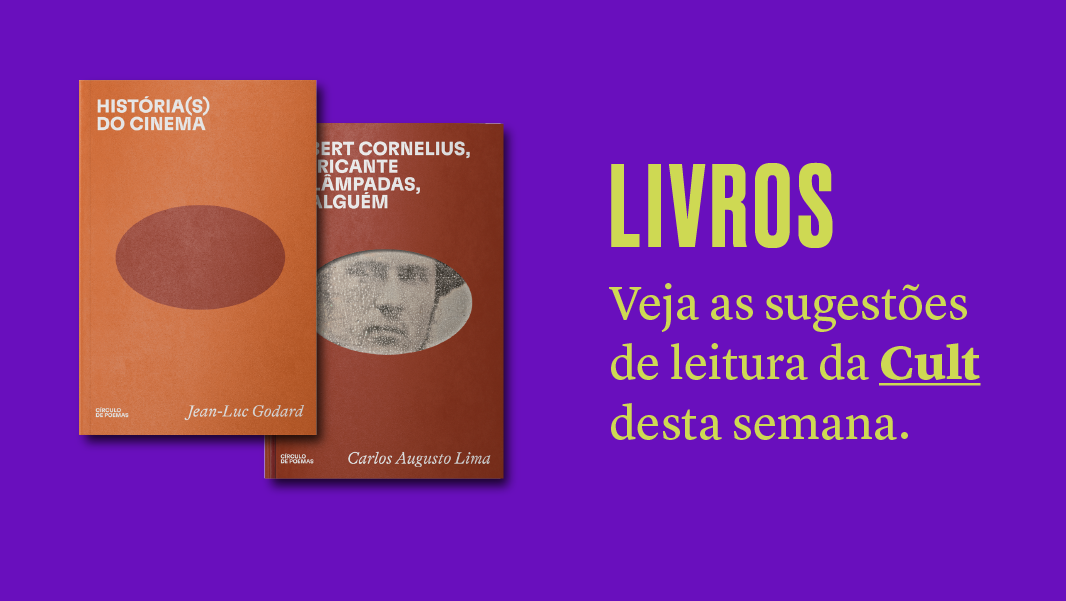
“Quem tiver alguma coisa a dizer,
avance e fique calado.”
Karl Kraus
No prefácio a um livro de André Bazin em torno de Carlitos, Charles Chaplin (1972), François Truffaut lembra de Jean-Luc Godard e diz que ele filma cheio de desesperança e de uma energia de quem nada tem a perder. Quando faz O acossado (1960), por exemplo, não tinha um tostão no bolso: “estava mais desamparado que o personagem que filmava”, era a vida de Michel Poiccard em jogo, tanto quanto a sua. Noutra ponta, no mesmo ano, Torquato Neto, desamparado no inferno de uma ditadura militar, aos 28 anos, abre a torneira do gás do banheiro até sufocar. Antes, na coluna Geleia Geral de 4 de setembro de 1971, “Pessoal intransferível”, escreve que “um poeta não se faz com versos” e convoca a um abismo de risco, de perigo, sem medo, para destruir a linguagem e explodir com ela: “quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem nem que seja o boi”. A foto que ilustra o texto é de Godard, óculos escuros, com uma legenda precisa: “Godard. Poeta. Nunca teve medo de quebrar a cara”. E isto vai de encontro ao elemento de celebração da banalidade num palco imenso e luminoso, o SALÃO, como espetáculo de uma linguagem vazia, a cena sorridente, mestres de cerimônia, senhoras e senhores de tudo, algo como o que diz Silvina Rodrigues Lopes: “Admitir, o que vem sendo comum nos últimos tempos, que seja natural que o escritor assuma funções de animador cultural ou difusor de moralidade e opiniões é rasurar a distância entre o que funda o nosso habitar e a estreiteza social que garante a sobrevivência”.
Um ano depois, em 1973, em Fortaleza, no Ceará, nasce Carlos Augusto Lima, filho de uma professora primária negra com um babalaô branco de olhos claros, e que muitos anos depois publicaria o genial Vinte e sete de janeiro (Lumme, 2008), seminal data aquariana, e é neste pequeno objeto singular que aparece a figuração de uma lâmpada, num orientalismo, “lâmpadas/ chinesas. santos da cristandade”, numa espécie de “voz rápida e pobre”, “objeto de cerco”, “furor de suspeita”. Carlos havia lançado pequenas palavras – “letras no branco” – em mínimos sentidos de guerrilha desamparada, figurante, numa plaqueta, Objetos (Alpharrabio, 2002), oito peças intocáveis numa deliberação para o infinito, porém vertical; depois, Manual de acrobacias n.1 (Editora da casa, 2009), um mesmo poema repetido 72 vezes, síncope e variação invisível que alarga a deriva de tantas perguntas, nenhuma resposta e, ao mesmo tempo, a desmontagem serena da sintomatologia egoica para a dedicatória: o poema fora dedicado a muitos, logo, a ninguém; em 2010 (Alpharrabio), O livro da espera, plaqueta com 2 poemas à espera da conversa com algum amigo que não vem; e coisas impensadas como os carimbos de O motociclista do globo da morte, a plaqueta A medida da luz e o belíssimo e raro O livro de Carolina [7Letras, 2019], quando um nome, em si, nada pode salvar nem muito menos é a tolice insistente do significado ou de um enunciado.
Numa composição, foram publicados recentemente, juntos, numa mesma caixa, Jean-Luc Godard, primeira edição brasileira do texto de História[s] do cinema, filme de 1988, com tradução de Zéfero, e Carlos Augusto Lima, uma plaqueta, Robert Cornelius, fabricante de lâmpadas, vê alguém. O projeto, muito interessante, é das editoras Fósforo e Luna Parque, um Círculo de poemas mensal em que se projetam essas transparências. Em que pese aí, imediatamente, a ideia de uma hierarquia, livro e plaqueta, se assim fosse, a mesma ideia se desfaz na força daquilo que vem, e aí, sem dimensão imediata, mas lenta, está o jogo. Isto nos remete, de alguma maneira, ao que disse Harun Farocki lembrando um pensamento de Godard: levar o cinema onde ele não há. Ampliando, num passeio deliberado pelo trabalho de Carlos, o que se tem é, com risco, levar o poema até onde ele não há. Num contraponto, tanto em um, quanto em outro, a cada modo, apagar o filme, apagar o poema. Por isso, talvez, apontar que nessa construção de História[s] do cinema há um filme ou um poema – ou como um Hamlet segurando o espectro de uma cabeça que já era, a coisa invisível, não falante, espectro cadente, que não nos olha nem nos vê –, é uma leitura convicta, logo, sem luta, de seguir o que gira em torno da cabeça, dentro da cabeça, antes do desajuste entre o “mais de um” e o “menos de um”. O que se lê, tanto em Godard, no filme de 1988 e no texto que vem, quanto em Carlos, em seus livros espectrais, memórias de um futuro presente, é o quanto “o mundo está fora dos eixos” desde sempre. Assim, nem poema, nem filme, nem nada.
Essa coisa-espectro, junção e disjunção, está figurada tanto no escuro, a sala escura, a tela escura para derrotar a luz, lidos por Godard, quanto na lâmpada, elemento técnico para a claridade da visão, encandear-se, lida por Carlos. Godard traça o dilema europeu de um pensamento de longa tradição francesa, como na oposição frágil entre selvageria e civilização, algo tocado por uma perspectiva do cinema italiano, Rosselini e Roma, cittá aperta até Visconti e Antonioni etc., por exemplo, e o filme definitivamente sacado como mercadoria, indústria da morte, matéria visível, um chamado para queimar os filmes e ler, assim, uma matéria fantasma, quando o problema do cinema, desde então, não é a mais a falência do ponto de vista; falência também que é ou seria a da literatura, a do poema; mas sim por que começar ou até quando terminar os pontos de insurgência que derivam de uma origem, arché, ou seja, também de um comando. Carlos, sem tradição alguma como prestação de contas, cercado de sertão, brisa marinha e paisagem de miséria visível, nem “faca só lâmina” nem “vamos embora pro Nordeste” [os filhos das oligarquias], arrasta uma ciência de descoberta entre erudita e toda selvageria, uma “lista de desejos” que toca, apenas e infinitamente, aos “monstruosos consumidores da luz”. Robert Cornelius, “químico amador, fabricante de lâmpadas, morador da Filadélfia” que, em 1839, fotografa a si mesmo e anota no verso da imagem: “a primeira foto luminosa jamais tirada”.
O gesto de Cornelius, sobremaneira, se contrapõe não só ao imenso aparato moderno do autorretrato, de Rembrandt a Cézanne, de Renoir a Van Gogh, mas também se lança contrário à ideia de que estamos, sorridentes, vazios, diante de uma selfie, este fecho sem espírito livre muito próprio dos “consumidores da luz”. Aí se demora, e mora, o apontamento de risco, no que Godard imagina fazer e no que Carlos, desafiando Godard, projeta: ver-se, vendo; mas apagando-se até o limite daquilo que não é, habitar sem residir, sem confinar-se. Carolina Machado, que tem um severo trabalho crítico entre Godard e Herberto Helder, no prelo, lembra que é importante reparar que Godard ainda faz, 10 anos depois, uma ampliada continuação de História[s] do cinema, em JLG/JLG, autorretrato de dezembro (1998), texto e filme construídos dentro de casa, como abertura, que oscilam entre política, arte e biografema, quando se volta não apenas à linhagem do autorretrato na cultura europeia, mas também a uma circulação do pensamento na história, memória de cegos, a filosofia da ruína de um mundo real e se a Europa, desde Dostoiévski, está condenada à morte etc. O que Carlos compõe em Vinte e sete de janeiro, data que é ao mesmo tempo corpo e morada, quando o espaço primitivo derrota o calendário e não é possível desenhar, pintar ou imaginar nenhum rosto: o que sem tem é a presença-ausente de ninguém, nem quem diz, nem a quem se diz, nem muito menos o que dizer. O lixo, as crianças miseráveis, um consulado perdido, criaturas submarinas, a língua manchada, o mar que toma a casa, um mercado sujo, nem judeus, nem árabes, nenhum arquiteto húngaro, desaparecimento dos nomes da mãe e do pai.
O que fazem entre enganar a norma, a regra, o interdito e, minimamente, tentar dizer alguma exceção para interceder e interromper a história, é raspar a invenção em nossa ferida de nascença, sem fundo, o Direito, este, que tem origem assassina e se demonstra, como um “estado democrático”, meramente vingativo, organizado através da lógica da vingança: “todo poder se transformou em espetáculo”, diz Godard; “um registro assinado em três vias atestando o medo”, anota Carlos. A aprendizagem que vem dessa composição fortemente política é a de não ler a história apenas como Direito, este dever, esta dívida, este “é preciso” e “é necessário”, imperativos categóricos e violentos da lei, das formas da lei. O Direito não é a justiça, aliás, a justiça é muito antes e muito depois do Direito. Godard encena: “uma imagem/ não é forte/ quando é brutal/ ou extravagante/ mas quando/ a associação entre as ideias/ é longínqua/ longínqua/ e justa”. E Carlos, sem meio tempo: “guerras e guerras contra tudo o que é vivo./ o homem do futuro esbofeteando a Terra,/ como um saco de areia, eternidade a dentro”.
Assim, pensar, primeiro, numa dimensão da linguagem não como um esvaziamento que se arvora em representação e referentes falseados, mas sim como um lugar de atenção, para a atenção, ou seja, a que toca a história numa imaterialidade do pensamento, e não o pensamento como mais uma materialidade da história e seus fetiches teológicos do dinheiro; depois, se num “tempo detergente”, como sugeriu Ruy Belo, mas sem a demarcação de um território, que parece interessar mais a Godard do que a Carlos, tocar uma experiência do impossível, uma injunção: aquilo que é para o outro, para muito além de um si mesmo; e uma conjuração: conspirar e tornar presente um espectro, a possibilidade de que a linguagem nos apresente alguma dilação espectral, novas imagens de força para imagens pré-existentes e já fixadas em suas formas monopolizadoras, um desperdício – nem filme, nem poema / nem poema, nem filme – para desativar o entulho do mundo numa luta das imagens, uma luta com as imagens.
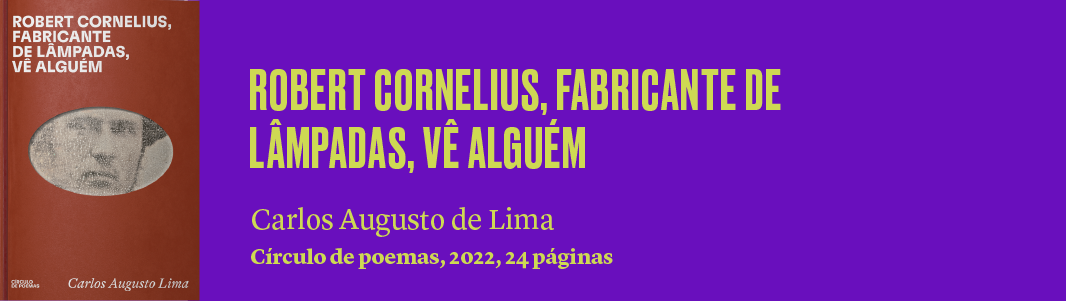

Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura, UNIRIO. Publicou Xenofonte (Cultura e Barbárie, 2021), O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou Uma pausa na luta (Mórula, 2020), com a participação de 70 pessoas, e juventude, alegria (Mórula, 2021, com Davi Pessoa).
[por Redação]
 Com foco na esquerda brasileira, no colapso do lulismo e nos desdobramentos de 2013, que potencializou movimentos fascistas e de extrema-esquerda, a análise de Vladimir Safatle propõe uma refundação da esquerda a partir de um programa antissistêmico. “Só uma esquerda que assume a luta de classes e se identifica com o proletariado como sujeito político com força revolucionária será capaz de superar os impasses aos quais nos levou um “reformismo fraco”, que confundiu política com gestão”, escreve Michael Löwy no prefácio à obra. Publicado originalmente em 2017, o livro permanece válido, nas palavras do autor, porque ainda permanece o esgotamento da esquerda brasileira e das instituições brasileiras tal como analisado nos momentos pós-impeachment. Apesar de não ser o foco da obra, o autor também retrata e aborda os acontecimentos da história recente brasileira.
Com foco na esquerda brasileira, no colapso do lulismo e nos desdobramentos de 2013, que potencializou movimentos fascistas e de extrema-esquerda, a análise de Vladimir Safatle propõe uma refundação da esquerda a partir de um programa antissistêmico. “Só uma esquerda que assume a luta de classes e se identifica com o proletariado como sujeito político com força revolucionária será capaz de superar os impasses aos quais nos levou um “reformismo fraco”, que confundiu política com gestão”, escreve Michael Löwy no prefácio à obra. Publicado originalmente em 2017, o livro permanece válido, nas palavras do autor, porque ainda permanece o esgotamento da esquerda brasileira e das instituições brasileiras tal como analisado nos momentos pós-impeachment. Apesar de não ser o foco da obra, o autor também retrata e aborda os acontecimentos da história recente brasileira.
 Apresentação didática e acessível sobre a escola filosófica conhecida como estoicismo. Fundada por Zenão no século 3 a.C. na Grécia, os estoicos foram os primeiros a “reconhecer plenamente o valor do ser humano enquanto ser humano”. Em sua exposição, George Stock, que é professor em Oxford, passa pelos diversos aspectos da filosofia e da doutrina estoica a partir de seus pensadores originais. Para isso, contextualiza o lugar da filosofia entre os gregos e os romanos e debruça-se sobre os temas caros aos estoicos, como a lógica, a ética e a física. A “Introdução” ao volume, ainda, discorre sobre o estoicismo entre os romanos, que teve Sêneca como um de seus principais representantes; os paralelos entre o estoicismo e o cristianismo; e a validade de suas ideias para uma ética contemporânea.
Apresentação didática e acessível sobre a escola filosófica conhecida como estoicismo. Fundada por Zenão no século 3 a.C. na Grécia, os estoicos foram os primeiros a “reconhecer plenamente o valor do ser humano enquanto ser humano”. Em sua exposição, George Stock, que é professor em Oxford, passa pelos diversos aspectos da filosofia e da doutrina estoica a partir de seus pensadores originais. Para isso, contextualiza o lugar da filosofia entre os gregos e os romanos e debruça-se sobre os temas caros aos estoicos, como a lógica, a ética e a física. A “Introdução” ao volume, ainda, discorre sobre o estoicismo entre os romanos, que teve Sêneca como um de seus principais representantes; os paralelos entre o estoicismo e o cristianismo; e a validade de suas ideias para uma ética contemporânea.










