Coragem, raiva e luta voluntária: Ricardo Aleixo e Sony Labou-Tansi, e outros lançamentos

Aquele preto, tão preto
Co´aquela barba branca, tão preta
E aquele olhar tão meigo
De quem espera ganhar
Um sorriso incolor
João Ricardo
No dia 11 de setembro completou-se 48 anos do suicídio de Salvador Allende, que foi deposto da presidência do Chile, naquele dia, por um golpe de estado conduzido pelo general Augusto Pinochet, que se tornou ditador entre 1973 e 1990, depois senador vitalício, cargo criado por ele exclusivamente para ele. No dia seguinte, 12 de setembro, tentou-se organizar uma manifestação contra o atual governo do Brasil, um fiasco, diga-se de passagem, reunindo as forças da ultradireita, os oportunistas, os fujões, alguns grupos à “esquerda” e muitos dos que se atropelam no impasse cristão de que “a culpa é do PT e do Lula”. O convite solicitava que se fosse às ruas de branco, que tanto pode ser uma mera ausência de cor, e nulidade, que se impõe como pureza, imagem límpida, simbologia de paz etc., mas que, sabemos, pode ser também, muitas vezes, um aparato bélico e opressor, imposição de neutralidade e violência falseadas, alegoria do comando orquestrado como disfarce incolor. Daí que, no oriente, o branco figura, entre tantas coisas divergentes, ao mesmo tempo, um desdobramento para uma alegoria da morte.
No mesmo dia 11, o poeta, pensador e multiartista Ricardo Aleixo, convocando a imagem do “estrume” e de “obra” (no sentido atribuído por Sebastião Uchoa Leite a um homem da rua que, de cócoras, nu, faz ali a sua “obra”, “obrando”), disse, entre outras coisas, o seguinte sobre o livro de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, ABECÊ da liberdade: a história de Luiz Gama, publicado e retirado das livrarias pela Cia. das Letras: “o fato de um dos selos infantis da mais poderosa editora do país-pesadelo publicar um livro tão safada e ostensivamente racista não me surpreende tanto quanto a presença, em seu catálogo, de literatos de terceira tal como os estafermos Torero & Pimenta”. E a isto se atribui duas possibilidades de força que estão sempre presentes, desde uma ideia de começo, um começar, este sentido político, no pensamento e nos trabalhos de Ricardo: coragem e raiva. A primeira nos remete ao que Walter Benjamin recupera de Hölderlin, como gesto radical e incondicional, quase uma hospitalidade, um “alguém a algo”; a segunda, como a atribuição que Pasolini faz a Sócrates: “o raivoso ideal, o raivoso maravilhoso da tradição histórica é Sócrates”. Há aí um perigo empenhado, do pensamento com poesia, da poesia com pensamento, que vem de Dante, perigo cada vez mais abandonado por certos poetas, escritores, artistas etc. em troca de um luxo zombeteiro da história que não passa de uma lata de conserva de qualquer supermercado de esquina: o do comando e do controle. E basta lembrar aí, por exemplo, de outra referência essencial dos trabalhos perigosos de Ricardo: o LIXO/LUXO, de Augusto de Campos.
Recentemente, no enlace do contraponto, jogando um pouco de lama forte sobre esse mesmo impasse, o do abandono severo da coragem e da raiva que se metamorfoseou numa forja entre a burla e o pacto simpático para a nulidade, como sugere Catherine Malabou – “frieza, neutralidade, ausência, que são exemplos de uma plasticidade modal destrutiva que Spinoza antecipou admitindo a existência de um poder metamórfico destruidor” –, ou seja, uma indiferença da vida à vida que se justificaria como um suporte para a sobrevivência, aparece no Brasil um pequeno livro de Sony Labou-Tansi (1957-1995), nascido no Congo, país partido por colonizações diferentes e justapostas, traduzido do francês por Takashi Wakamatsu: O ato de respirar (publicado pelo imenso, responsável e expandido trabalho dos editores da Cultura e Barbárie Editora: Marina Moros e Fernando Scheibe). O livro vem com alguns poemas de Sony e com um bonito e emocionado posfácio de Lilian Pestre de Almeida, que conheceu o escritor, esteve com ele e percebe a inferência de uma geografia imaterial dessa África que pensa e escreve em francês. A poesia de Sony é um trabalho desmesurado, porque se projeta em torno de uma ideia circunscrita à vida como coragem, raiva e numa luta voluntária contra os “escrotos do poder”. E isto sem perder de vista que, irresoluto, O PODER É UM SÓ, não há um outro poder ou, minimamente, outras formas de poder. O plano de Sony não é sobreviver, mas enfrentar o vazio do poder com a “audácia de existir”. Por isso, não apenas “formas de resistência”, mas sim, muito mais, “forças de existência”.
É do impossível de existir que se trata quando – nessa temporalidade homogênea e calculada, estratégica e inestética – acontece algum encontro intempestivo e decomposto em disjunções. O livro recente de Ricardo Aleixo, Extraquadro (Impressões de Minas), uma espécie de solavanco da pele negra, não só reapresenta o poeta de extensões viscerais, porque é no corpo que está o desenlace fatal, logo, luta voluntária, entre dançar e planar, “com as costas lanhadas”, para desmontar a perversidade da sobrevida com uma tarefa política às avessas que não é um contragolpe a outro poder, mas um esfacelamento de qualquer ideia de poder: a da “negrinhagem”. É de fazer e refazer a questão se Ricardo, agora aos 61 anos, sobremaneira, num descolamento da perspectiva retiniana, tal como a ideia da máquina celibatária de Marcel Duchamp, não é um poeta muito mais jovem que todos/as os/as poetas jovens desse país, menos um/a ou outro/a, raramente. E isto se diz diante do frescor, da alegria e, claro, da juventude perturbadora que salta de cada trabalho que tem feito e vem fazendo. Leia-se aí a seta gráfica e incerta, quase cobra, serpes, do poema “Você fala de medo”, por exemplo: “você fala de medo, / e fala muito, / o tempo inteiro, / tudo é medo, / medo disso / medo daquilo, / e aí, enfim, o / o medo se torna: // o caminho das pedras / escorregadias / que contorna / a montanha; / o breu mais cerrado; / a cobra-rei que nenhum / outro bicho / ousa enfrentar”.
É um ponto de insurgência incomum, que não tem a ver apenas com a agenda frequentada entre oficial e oficiosa de qualquer disputa circunstanciada, que oscila essa batida de frente, de lado, pelas costas e com o coração entre a poesia de pele e corpo de Sony com a poesia de pele e corpo de Ricardo. Repare-se que Sony anota num poema: “Faço amor / no fundo / de meu sangue abissal / Não, estou pouco me fodendo / pras / suas / crises / de identidade / Ando como uma pedra-carne / porque / minha mãe me ensinou / a / morrer de costurar o tempo / toda / minha vida / […]”. Tanto em um quanto no outro, tocar um SI MESMO nunca é tocar apenas um eu que fala, numa descompostura tagarela, ao contrário, tocar algum si mesmo, afirmativamente, é sempre tocar algum outro que tenta dizer e não consegue, não pode, não existe ainda. Por isso Sony lembra que não se interessa pelo “colecionardozinho de prazeres”, nem pelo “venderdozinho de situações”, nem pelo “podador de slogans” ou pela “calculadorazinha de raças”, nem pelo “vigarista estético” nem pelo “porco ideológico” ou pelo “delinquente cultural”. O que interessa são os voluntários que se arriscam à existência praticando “o terrorismo de respirar” contra o “horrível burguês do EU”. E isto se faz, segundo Sony, escavando buracos na vida, quando respirar não é uma forma: “ Mas as palavras / Todas as palavras / Falham – Acrescentar a isso / esse / coração / que / cheira / a / cocô / […]” e “Fizemos / buracos / Nós / fizemos / buracos profundos / na / pedra das coisas / As palavras / duras / eram / nossa / única / pátria”.
Se partimos do princípio, e precipício, de existências inabitadas, figura-se a apresentação dos sentidos daquele que enquanto escreve, gesto inoperoso, principalmente, inscreve também a enunciação (e não um enunciado) de UM OUTRO. Em dois pequenos poemas do Ricardo a gente pode ler os giros da espiral em torno do quanto um corpo é a dilação do impossível; primeiro, na repetição de um ando que é inteiro mas é também parte: “mesmo qu / ando / só eu só / ando / em b / ando”; e depois, em me dis, numa abertura de revolta (no sentido mais pungente e vigoroso proposto por Furio Jesi, por exemplo: o de uma suspensão do tempo histórico que faz com que tudo o que está operando para que ela aconteça seja válido por si só. Diferente da revolução que está, por sua vez, inteiramente inserida no tempo histórico): “me dis / se a doce / voz do cora / ção que eu / tenho dentro / da cabeça: / tarde demais / para deixar / falar o medo / e começar a escre / ver (viver) com mode / ração”. Os choques de sentido são inúmeros, desde o condicional “se” até o “ver” igual a “viver” (como já está lá em Giordano Bruno, morto pela Inquisição cristã porque não abjurou: ver, ler, viver), ao final de um alimento violento a um ser humano vilipendiado em suas dignidades mais sutis: a ração.
Essa é a espuma do mundo, a última de nossas esferas da modernidade, segundo Peter Sloterdijk, que Sony emprenha nos “cem / mil / dias / amarrados / açoitados / feridos / torturados / como negos – / Eis aqui / O forro / da / mentira / humana / desfeito / no / ajuntamento / de / arames farpados / e / essa morte jovial / que falamos / em alta voz” e que, numa outra ponta do mar, em Belo Horizonte, Campo Alegre, alguns 100 mil dias depois, Ricardo anota em “E rir à solta e não morrer”: “Poder morrer // num dia quente, / tudo já seco / por dentro, e a / cidade e o mundo // alheios. Não morri / num dia assim. // Poder morrer / de tantas formas / e não ter morrido / nunca nenhum / desses tantos anos / que eu vivo // aqui entre / os humanos.” Se a literatura fracassa, sim, fracassa, ainda mais quando é apenas regulada por um cânone repetitivo, formas cristalizadas e ideias terrivelmente cristalizadas também; e isto é propaganda. Furio Jesi diz que a literatura não tem nada a ver com comunicar, é inábil e não se presta como instrumento em direção ao exterior. É um “impossível amor”. Assim, se a literatura é vínculo erótico, é só quando se deixa estrangeira até na mais íntima relação com a morte que pode ser fiel a alguma outridade, mesmo solitariamente. E isto, sabemos, com a experiência vagarosa da aprendizagem, só se faz com coragem, raiva e luta voluntária, esta espectrologia que provoca o encontro dos trabalhos de Ricardo Aleixo e Sony Labou-Tansi.

Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura na UNIRIO. Publicou O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou recentemente Uma pausa na luta (Mórula, 2020), com a participação de 70 pessoas, e juventude, alegria (Mórula, 2021, com Davi Pessoa).
[ficção]
por Redação
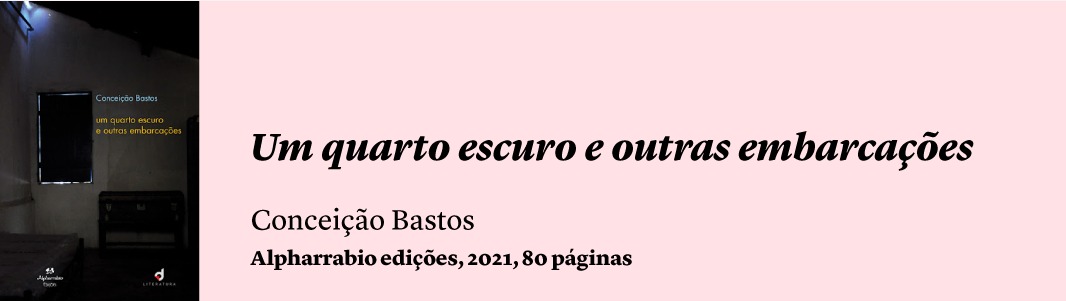 Pequenos contos divididos em oito seções, que vão das incertezas do corpo diante do quarto envolto em sombras ao “Era uma vez” de uma Rapunzel sexagenária e uma Chapeuzinho Vermelho da cracolândia. São contos de forma indefinida, que tendem à prosa-poética, e ficam no interstício, como escreve Tiago Novaes ao final do livro: “A mulher encontra a prosa tiquetaqueando no quarto da poesia, e lá dentro a desarma. A prosa fica em silêncio para gritar. E então a mulher pega o relógio e o subverte em girassol vivo”.
Pequenos contos divididos em oito seções, que vão das incertezas do corpo diante do quarto envolto em sombras ao “Era uma vez” de uma Rapunzel sexagenária e uma Chapeuzinho Vermelho da cracolândia. São contos de forma indefinida, que tendem à prosa-poética, e ficam no interstício, como escreve Tiago Novaes ao final do livro: “A mulher encontra a prosa tiquetaqueando no quarto da poesia, e lá dentro a desarma. A prosa fica em silêncio para gritar. E então a mulher pega o relógio e o subverte em girassol vivo”.
 Poemas que ocupam certo lugar indefinido em relação ao gênero literário e o eu-lírico que enuncia: fundam, assim, propriamente um ato performativo. De certa forma, todos os poemas conversam entre si, formando uma narrativa. Algo percebido, por exemplo, na constante referência ao “fernando”. Na definição do autor, é um livro que reúne “meus feitiços as notas que tomei no fim do fundo do mundo de ti de nós de mim aqui estão as pragas que lancei quando tudo que tinha o que eu tinha era um lápis uma fúria um papel um susto que nunca passou”.
Poemas que ocupam certo lugar indefinido em relação ao gênero literário e o eu-lírico que enuncia: fundam, assim, propriamente um ato performativo. De certa forma, todos os poemas conversam entre si, formando uma narrativa. Algo percebido, por exemplo, na constante referência ao “fernando”. Na definição do autor, é um livro que reúne “meus feitiços as notas que tomei no fim do fundo do mundo de ti de nós de mim aqui estão as pragas que lancei quando tudo que tinha o que eu tinha era um lápis uma fúria um papel um susto que nunca passou”.
[não ficção]
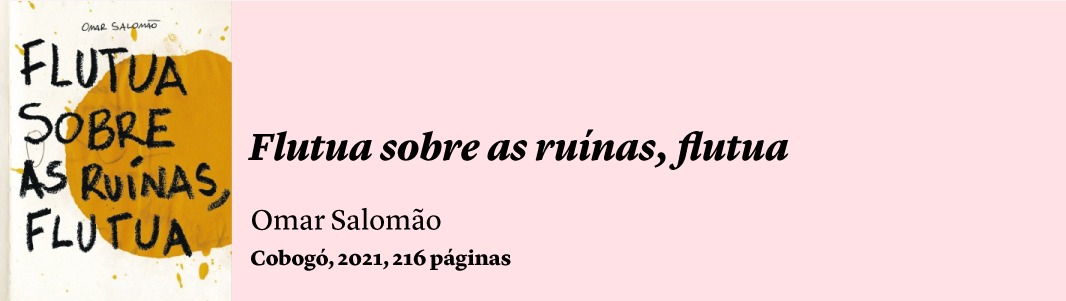 Artista, poeta, designer e cenógrafo, o carioca Omar Salomão borra os limiares entre arte e teoria no seu livro de “tentativas de ensaios”. Em meio a fragmentos de textos e memórias, o autor revisita as obras de Mira Schendel, Edgard Braga e Waly Salomão (seu pai) para pensar seu próprio trabalho à luz do ensaio. Como escreve o autor, o ponto de partida para sua investigação foi a obra Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana, de Haroldo de Campos: “Descobri ali a base do meu interesse: investigar a forma como conteúdo, a rasura e o vestígio como escrita poética, outras alternativas que não a letra diagramada sobre o cubo branco da página do poema”.
Artista, poeta, designer e cenógrafo, o carioca Omar Salomão borra os limiares entre arte e teoria no seu livro de “tentativas de ensaios”. Em meio a fragmentos de textos e memórias, o autor revisita as obras de Mira Schendel, Edgard Braga e Waly Salomão (seu pai) para pensar seu próprio trabalho à luz do ensaio. Como escreve o autor, o ponto de partida para sua investigação foi a obra Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana, de Haroldo de Campos: “Descobri ali a base do meu interesse: investigar a forma como conteúdo, a rasura e o vestígio como escrita poética, outras alternativas que não a letra diagramada sobre o cubo branco da página do poema”.
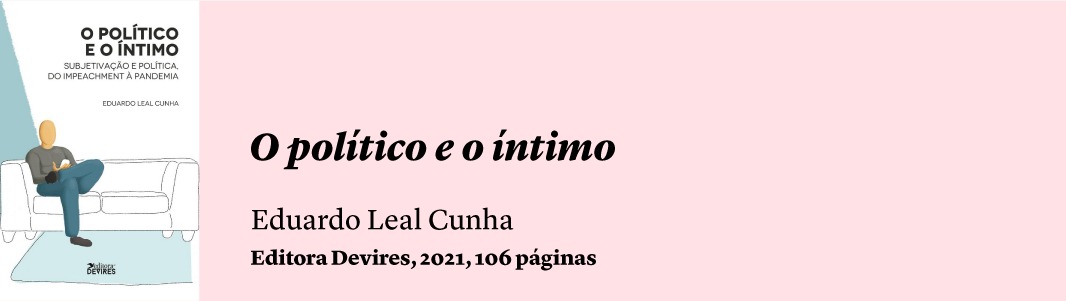 A obra articula a intimidade e a política, rompendo as fronteiras entre o público e o privado para “delinear a bico de pena as múltiplas emergências do íntimo nisso que designamos ‘hoje’”, nas palavras de Eneida Cunha. Do impeachment à pandemia, ao longo de cinco capítulos o autor tenta entender a imbricação da política na subjetividade, atento ao que movimenta discursos de ódio, xenófobos e que reafirmam a desigualdade social, em vez de tentar superá-la. Um livro que trata “das relações entre, de um lado, modos de subjetivação, ou seja, de construção da relação consigo mesmo e da relação com o outro e, de outro lado, formas de organização, ordenamento e regulação da vida em comum”, escreve o autor.
A obra articula a intimidade e a política, rompendo as fronteiras entre o público e o privado para “delinear a bico de pena as múltiplas emergências do íntimo nisso que designamos ‘hoje’”, nas palavras de Eneida Cunha. Do impeachment à pandemia, ao longo de cinco capítulos o autor tenta entender a imbricação da política na subjetividade, atento ao que movimenta discursos de ódio, xenófobos e que reafirmam a desigualdade social, em vez de tentar superá-la. Um livro que trata “das relações entre, de um lado, modos de subjetivação, ou seja, de construção da relação consigo mesmo e da relação com o outro e, de outro lado, formas de organização, ordenamento e regulação da vida em comum”, escreve o autor.
 Longo ensaio sobre 24 poetas franceses, começando com o medieval François Villon e encerrando com o contemporâneo Philippe Delaveau. Nesse percurso, passa por grandes clássicos das letras francesas, como Victor Hugo, Paul Valéry, Théophile Gautier, Baudelaire, Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire e Breton. Como escreve o autor, o livro surgiu de suas deambulações por Paris nas quatro visitas que fez à Cidade-Luz. “Depois de ler diversas biografias, localizei lugares onde viveram aqueles visionários, alguns deles há mais de 150 anos. Tracei, então, este perfil lírico-geográfico de Paris”, declara. Dessa forma, entremeia à poesia e à história de cada poeta suas próprias experiências nas ruas parisienses.
Longo ensaio sobre 24 poetas franceses, começando com o medieval François Villon e encerrando com o contemporâneo Philippe Delaveau. Nesse percurso, passa por grandes clássicos das letras francesas, como Victor Hugo, Paul Valéry, Théophile Gautier, Baudelaire, Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire e Breton. Como escreve o autor, o livro surgiu de suas deambulações por Paris nas quatro visitas que fez à Cidade-Luz. “Depois de ler diversas biografias, localizei lugares onde viveram aqueles visionários, alguns deles há mais de 150 anos. Tracei, então, este perfil lírico-geográfico de Paris”, declara. Dessa forma, entremeia à poesia e à história de cada poeta suas próprias experiências nas ruas parisienses.
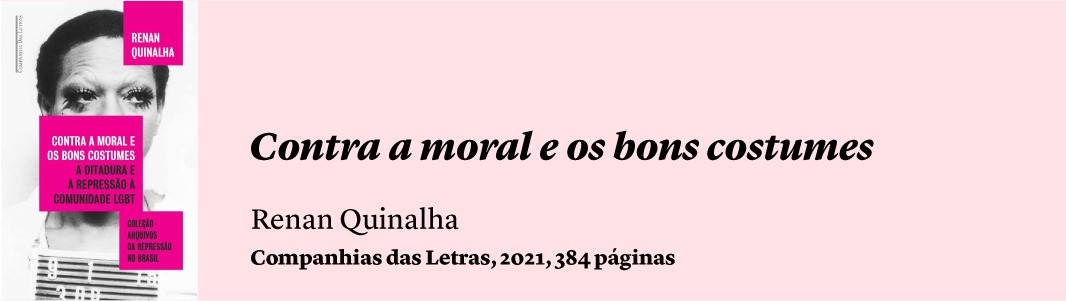 Estudo sobre a repressão aos grupos LGBT durante os anos de chumbo da Ditadura Civil-Militar. Estrutura-se em quatro eixos: a violência nas ruas praticada pela polícia repressora; a organização de um incipiente movimento de resistência; o papel do jornal dissidente Lampião da esquina, publicado entre 1978 e 1981; e a “censura em nome da moral e dos bons costumes”. O trabalho parte de documentos elaborados pela Comissão da Verdade e acervos da época ditatorial. Como escreve o autor, “o cerne das políticas sexuais empreendidas pela ditadura não era exterminar fisicamente esses grupos vulneráveis. Antes, o objetivo era reforçar o estigma contra os homossexuais, dessexualizar o espaço público expulsando segmentos e impelir, para o âmbito privado, as relações entre pessoas do mesmo sexo”.
Estudo sobre a repressão aos grupos LGBT durante os anos de chumbo da Ditadura Civil-Militar. Estrutura-se em quatro eixos: a violência nas ruas praticada pela polícia repressora; a organização de um incipiente movimento de resistência; o papel do jornal dissidente Lampião da esquina, publicado entre 1978 e 1981; e a “censura em nome da moral e dos bons costumes”. O trabalho parte de documentos elaborados pela Comissão da Verdade e acervos da época ditatorial. Como escreve o autor, “o cerne das políticas sexuais empreendidas pela ditadura não era exterminar fisicamente esses grupos vulneráveis. Antes, o objetivo era reforçar o estigma contra os homossexuais, dessexualizar o espaço público expulsando segmentos e impelir, para o âmbito privado, as relações entre pessoas do mesmo sexo”.










