A solidão dos hiperconectados
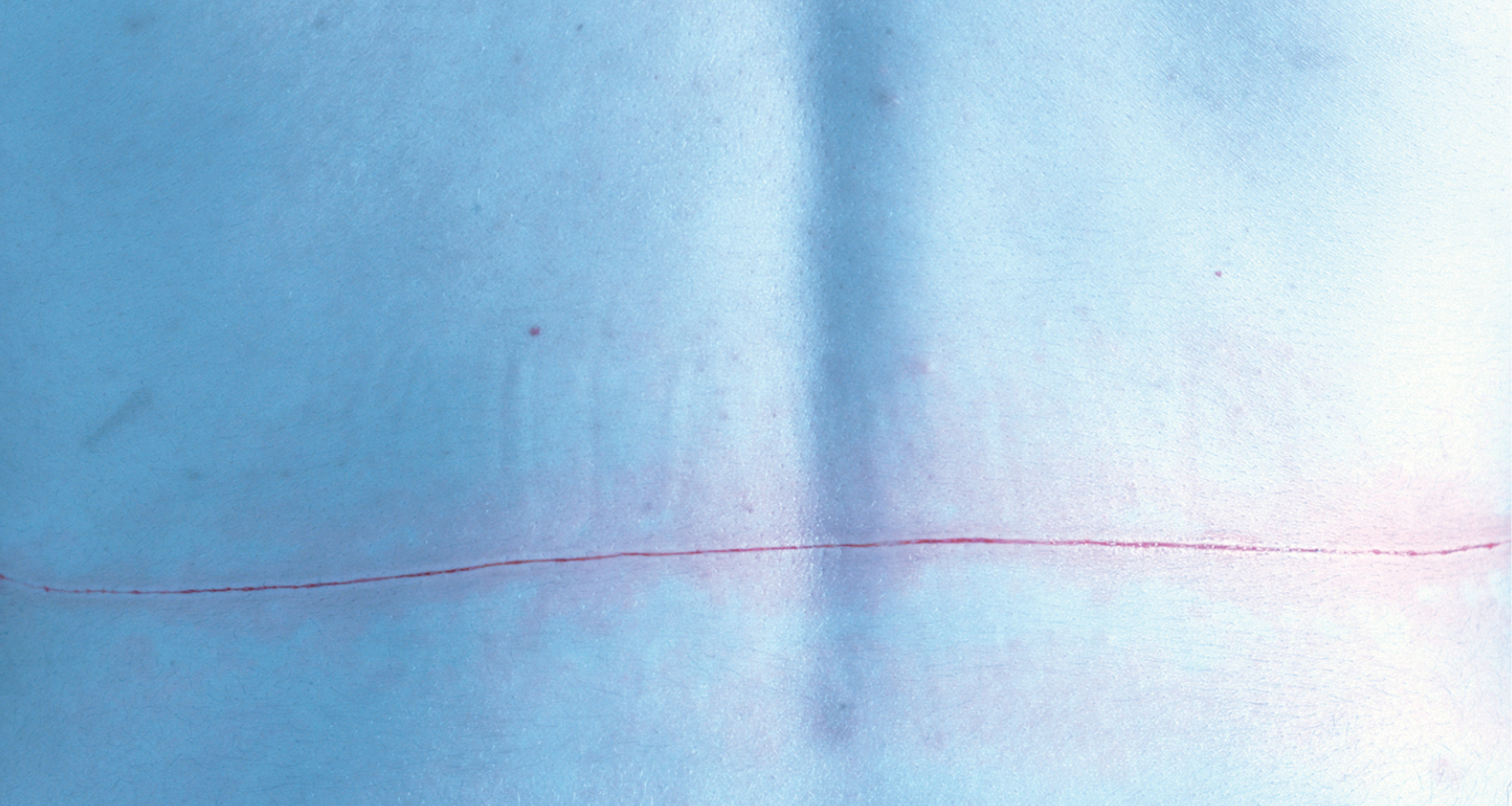
Rafael Assef, Anti-Coluna, 2002 (Foto: Reprodução)
Ninguém entra na universidade se não tiver uma perspectiva de futuro. Por que então, colapsando esse futuro, tantos jovens universitários se matam atualmente? O número de suicídios entre eles aumentou significativamente, é um fato que circula nas mídias, tanto no Brasil como no mundo. Coordenando o PsiU, um serviço que busca atender à urgência subjetiva na Universidade Federal da Bahia (Ufba), levantei algumas reflexões sobre o que aprendi com esses jovens, muitas vezes no limite de atravessar a própria imagem no espelho, na busca de uma leitura desse novo momento social. Com uma média superior a 100 atendimentos mensais, o PsiU discute em sua reunião semanal algumas características dessa geração de millennials que a distingue das gerações precedentes.
São mortes prematuras que, no mundo utilitarista, não poderiam deixar de passar pelo crivo do mestre contábil. Surge assim o índice APVP (Anos Potenciais de Vidas Perdidas), que estima, a cada 100 mil habitantes, quantos anos um país perde por conta dessas mortes. Compara-se a idade da morte do jovem com a expectativa de vida calculada em 69 anos. No Brasil, esse índice está em ascensão. Em 2015, estima-se que foram perdidos 7030 anos por 100 mil habitantes. Aspirados pelo universo virtual dos games e redes sociais, os millennials dão sinais de que algo não deu muito certo no projeto de uma aldeia global hiperconectada. De 2006 a 2015, a taxa de suicídio entre adolescentes no Brasil subiu 24%. Em um mundo onde o retorno crescente do espírito liberal leva todo jovem a experimentar-se como empreendedor de si mesmo, a miragem de relações verdadeiras nas redes oculta dramas íntimos e fracassos que não encontram tradução no mundo idealizado, e falso, do sucesso virtual.
Um estudo recente conduzido por Johannes Eichstaedt da Universidade da Pensilvânia investigou o uso do Facebook nos últimos anos e comparou um grupo identificado como tendo sintomas de depressão e outro supostamente livre desses sintomas. Com o uso de algoritmos que analisaram as postagens dos dois grupos distintos, foi possível identificar que o grupo dos depressivos havia postado muito mais sobre si mesmo do que o grupo que não tinha traços depressivos. Podemos inferir que o narcisismo não é um antidepressivo eficaz.
Quem matamos quando matamos a nós mesmos?
Em 1915, Freud escreve que, para o próprio sujeito, sua morte é irrepresentável, o simbólico não pode dizê-la. Ou seja, para o pensamento freudiano podemos dizer: penso, logo sou imortal. Por mais que afirmemos que todos os homens são mortais, não existe a inscrição da morte no inconsciente. A morte faz furo no simbólico, como disse Lacan nos anos 1970. Pensar a questão do suicídio pela psicanálise exige consequentemente um giro de perspectiva. O suicida não se mata, ele mata a imagem de si. No trabalho, nas universidades, na comédia amorosa, nos dramas familiares, no tribunal permanente da opinião pública, é sempre nossa imagem, ou ego, que marca presença. É ela que sai de cena.
E como isso ocorre? A resposta é que o ego traz consigo, se acompanhamos a teoria freudiana do narcisismo, a crença de que nosso corpo é a imagem que temos de nós mesmos diante do espelho. Nós nos reconhecemos nessa imagem, nos alienamos nessa imagem e passamos a denominá-la “eu”. Quem nunca pensou no próprio enterro ou no efeito que sua não existência causaria no outro? Quando desejamos nossa morte, continuamos a pensar nossa ausência como uma presença para além da morte. Por sermos seres de linguagem, nossa existência não tem a ver com nosso corpo biológico – que nos precede. Como nossa existência se aloja nas palavras, vivemos a eterna tensão entre um corpo biológico perecível (já que esse corpo morre) e nosso ser de fala que, entre outras façanhas, nos separa do reino animal e tem a capacidade de conjugar verbos no futuro.
Ser humano é igualmente ter que se haver com o corpo que se tem, e não apenas com o corpo que se “é”. Nossa condição de fala nos desnaturaliza, já que a pulsão de morte, tão humana, sobrepõe-se ao instinto animal de sobrevivência. Justamente por termos um corpo, podemos nos desfazer dele. É na vertigem entre ser e ter um corpo que surge a angústia heideggeriana que nos determina como um ser para a morte.
Na Antiguidade, o romano que quisesse encerrar sua vida passava por uma espécie de comitê de ética que ponderava as razões e podia autorizar o ato. Apenas os soldados, os condenados e os escravos não podiam fazer essa demanda, pois o corpo deles pertencia ao Estado. A condenação “à morte” do suicida, com seus grandes tribunais post-mortem, ocorre precisamente quando o corpo passa a ser propriedade de Deus. Dito por Santo Agostinho: não te matarás. Georges Minois, que escreveu a História do suicídio, referência incontornável sobre o tema, chama a atenção de que foi preciso o teatro inglês do século 16 para que o suicídio passasse a ser visto como questão subjetiva. Em seu livro Da faca à pena: o suicídio na literatura inglesa no renascimento, Bernard Paulin relata que, em apenas 40 anos, cerca de 200 suicídios foram encenados em mais de 100 peças teatrais na Inglaterra. Sem dúvida, o caso mais famoso é o de Hamlet, em que a questão do ser ou não ser é posta como uma interrogação que exige uma resposta sempre única para cada personagem da comédia humana.
O suicídio sem sujeito
Contudo, seguindo o destino de todo sentimento humano, o suicídio no mundo atual tornou-se patologia e passou aos cuidados da psiquiatria. Ou seja, no século 21, corpo e mente do suicida pertencem à ciência. Esse pensamento atinge proporções globais: é a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) que diz que 90% dos suicídios estão associados a distúrbios mentais e poderiam ser evitados se as causas fossem tratadas corretamente. Essa estatística tornou-se argumentum ad nauseam de toda exposição psiquiátrica sobre o suicídio nos dias de hoje. Eis o ponto inquietante: o suicídio como doença desresponsabiliza tanto o sujeito como o Outro social, torna-se uma aberração comportamental, um enquistamento maligno, cujo caminho, na maioria esmagadora dos casos, é a medicalização. Essa constatação não é nada confortável sobretudo quando inúmeros trabalhos apontam para o aumento de mortes ligadas à associação entre pensamentos suicidas e uso de substâncias químicas, antidepressivos principalmente.
O episódio da gigante da telefonia francesa France Telecom no período de sua privatização é emblemático do papel do Outro na dita “epidemia de suicídios”. Entre 2006 e 2011, o plano Next de reorganização da empresa estimulou práticas severas para reduzir mais de 20 mil postos. Uma parte, contudo, era composta de servidores estáveis, e uma política de assédio moral instituída pela empresa deflagrou uma onda de 35 suicídios, colocando seus ex-dirigentes no banco dos réus em 2019. Uma carta em particular foi decisiva no julgamento, a do funcionário Michel Deparis, que se matou em 14 de julho de 2009 e deixou como última mensagem: “Eu me suicido por causa da France Telecom, esta é a única causa”. Ora, fenômenos como esses seriam mais bem estudados se associados à necropolítica do filósofo africano Achille Mbembe do que às patologias mentais. Sim, há adoecimento, mas como sofrimento vital. Afinal, como dizia Millôr, a vida é uma doença mortal transmitida por via sexual. Não há vida sem sofrimento.
Juntos e separados
As metrópoles perderam a escala humana. Sem as avenidas e praças virtuais, há pouco espaço para o encontro. Principalmente para os jovens, a rede tornou-se a rua, mas nem tanto assim. As relações construídas virtualmente são muito mais voláteis, basta um clique para que o interlocutor desapareça para sempre. Surge mais recentemente um fenômeno apelidado de vácuo, constante nos aplicativos como Tinder, ParPerfeito ou Grindr: os casais se formam por aplicativos e começam o diálogo; quando as coisas apontam para um verdadeiro encontro ou para um relacionamento mais prolongado, um dos dois simplesmente sai da conversa e deleta o contato, sem desculpas, pedido de separação ou mesmo um simples “até logo”.
Nas relações virtuais tornou-se possível o sonho de um fim de relacionamento sem restos. É possível se “deletar” da cena. Faz parte das crônicas do amor moderno o momento em que se separam as escovas de dente, os móveis, a definição de quem vai ficar com o gato, mas também o ritual de bloquear o/a ex no Instagram e no Facebook, deletar as centenas de fotos postadas juntos e mudar o status para “disponível”, sem suportar a travessia do luto. Como diz Freud, o luto é um trabalho que leva tempo, é um trabalho feito com memórias e palavras, e tempo é justamente o que a nova geração não foi formada para perder. Para o melhor e para o pior, é muito mais fácil se descartar do outro – e de si mesmo – como um dejeto que não vai retornar pelo ralo.
Como ressalva L. M. Sacasas, diretor do Center for the Study of Ethics and Technology no Greystone Institute, se antes o estofo narcísico que fazia nosso mal e nosso bem-estar dependia de pessoas próximas do círculo familiar, profissional ou estudantil, hoje o narcisismo é refém de likes e aprovações de estranhos. As relações tornam-se consequentemente muito mais voláteis e precárias. O resultado é a manutenção de um estado de permanente dependência de um olhar anônimo e absoluto que termina por aprisionar o sujeito ainda mais nas tramas das redes virtuais.
O desejo em pane, a vida como uma playlist
A psicanálise lacaniana nos permite observar outro prisma das relações virtuais: a valorização do objeto tecnológico em si, quando este deveria ser apenas um meio para outro fim. Os smartphones tornaram-se um órgão para gozar em si, e não para conectar. Essa nova prótese forma uma geração de adictos ao deslocar o componente pulsional sexual para o próprio objeto. A baronesa Susan Greenfield, neurologista britânica, interroga até que ponto entregar um tablet a um bebê de poucos meses é melhor do que permitir que ele brinque com massinha. O mesmo se passa com a pornografia, antes feita para alimentar a fantasia durante um ato sexual e que agora é o fim em si, criando uma geração de inibidos sexuais que não sabem mais o que fazer com a “massinha” que é o corpo do outro.
Todo o conforto que a gratuidade do Gafam (sigla formada por Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft) nos proporciona tem um preço. Contudo, é sempre bom lembrar: quando o almoço é grátis, você é a sobremesa. Oferecemos nossa transparência nas redes e nos convertemos em um enorme parque de consumidores virtuais. “Se você gostou disso, vai gostar também disso”, nos convidam os novos robôs mentores. Acontece que essas playlists não foram construídas por você, escutando aqui e acolá, fuçando prateleiras de pequenas lojas reais. Elas foram criadas por seu robô favorito. As prateleiras virtuais são feitas para que você consuma mais do mesmo, única maneira de garantir o componente aditivo.
Uma gramática do olhar
Baudrillard, que além de filósofo era fotógrafo, chamava atenção para o fato de que o excesso de imagens nos tornou incapazes de enxergar o mundo. É preciso reaprender a enxergar. Assim como ensinamos às crianças o modo como vão se servir das palavras, no mundo dominado pelo Instagram é preciso ensiná-las uma gramática do olhar. No fluxo ininterrupto das redes, como enquadrar as imagens, como conectar-se com uma narrativa que inclua o outro. Quando a imagem não inclui a alteridade, ela leva ao que Lacan chamou de “regressão tópica ao estádio do espelho”, o narcisismo como última barreira antes do vazio. Recentemente uma pesquisa publicada por Reeves e colaboradores na revista Human-Computer Interaction demonstrou que a média de permanência em uma única tela de smartphone é de apenas vinte segundos. Tudo se passa rápido demais. Lacan dividiu a temporalidade subjetiva em três etapas: instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Observamos que entre o instante de ver (uma fake news, por exemplo) e o momento de concluir (compartilhá-la na rede), houve um curto-circuito do tempo para compreender. É precisamente esse tempo que é preciso restituir aos jovens, o tempo de compreensão de seu sofrimento, tempo em que correm as palavras, e que foi encurtado pelas redes sociais, deixando-os cada vez mais sem amparo entre o instante da angústia e a conclusão pelo suicídio.
Marcelo Veras é psiquiatra, doutor em Psicologia pela UFRJ e psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise
Centro de Valorização da Vida
Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.









