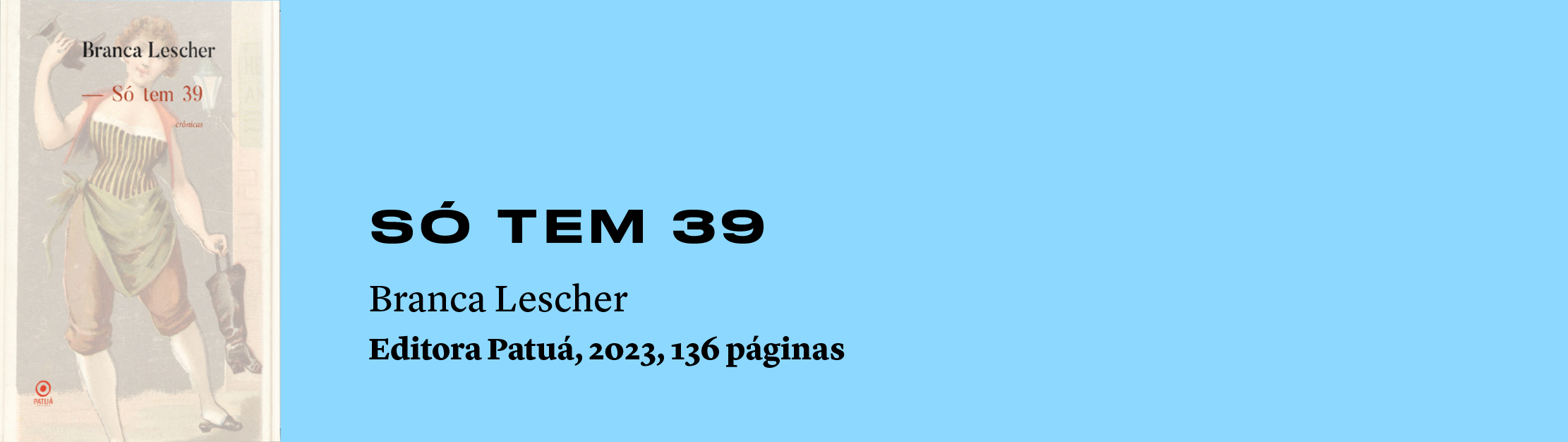Estante Cult | A possessão do artista e a arte da pitonisa
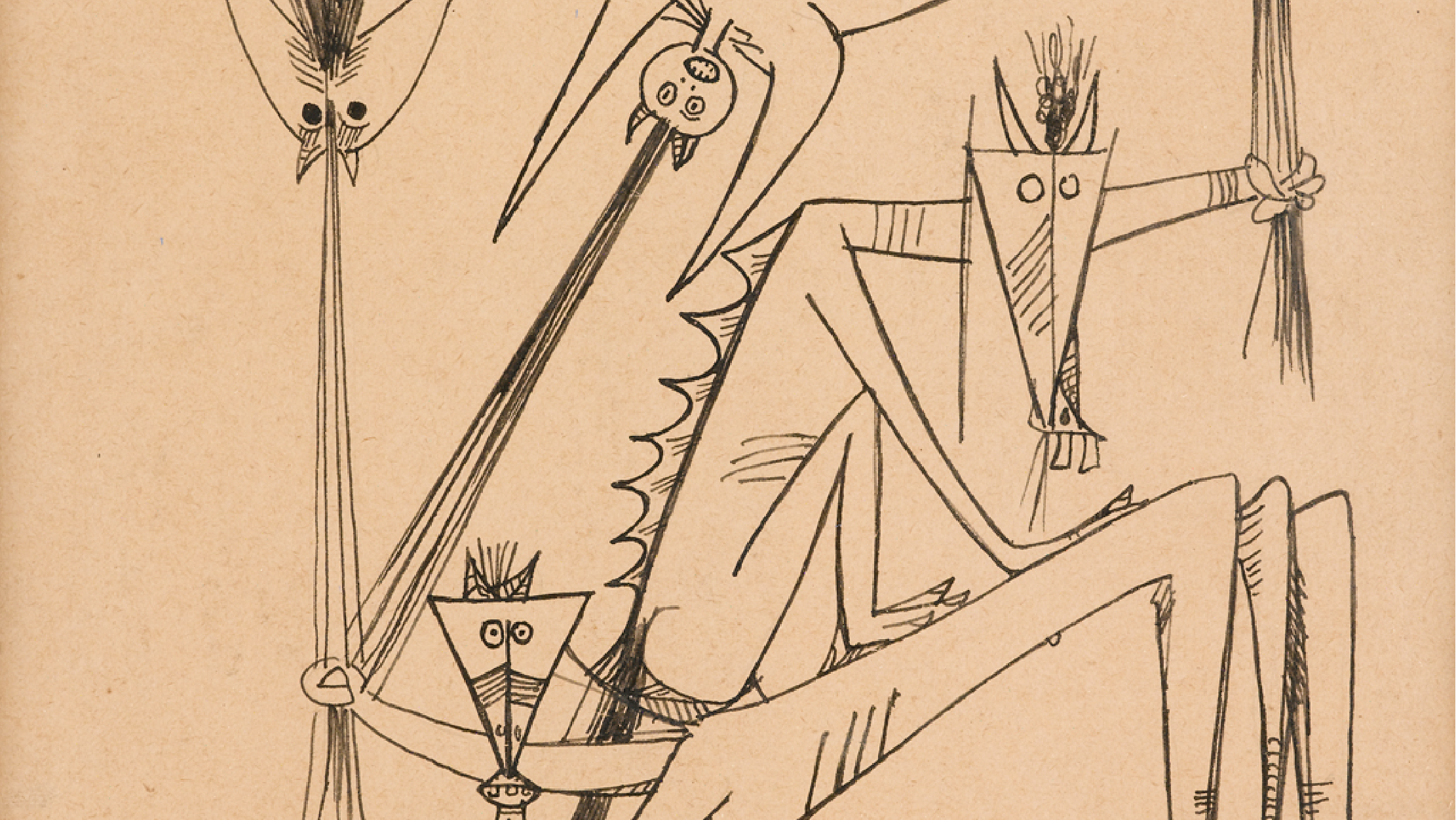
(Ilustração de Wilfredo Lam)
Como a esboçar uma poética do transe, em que a possessão ritual e a criação artística se aproximam pela força do verbo que reflui na carne e freme o corpo, o médico e escritor Pierre Mabille (1904-1952) relata sua experiência com o vodu haitiano em Os deuses falam pelos govis, recém-lançado pela editora 100/cabeças com tradução de Marcus Rogério Salgado.
A obra, publicada originalmente em 1958, seis anos após a morte de Mabille, integra suas memórias do Haiti, no período em que ali viveu como adido cultural da embaixada francesa. Pouco conhecido pelos leitores brasileiros, o autor foi próximo do surrealismo e recebeu André Breton na ilha caribenha, desempenhando “papel mercurial no estabelecimento de vasos comunicantes entre o surrealismo e o Haiti”, como escreve Rogério Salgado na introdução à presente edição.
Mesmo que sucinto, o texto conjuga diferentes questões. Inicia-se com a descrição das paisagens vislumbradas no percurso da capital Porto Príncipe ao bairro Croix-des-Bouquets, para onde o autor e um amigo, o dr. Maximilien, encaminham-se para assistir aos “loas falando em govis” — loas são o equivalente, no vodu haitiano, dos orixás afrodiaspóricos, e os govis são vasos de barro, centrais no altar vodu, pelos quais se manifestam as predições dos deuses. Essa descrição, a qual não faltam inflexões das tensões coloniais — como em uma cena na qual os comerciantes pobres são ameaçados por soldados sedentos por propina —, é permeada pela estranheza de certo sentimento de catástrofe e ruína iminentes: “a tempestade e a destruição” espreitam através da “beatitude” das paragens naturais.
Em um primeiro momento, esse estranhamento remete o leitor a uma visão colonial, pois “essa insegurança, esse perigo sempre presente e que parece eletivamente dirigido” caracterizam, para Mabille, a “atmosfera tropical”. No entanto, é desse perigo irremediável que o texto se abre à compreensão das feitiçarias vodus: ao revés do padre branco e sua crença cristã, preocupada com o futuro e com a “consciência pesada” de seu pecado original, a religião haitiana é franqueada no presente e nos perigos abruptos da realidade: “Trata-se menos de interrogar o sobrenatural acerca do futuro do que de elucidar o presente e saber a qual intenção correspondem os acontecimentos que se abatem bruscamente sobre a cabeça daqueles que não sentem a consciência pesada”.
Experiência semelhante lemos em Antonin Artaud, quando escreve “Sobre o teatro de Bali”. Para ele, a arte ritualística dos balineses faz os deuses palpitarem através da matéria, o espírito se aproxima da física e, no jogo duplo, há a liberação de “gestos, signos misteriosos que correspondem a uma certa realidade fabulosa e obscura que nós, ocidentais, definitivamente recalcamos”. Assim como se trata de uma expressão fundamentada “sob o ângulo da alucinação e do medo”, é por causa da intensa e perigosa realidade tropical que Mabille atribui as vozes cavernosas e trovejantes dos loas, como de Ogoun Ferraille, que se manifesta em sua presença a falar em créolé sobre a saúde dos consultores e prescrever fórmulas curativas.
Esse contato não se dá sem tensões, pois “nem eu nem o dr. Maximilien aceitamos facilmente que fosse o deus a falar, atentos a qualquer fraude”. Com o olhar cético de um cientista europeu diante da irrupção do inexplicável, o autor narra como eles investigam o houmfort, ou altar, à procura de uma falsificação para, em seguida, ponderar sobre ventriloquismo, dissociação e outras técnicas que poderiam simular a manifestação mágico-religiosa. Ao lado da desconfiança, no entanto, há a abertura à possessão no que ela tem de prevalência de signos e gestos pelos quais se expressam a realidade fabulosa e obscurecida pelo mentalismo europeu, o que estrutura o próprio relato na contração (des)colonial — possível reflexo da filiação de seu autor à proposta política e estética surrealista, cuja relação com as “artes primitivas” e culturas não europeias é brevemente contextualizada no prefácio do tradutor Marcus Rogério Salgado.
Nessa chave de leitura, a possessão aproxima-se da criação, em um programa artístico que não nos deixa esquecer o surrealismo: “O estado em que se achava a mambo [sacerdotisa vodu] é exatamente comparável àquele no qual o artista se encontra no momento em que cria, o autor durante sua atuação, todos que se sentem possuídos por um mecanismo a que não se conhece e a que chamam de inspiração, sentido como uma voz, como uma força que neles fala, que os possui, que os penetra e que faz com que se movam a seu desígnio”, escreve.
Mabille retorna a essa impressão com as vidências de uma velha senhora em Porto Príncipe e com os desdobramentos de um jogo de búzios oracular jogado por um feiticeiro em Cuba, com o qual encerra o relato — são manifestações que, tal “jato espontâneo” da inspiração artística, aproximam-se do “protesto surrealista contra as religiões, que têm obstruído e sistematizado aquilo que, no homem, tem o poder de o ultrapassar”.
Na mesma toada da célebre proposição de Arthur Rimbaud, “Eu é um outro”, que não apenas anuncia a outridade, mas a contrai na gramática de um eu que conjuga o verbo ser na terceira pessoa, podemos ler a breve narrativa de Pierre Mabille. O eu, aqui, torna-se outro na própria matéria narrada, com a possessão da sacerdotisa, e pela forma de o autor pensar a criação artística e poética intrincada à sua abertura a outros mecanismos de verdade: potência que leva o homem para além dos limites da racionalidade científica e europeia. Como escreve, “todas as discussões promovidas pelos racionalistas modernos sobre a simulação ou a sinceridade dos espíritos e das pitonisas provam até que ponto a mentalidade racionalista, lógica e científica (que maneja com dificuldade seu princípio de identidade) é incapaz de apreender todas as sutilezas do mecanismo da simulação e da verdade”. Pela brevidade do texto, no entanto, fica o leitor a se indagar até que ponto seu autor, efetivamente, tornou-se outro e se descobriu na alteridade de sua experiência.

ESTANTE CULT | NOTAS
Welington Andrade
Inveja e outras histórias reúne 26 contos do escritor, tradutor e jornalista Bernardo Ajzenberg, autor, entre outros livros, de Variações Goldmam (1998), A gaiola de Faraday (2002, prêmio de ficção da Academia Brasileira de Letras), Homens com mulheres (2005, finalista do prêmio Jabuti), Olhos secos (2009, finalista do prêmio Portugal Telecom de Literatura), Duas novelas (2011), Minha vida sem banho (2014, prêmio Casa de las Américas) e Gostar de ostras (2017). Na coletânea, sobressaem as narrativas dedicadas à perscrutação, breve, mas incisiva, de algumas situações não usuais, tingidas por uma atmosfera de arrematada estranheza. No conto de abertura – “Nos olhos dele” –, o protagonista Sergio recebe um telefonema de um antigo professor de ginásio, Alves, que agora ocupa um importante cargo político em Brasília. O mestre convida o ex-aluno, jornalista de uma importante revista, a ir visitá-lo em Brasília. Sucede-se um episódio de decepcionante venalidade para Sergio, envolvendo alegoricamente tanto os óculos escuros como o estojo do velho trompete do professor. No conto de encerramento – “Sufoco” –, um pai inventa um método bastante arriscado de fazer a filha recém-nascida dormir e vive a ameaça de que seu pequeno delito seja descoberto pela própria esposa. Conforme afirma Cristovão Tezza no posfácio, nos contos do autor, “a imaginação da estranheza ganha uma centelha de vida que se revela e se consome abrupta na própria imagem: ela – muitas vezes apenas um acidente, um breve lampejo, uma percepção inesperada – é o seu próprio sentido”. Trata-se de um tributo à imaginação, tão rarefeita na literatura hiper-realista dos dias que correm.

Publicada na Coleção Teatro Contemporâneo da Editora Javali, a peça Iti ka bati ka (expressão japonesa que pode ser traduzida como “oito ou oitenta” ou “tudo ou nada”) constitui um exercício dramatúrgico de grande ousadia formal e fina sensibilidade. A autora, Alice K. Yagyu, diretora teatral e docente de artes cênicas na Universidade de São Paulo, converte em ação dramática seu convívio com a mãe, dona Azuma, 97 anos, durante o período da pandemia, articulando com muita maestria os fios da memória à trama da ficção, temas que investiga no Núcleo HANA de Pesquisa e Criação, sob sua direção. A brevidade das cenas chama a atenção tanto quanto o grande poder de sugestão que elas evocam. Na primeira parte – “O mundo a girar” –, vinte fragmentos são construídos em torno dos ágeis diálogos entre mãe e filha, às voltas com o isolamento causado pela pandemia. A., nipodescendente, idade não definida, leva Dona Azuma para sua casa a fim de cuidar melhor dela durante a fase mais aguda da pandemia. Acolhimento, afeto e preocupação dão o tom dessas interações. Na segunda parte – “Se não me falha a memória” –, outros vinte e dois excertos constituem-se em diminutos monólogos, por meio dos quais a matriarca dá vazão às suas recordações. Nascida no Japão, a nonagenária imigrou com a numerosa família para o Brasil em 1934, aos oito anos de idade, vivendo aqui a perda precoce de dois irmãos e de sua mãe. A parte final – “(Des) aparecimentos” – radiografa em dez cenas, que em momento algum cedem a qualquer tipo de sentimentalismo, o ocaso da vida e a reflexão sobre a finitude. Ilustrado pelo também ator e iluminador cênico Bruno Garcia, o livro de Alice K. (como ela era conhecida nos tempos do Grupo Ponkã) convida o leitor/espectador a conhecer uma dramaturgia rara, porque eloquentemente concisa. Um quase nada de expressão na cena teatral dos dias que correm, ávida por querer falar e falar e falar a respeito de tudo.

“Eu acho que o cronista é o poeta em férias, né?” A frase de Vinicius de Moraes é citada em uma das crônicas que integram o volume Só tem 39, da também poeta Branca Lescher. (Seu primeiro livro de poemas, Fibromialgia, data de 2016.) O livro reúne quatro dezenas de textos breves, bem-humorados, irônicos, que, a despeito de inicialmente divertirem o leitor, acabam por levá-lo a algumas boas reflexões sobre a vida contemporânea. Sensibilidade e trato com a linguagem não faltam à autora, que além da literatura, dedica-se igualmente à música, como cantora e compositora, já tendo lançado os discos Branca e Eu não existo. No texto de abertura, “Transa sexo?”, a narradora se recorda de um episódio de quando tinha 16 anos e começou a fazer teatro na escola. A iniciação artística (“Percebi ali como o palco é um lugar muito precioso pra mim”) se dá pela via de uma pretensa liberação de costumes típica dos anos 1980, que hoje se tornou deveras problemática. O sexo reaparece mais ao final do livro na impagável crônica “Sweet Motel”, em que a pergunta da recepcionista ao casal, “Correu tudo bem?”, na hora do pagamento do quarto convida a autora ao exercício de inúmeras respostas possíveis e a um improvável reencontro com a funcionária do local. A convivência com o pai, a ausência dele, as memórias de infância, a morte precoce da mãe, as viagens nacionais e internacionais, as amizades, os flertes, o casamento, a separação são temas que atravessam o livro, assim apresentado pelo psicanalista Daniel Kupermann no prefácio: “Um livro de crônicas, que podem ser degustadas em qualquer ordem. Não importa. O leitor certamente vai se reconhecer em suas emoções de adolescência, seus love stories frustrados, em suas relações familiares, amizades significativas, no prazer da solidão. E, sobretudo, em suas ‘bobagens’, como o menino Hans nomeava suas fantasias no célebre caso analisado por Freud”. Tecidos pelos pequenos acontecimentos do dia a dia, que a crônica como gênero capta tão bem, os fiapos de história habilmente cultivados por Branca Lescher superam com muita criatividade os discursos automáticos sobre a vida como ela é que vimos contando uns aos outros nas redes sociais.