Estante Cult | De que modo contar àqueles que não viveram a época que tipo de dor era?

A escritora francesa Marguerite Duras
.
“Como pude escrever esta coisa que não sei ainda nomear e que me assusta quando a releio? Como pude ter abandonado assim mesmo este texto por anos, nesta casa de campo frequentemente inundada no inverno?” Com tais palavras tingidas de hesitação e assombro, Marguerite Duras se refere à série de diários escritos em sua juventude – que ela descobriu em meados da década de 1980 nos armários de sua casa de campo em Neauphle-le-Château – nos quais descreve sua participação na Resistência Francesa junto a seu primeiro marido, Roberto Antelme, e os dias de aflição intensamente vividos quando ele é preso em Paris e enviado para um campo de concentração na Alemanha.
Publicado originalmente na França em 1985, A dor reúne seis textos (e ainda um sétimo, a título de bônus), escritos em diferentes fases da vida da autora, em que ela conjuga memória e literatura, drama histórico e sofrimento pessoal, retratando a série de personagens que circulavam pelas ruas da capital francesa entre os anos de 1944 e 1945 (membros da Gestapo, a elite colaboracionista parisiense, milicianos e resistentes), quando a derrota dos alemães já era dada como certa, mas os horrores nazistas ainda não tinham data para acabar. Segundo escreve Laura Mascaro no posfácio do livro, “A dor é marcado pelas fraturas do tempo, as descontinuidades e as variadas formas da tragédia humana que são características de uma memória viva e mutável”.
O primeiro texto, que dá título à obra, é escrito sob o signo da apreensão e da revolta. Nele, o leitor se deixa contaminar pelo ritmo vertiginoso das anotações do diário da escritora, cujas frases curtas não somente o colocam no mesmo modo de apreensão da mulher angustiada para saber o paradeiro do marido como também funcionam como uma espécie de roteiro visual das ações descritas (em 2017, o livro transformou-se no filme Memória da dor, dirigido por Emmanuel Finkiel). Três eixos básicos sustentam essa parte: o do próprio relato da busca obstinada por notícias sobre o destino de Roberto Antelme, o da desconcertante constatação dos horrores do nazismo (“Como se pode ser ainda alemão?”) e o de uma crítica contundente a respeito de como a França do general Charles De Gaulle tratou os incomensuráveis esforço e heroísmo dos homens comuns e dos resistentes diante da guerra (“De Gaulle declarou luto nacional pela morte de Roosevelt. Nenhum luto nacional para os deportados mortos. Os Estados Unidos devem ser poupados. A França estará de luto por Roosevelt. O luto do povo não tem lugar”).
O texto seguinte – “Senhor X. chamado aqui de Pierre Rabier” – constitui o relato do relacionamento sui generis que Duras estabelece com o agente da Gestapo que poderá revelar-lhe o paradeiro de seu marido. Há uma mútua atração entre eles, mediada pela dependência desesperada, da parte dela, e por certa curiosidade pessoal, da parte dele. Pierre Rabier é um personagem bastante atraente pelo misto de carrasco assumido e de homem de ideais elevados que encarna. “Ele havia entrado para a Gestapo porque não tinha conseguido comprar uma livraria de livros de arte (sic)”, registra Duras, sem duvidar ou mesmo escarnecer da informação em momento algum. Assim, ficamos sabendo que o homem que havia comprado edições originais de Mallarmé, Gide, Lamartine, Chateaubriand e Girandoux professava uma fé genuína na Alemanha nazista, compatibilizando dois mundos que parecem impossíveis de harmonizar. O homem com ar de cavalheiro e capaz de bondades ocasionais também tinha medo de seus colegas alemães, embora não se intimidasse em torturar mulheres.
Os textos seguintes – “Albert do Capitales” e “Ter, o miliciano” – tratam, respectivamente, de assuntos igualmente exasperantes: a sessão de tortura de um delator pelos membros da Resistência e a atração exercida por um mercenário de fina estampa convencido da própria abjeção (“Se Ter viveu deve ter estado daquele lado da sociedade em que o dinheiro é fácil, a ideia é rasa, a mística do líder toma o lugar da ideologia e justifica o crime”).
Por fim, o par de textos finais – “A urtiga partida” e “Aurélia Paris” – são documentos estritamente literários, escritos sob a ótica da imaginação. Depois do posfácio, o volume ainda oferece aos leitores um último texto – “O horror de um tal amor” – breve, e lancinante, a respeito da perda do filho da escritora, morto ao nascer.
Ler A dor nos dias que correm é atrelar memória e história com vista a combater o esquecimento. A experiência transmitida pela autora é a da brutalidade sem comparações com a experiência do cotidiano. Impossível não se lembrar de Primo Levi, que, de acordo com as palavras de Márcio Seligmann-Silva, “utilizou a língua medida e sóbria da testemunha, não a lamentação da vítima, nem a raiva do vingador” para homologar-se ao projeto que o vitimou, para poder compreendê-lo melhor em sua própria racionalidade. Viver para lembrar. Lembrar para escrever. Escrever para compartilhar. Em tempos em que a barbárie volta a nos espreitar e que muitos de nós – homens médios, bem pensantes, partidários do bem – reagimos a ela com cinismo e desfaçatez, a única possibilidade de resposta ao horror do fascismo, afirma Marguerite Duras, “é torná-lo um crime de todos. Partilhá-lo. Assim como a ideia de igualdade, de fraternidade. Para aguentá-lo, para tolerar a ideia, partilhar o crime”.

ESTANTE CULT | NOTAS
Paulo Henrique Pompermaier
À luz do pensamento do crítico Paulo Emílio Sales Gomes — para quem “o cinema se integra nas universidades e chegará a hora em que o filme vai se entrosar com a educação” e “as lições de nosso passado cinematográfico se tornam conhecidas e ajudam a compreender o que sucede em nossos dias” — podemos ler o lançamento de Rosana Elisa Catelli, que se debruça sobre a relação entre cinema, história e educação. Em três eixos, a autora faz um panorama do cinema educativo entre as décadas de 1920-1930, conceitualiza o cinema nacional, pedagógico e documental, e pensa no contexto cultural brasileiro em que a sétima arte estava inserida. Na primeira parte, aborda a Escola Nova e o início de um cinema educativo no Brasil, citando autores que se empenharam em viabilizar e propagar o cinema pelo país, como Anísio Teixeira e Edgar Roquette-Pinto. Na segunda, discorre sobre a revista Cinearte e sua defesa do cinema como forma de educação em grande escala. Por fim, a pesquisadora encerra com um levantamento bibliográfico da produção acadêmica dedicada a pensar a relação entre cinema e educação, em especial no recorte temporal abrangido por Cinema e educação.

Estreia da Editora Ercolano no mercado editorial brasileiro, A menina que não fui é uma espécie de romance de formação do escritor francês Han Ryner, mais conhecido por suas publicações teóricas sobre o anarquismo individualista. Publicado em 1903 sob o título La fille manquée, ele acompanha em primeira pessoa a vida e a feitura psicológica de François de Taulane durante os anos em que frequentou o liceu católico Saint Louis de Gonzague. No período, descobre suas inclinações homoafetivas e encontra-se pressionado pela hipocrisia religiosa, de um lado, e a zombaria (ou bullying) dos colegas, de outro — sua motivação para escrever as páginas confessionais que estruturam o romance. Na crise, François vislumbra desconfortos com seu gênero que ultrapassam o âmbito sexual, o que leva alguns comentadores a lerem no protagonista um impulso transexual avant la lettre. A formação disruptiva do personagem também aparece na forma como se estrutura a narrativa, que mistura monólogos interiores, epístolas, diário e páginas confessionais.

Quando foi chamado pela Universidade de Harvard, em 1951, para dar aulas sobre o romance ocidental e, em especial, o Dom Quixote de Cervantes, o romancista russo Vladimir Nabokov percebeu que os professores estadunidenses tratavam o clássico espanhol de forma “gentrificada”, como uma narrativa burlesca e divertida sobre as aparências e a realidade. Seu primeiro intuito, portanto, ao esboçar as aulas sobre as aventuras de Dom Quixote e Sancho Pança, foi estabelecer as bases nas quais, pensava ele, a obra estava assentada: um retrato cru e cruel do período mais brutal da Idade Média. Para isso, Nabokov empreende uma detida análise das personagens, das temáticas do livro e de algumas questões que estruturam o enredo, a fim de chegar a uma interpretação dialética do romance como um todo, entre a crueldade e a mistificação, as vitórias e derrotas. Tais anotações de aula viriam a compor essas Lições sobre Dom Quixote, editadas e publicadas há 40 anos nos Estados Unidos e, pela primeira vez, traduzidas no Brasil.
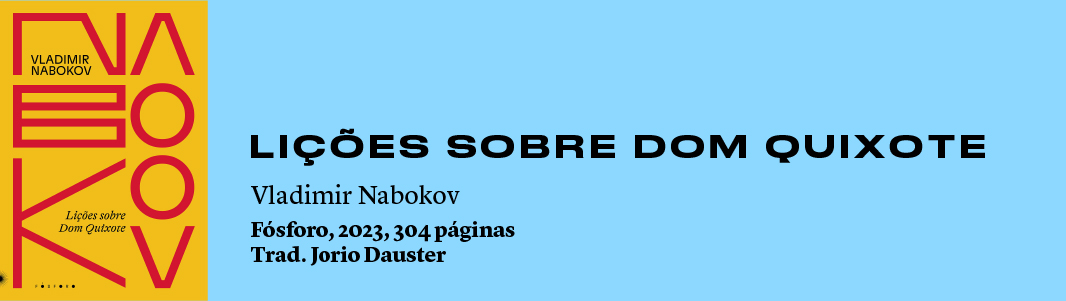
“Eyeball Kid” é o nickname pelo qual conhecemos o protagonista de Mil placebos. Frequentador de fóruns de discussão online desde os 15 anos, seus assuntos de predileção eram “Criptografia em diferentes linguagens, compressão de arquivos de vídeo e som, processamento de dados, músicos obscuros fadados ao fracasso, filmes perdidos” e outros temas do universo digital com o qual se entretinha durante horas. Quando ele descobre que a garota com a qual se relacionava virtualmente, de codinome “Jersey girl”, se suicidou, promove uma investigação às raias do delírio, intensificado por sua “personalidade esquizoide”, como é diagnosticado a certa altura do romance. Ao imputar um desvio esquizo ao protagonista-narrador de seu livro de estreia, Matheus Borges também promove um diálogo com a filosofia contemporânea, evidenciado na referência a Mil platôs de Deleuze e Guattari já no título da obra. Afinal, essa parece ser uma intenção do autor: refletir pelo trato literário sobre o mundo digitalizado da contemporaneidade, a vida sob o necessário efeito de placebos e uma experiência que cada vez mais se desterritorializa e fragmenta em dispersão. Nas palavras do narrador, “o tempo real era devagar demais. A maneira como tinha aprendido a extrair as informações, desde o começo da adolescência, era muito diferente do tempo real”.











