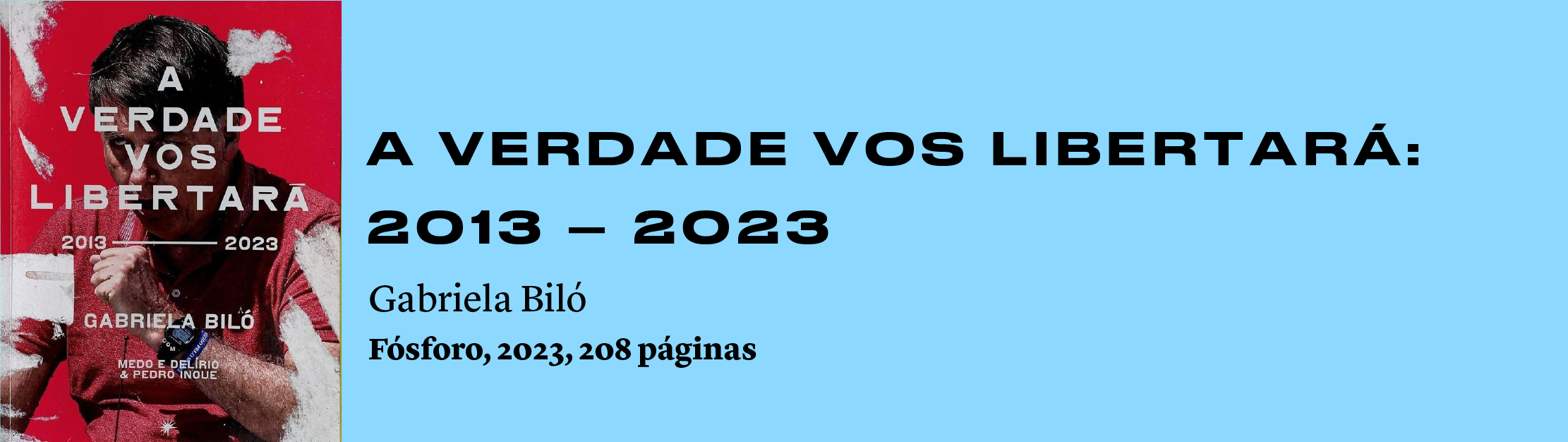Estante Cult | O cavaleiro de bronze e a urdidura de destroços

.
Entre os deuses e os reis, o que pode o homem da plebe?, indaga o leitor diante de Evguéni, o herói trágico do poema “O soldado de bronze”. Escrito em 1833 por Aleksándr Púchkin (1799-1837), considerado o iniciador da literatura russa, o poema narrativo estabelece o mito fundador da cidade de São Petersburgo pelo tzar Pedro, o Grande, em 1703, e retrata a primeira enchente que devastou a nova capital russa cem anos depois, em 1824.
Pela primeira vez publicado integralmente no Brasil, o poema faz parte de O cavaleiro de bronze e outros poemas (Kalinka, 2022), coletânea que ainda traz um excerto da versão de Púchkin do pacto mefistofélico de Fausto e mais 39 poemas curtos. No texto que intitula o conjunto, vislumbram-se a ironia e a contradição que marcam a poesia de Púchkin, que, aliadas à intensa carga poética, questionam o lugar do povo diante dos desmandos dos poderosos.
Na introdução do poema, de 97 versos, o próprio tzar Pedro aparece como personagem central. Observando os isbás miseráveis no meio de um pântano, às margens do rio Nevá, decide construir ali uma moderna cidade próxima à Europa. As imagens de fundação da “Pétrea urbe” são portentosas. “Ao mar”, o tzar decide “fincar pegada em firme andar”, em um movimento que firma o artífice civilizatório sobre a própria natureza bravia: “ao norte o belo, a maravilha:/ e mata: umbrosa; e lodo jaz –/ do brejo a terra ascende: brilha”. Em seu impulso de criação, Pedro aparece quase como um demiurgo: “Pensou – pulsão”, pois o pensamento segue colado à ação, em potência de ato criador que o aproxima de um ser mítico.
Findo o preâmbulo da narrativa, com seu esplendor de criação e de cidade fervilhante, de “farra aos livres, baile, ação/ dos copos, brindes tão ferozes”, somos introduzidos na “primeira parte”, de 167 versos, ao protagonista Evguéni, um pequeno funcionário de São Petersburgo que vislumbra construir uma família com sua amada Paracha. Porém, seus devaneios amorosos são interrompidos pelo transbordar do rio Nevá e suas “espumas d’água-algoz: vilã”. Após cem anos, a natureza sobre a qual foi construída São Petersburgo não parece mais tão plácida e avança sobre a cidade:
Nevá empurrado para trás,
com ódio, zanga, turbulento;
e afunda as ilhas; e, aliás,
cruel, pior, o clima estava;
rugia o rio: grossura brava;
borbulhas, biles: caldeirão;
e feito fera, supetão,
verteu-se na cidade.
Em meio à tragédia, o tzar entrega o desastre a deus e à sorte do povo e declara: “Decidido por Deus, o tsar não pode opinar”. Como nota a professora Aurora Bernardini, as “alusões irônicas aos hábitos e ao regime” eram caras à poética de Púchkin, para quem “a literatura era também uma forma de eludir a censura do czar Alexandre I”.
Desassistido pela governança, Evguéni sobrevive ao se agarrar a um leão de mármore da Praça do Senado, onde está localizada a estátua equestre de Pedro, o Grande, construída em 1782 pelo francês Étienne Falconet. Ao ver as águas e ondas a tudo engolir, o protagonista questiona a própria existência, cujos alicerces são abalados pela natureza indomável – “será/ que não é sonho, que se acha/ em sonho, a nossa vida vil?” –, como o mendigo de nosso Quincas Borba que, diante do terrífico céu incontrolável, pede-lhe que ele não caia sobre sua cabeça.
Mas, ao contrário do céu que partilha de um “jogo do siso” com o mendigo, as “vagas – raiva, ataque” –/ ladrões parecem”, devoram a cidade em “Predatório/ inchar: titânico ondear/ nervoso”. É então que Evguéni percebe, às suas costas, a figura do Cavaleiro de Bronze: “intacto ao rio vulgar/ (Nevá que arrasta um tosco estalo),/ com braço ao vasto, em seu cavalo/ de bronze, o ídolo a montar”. A grandeza mitológica de Pedro, o Grande, que aparece na introdução do poema, é reforçada aqui pela permanência imutável de sua estátua diante da cidade arrasada. Tal como um deus, ele se sobrepõe à natureza: o “Nevá febril”, diante de seu ídolo, não passa de “rio vulgar” e “tosco estalo”.
Após a aparição fantástica do Cavaleiro de Bronze, a segunda parte, de 229 versos, já se inicia com a contraditória imagem de águas que “urdem destroços”:
De restos farto (caldos grossos)
e à estafa de enredar revés,
virou-se o rio Nevá: no invés
apreciando: urdiu destroços.
Tal como o rio, que tece a destruição, e os versos que revolvem em revés e invés, a figura do ídolo fundador passa gradativamente a perverter-se na de tirano soturno, de cuja fatal vaidade nasceu a vontade de fundar “no mar sua cidade”.
Quando as águas se acalmam – “a espuma-vestimenta: arfante o rio, qual – larga venta –/ cavalo pós-combate audaz” –, Evguéni sai em meio ao “caos-balé” para procurar Paracha no que restara da cidade: “naufrágio, entulho; […] casas retorcidas, caídos corpos”. Ao constatar que o barracão da amante fora levado, o herói perde a razão em desvario, “racha ardida/ risada”.
Passa a viver como mendigo e peregrino, “estranho, asceta”, a vagar “ao léu-destino./ [..] entregue às ruas – transição”. Até que em uma noite se percebe diante da fatídica estátua e, como o “arrojo de enxurradas”, voltam-lhe as lembranças das “ondas-predação” e da enchente que o atirou em desgraça. Pragueja contra o “feitor do imenso” e sua megalomania de construir cidade em área inóspita, pelo que recebe a punição de, nas noites seguintes, ouvir o trote do Cavaleiro de Bronze em seu encalço, a tirar-lhe satisfação de suas injúrias contra o patrono daquela Petrópolis arbitrária.
Acossado pelo trotear miraculoso do “Cavaleiro Éreo”, vive Evguéni os últimos dias de sua vida, plebeu que nada pode entre os jogos de força de um tirano que se quer demiurgo e a natureza que não se verga à ousadia tzarista. Com a ironia sarcástica característica de seus versos, Púchkin desloca sutilmente a vigorosa figura de Pedro, o Grande – o homem que concretiza o processo civilizacional russo –, para o sinistro cavaleiro metálico cuja sanha de grandeza espezinha a população miserável. Assim como a natureza, aparentemente rendida à pulsão criadora do tzar, verga o artifício humano com o desenrolar da história.
Em meio a essa tensão, Púchkin constrói um pilar na literatura russa de compreensão social e psicológica de seu povo. Além de suas inovações formais e métricas – como o estabelecimento da metrificação greco-latina clássica, mais eficaz para a expressão poética da língua russa –, o poeta também questiona o lugar da autocracia russa ao estender o olhar empático aos seus, tomando a própria São Petersburgo como personagem mítica que, ambiguamente, encerra o impulso criador que ao mesmo tempo se torna o motor da destruição: “Da época de Púchkin à de Dostoiévski, São Petersburgo sobressai na literatura russa como um símbolo de criação arbitrária; a estrutura inteira havia sido esconjurada do pântano e da água pela mágica cruel da autocracia. Não estava enraizada na terra nem no passado”, nota o crítico George Steiner. Tal como o Nevá do poema: urdidor de destroços, tecido que constrói o texto a partir dos escombros de uma cidade e de seus Evugénis perdidos e exasperados.

ESTANTE CULT | NOTAS
Welington Andrade
A lista dos lançamentos recentes que tratam com aguda inteligência da crise do capitalismo que o mundo contemporâneo vem atravessando ganha um título de peso: A fratura brasileira do mundo, de Paulo Eduardo Arantes. Publicado em 2001 e 2004, respectivamente, como capítulos das coletâneas Polarização mundial e crescimento (organizada por José Luis Fiori e Carlos Medeiros) e Zero à esquerda (de autoria do próprio filósofo), o ensaio ganha – neste 2023 pós-pandêmico e pré-apocalíptico, o estatuto de obra autônoma, a ser lida com a concentrada atenção que demanda do leitor. Partindo da problematização do mito do país do futuro, “condenado a dar certo”, Paulo Arantes examina o processo de brazilianização que ameaça os países centrais (antes, tomados por nós como modelos) e o confronta, de modo muito contundente, com o “admirável mundo novo do trabalho” que se construiu por aqui, em que flexibilização e ilegalidade, por exemplo, se equivalem e são tomadas como marcas da nossa incontornável modernização.

A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo, do jornalista norte-americano Max Fisher, é um ótimo exemplo de como a prontidão crítica ainda é a base da atividade jornalística, que aos poucos vai se confundindo, lamentavelmente, com a anódina área da produção de conteúdo. O repórter do New York Times concebeu uma caudalosa reportagem investigativa tomando como fontes não somente pesquisadores e gestores das grandes empresas mundiais de tecnologia da informação como também usuários das redes e vítimas delas. Os resultados são chocantes. O misto de ideologia e cobiça e a opacidade tecnológica na complexidade do machine learning estão na base do projeto de desinformação, ódio e tribalismo em curso nas grandes corporações do Vale do Silício, cujos executivos insistem em lavar as mãos sobre tais ocorrências. “As máquinas, no que diz respeito a tudo que importa, são essencialmente desgovernadas”, afirma o autor, citando para encerrar o trabalho a ameaça que o robô de 2001, uma odisseia no espaço, já fazia à humanidade na década de 1960.
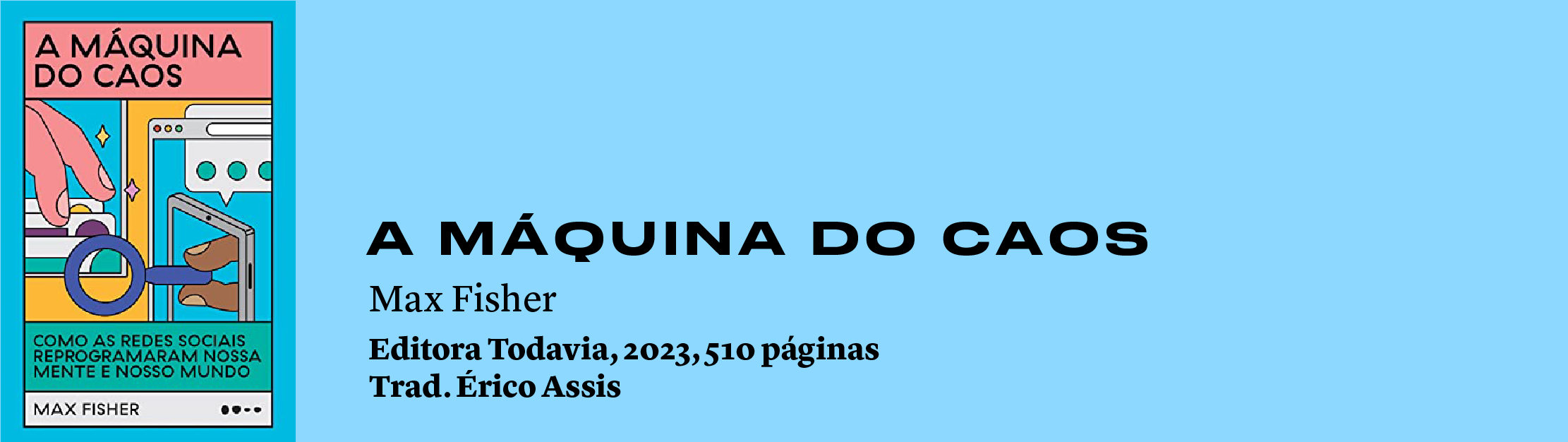
Nenhuma outra narrativa épica, afirma o helenista alemão Werner Jaeger, em sua colossal Paideia, foi capaz de expressar de modo tão integral e tão enlevado como a Odisseia aquilo que há de indestrutível na fase heroica da existência humana: o sentido universal do destino e a verdade permanente da vida. Para ele, “em Homero, pela primeira vez o espírito pan-helênico atingiu a unidade da consciência nacional, imprimindo seu selo sobre toda a cultura grega posterior”. Se a Odisseia é, então, o livro que, depois da Bíblia, mais fascinou o imaginário ocidental ao longo dos tempos (tanto na forma como no conteúdo), Odisseu é, por sua vez, a matriz de grande parte das narrativas modernas. Essa qualidade da obra, no sentido que confere à palavra o ensaísta Roberto Calasso, pode ser constatada na apurada tradução (feita diretamente do grego) empreendida pelo professor e poeta português Frederico Lourenço, também responsável pela redação do prefácio, sintético, mas muito esclarecedor, e um bem-vindo conjunto de notas explicativas.
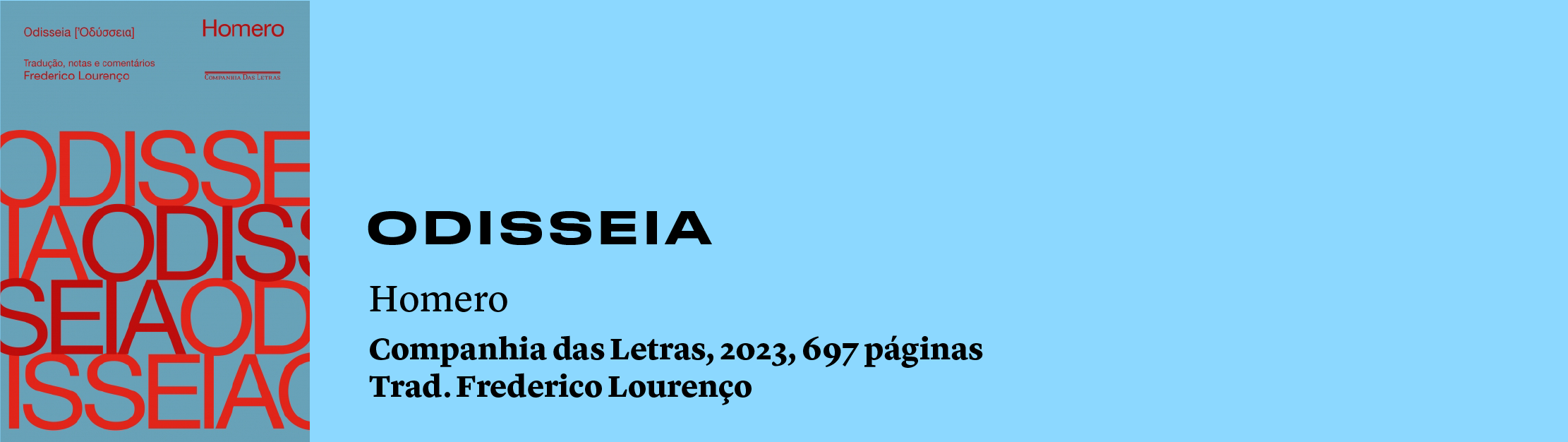
A proverbial pergunta que a pequena protagonista faz no primeiro parágrafo de Alice no país das maravilhas – “De que serve um livro sem figuras nem diálogos?” – muito bem poderia servir de epígrafe para a edição de A verdade vos libertará, livro de fotorreportagem de Gabriela Biló que reúne um conjunto muito expressivo de imagens sobre o conturbado cenário político nacional dos últimos dez anos. Apresentadas de forma cronológica, as fotos interagem com uma série de notícias, memes e áudios selecionados pelos apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília, reinterpretados pelo artista visual Pedro Inoue. Testemunha ocular de uma década no mínimo explosiva – dos protestos de 2013 ao assombroso transcorrer do desgoverno bolsonarista dos últimos quatro anos, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff, pela derrota mal digerida do capitão nas eleições de 2022 e pela tentativa canhestra de golpe em 8 de janeiro deste ano – Gabriela Biló concebeu um universo fotográfico com cuja eloquência pouquíssimos discursos verbais serão capazes de rivalizar.