O feminino como método: “A ciência do que não existe”, de Síntique, e “Cuspe”, de Chraim

.
A ciência do que não existe, de Sara Síntique, e Cuspe, de Amanda Chraim, são os dois primeiros livros lançados pela Mórula Editorial (RJ), na charmosa coleção diabo na aula. O nome é retirado do poema “Cultura francesa”, de Carlos Drummond de Andrade, quando um aluno de “gestos impossíveis” é o diabo que desmantela toda a ideia de aula.
Certa afinidade eletiva me parece existir entre a escolha do título da coleção — que é organizada por Carlos Augusto Lima e Manoel Ricardo de Lima (professores de literatura, poetas, amigos infinitamente que desde a cidade de Fortaleza, região nordeste do país, e há muito tempo, fazem projetos juntos, sem concessão, arriscados) — e a presença de duas poetas: o feminino que marca a diferença radical, a mulher-diaba como operadora da torção do logos.
Sara Síntique (Iguatu, CE, 1990) é mestra em literatura comparada (UFC), atriz, produtora cultural e já publicou dois livros de poemas: ÁGUA ou testamento lírico a dias escassos (Elenismos, 2019) e Corpo Nulo (Substânsia, 2015). Este seu A ciência do que não existe é um longo poema no qual o enigma-letra m. percorre todo livro, deixando leitora e leitor em suspensão, fantasma ou espectro que está e não está ali, uma aparição que some no mesmo instante que é, uma espécie de “não objeto do Conhecimento”, comentaria Derrida.
É Jacques Lacan quem nos diz que o grande Outro não é um ser, mas o lugar da palavra, nesse caso, o lugar onde se inscreve a letra em forma de enigma. Interessante que o psicanalista francês, a partir de um conto de Jacques Cazote chamado “O diabo enamorado”, monstro que se traveste ora em moça sedutora ora em cachorrinho (alegoria da melancolia barroca), apresenta o diabo como a voz do desejo, diabo que traz em sua boca a terrível incessante pergunta: o que queres?
Algo de uma verdade escondida, de um saber não sabido. Desejar o saber que não diz respeito à episteme, à Lei, mas a um savoir-faire, um saber-fazer com a falta, “porque toda/ evidência é/ duvidosa e/ conhecer/ é sempre/ um desvio”, escreve Sara Síntique. Talvez a pista deixada pelo enigma de m. seja alguma coisa de sua dimensão que toca o feminino, que opera por outra via que não a da representação e do apelo ao sentido, à norma.
m. é memória
anotação diário
de infância
mininí mamá
[…] cachoeira: òsùn òsùn […] mistério e raio
metamorfoseia.
M de mulher que não cansa de não se inscrever na linguagem. Aqui talvez caiba a mulher escrita para além da lógica fálica. Como propôs a escritora franco-argelina Hélène Cixous, em O riso da Medusa, a escrita do feminino é da (des)ordem da escritura que aponta para fora, para uma desestruturação da linguagem.
Lembremos agora da imagem da própria medusa, ou da mulher réptil, mulher monstro, mulher dragão, de Maria-Mercè Marçal. O M Train de Patti Smith, parte melancolia, parte música — “cantar um blues/ amar sem saber”, nota Sara. Um trem sem trilho. Delírio: ato do arado sair fora do sulco, da charrua descarrilar, sair da linha, da estrutura que o ferro dá. Também o m como memória, “como fugir da memória?”. Mnemosine, mãe das musas, que conduz a palavra como criação, mas o verso em toda sua potência de esquecimento:
para
quando
perder a
memória
dessa fala
sobre fractais.
Mais ainda: não fazer sentido a m., mas fazer sentir m., como numa proposição de Clarice Lispector, um it-vivo. Gesto que se volta ao resto que a letra dá. Leitura do fragmento, nunca absoluto, nem universal. A grande descoberta das histéricas, manifestada através do trabalho de Sigmund Freud, é a revelação do corpo ontológico, que nos lança deciframentos sobre o ser — como um meio narrativo, de exibição da história do sujeito.
O que nos dá a ver, por um lado, a histeria não como sintoma, mas como um modo de subjetivação e, por outro, a sua fala obscena, que acompanha a etimologia da palavra: obs-cena, o que está fora da cena, que é velado na cultura. A histeria, dessa forma, seria uma espécie de portadora da alarmante notícia do vazio da condição humana. Ao jogar luz forte sobre o inominável da Coisa (das Ding) no desamparo da vida que está em todos nós, ela faz de forma a colocar o corpo como superfície de sua narrativa de desespero e de alguma tentativa de elaboração da falta.
O que pode o corpo? Em memória da pergunta de Spinoza via seu leitor, Gilles Deleuze. Atualizar a pergunta e pensar junto o que pode o feminino? Diante da dimensão decaída da coisa, da linguagem, do mundo, em regra masculino.
Em Cuspe, primeiro livro de Amanda Chraim (Florianópolis, SC, 1987), professora e doutora em Linguística Aplicada (UFSC), há outra relação com o gozo, que não procura tamponar o furo, nem o oco, nem o buraco — palavras que se repetem ao longo do livro —, mas se relaciona por uma (d)enunciação na própria linguagem dessa ausência, para assim se endereçar para outros modos de experiência com a própria vida “[…] queda de sentido, mas o véu, companhia. corte. explosõezinhas ticos de silêncio. Isso que não cessa […]”, diz Amanda nesse conjunto de poemas. Atravessando uma entrega e uma transcendência de si, no lugar de uma afirmação fálica da identidade.
O que se faz presente então é o corpo, no Real e no horror que conclama a carne. O corpo, como nos bem lembra Jean-Luc Nancy, que vai além das zonas erógenas destinadas às genitálias e se oferece ao outro como ele mesmo: um corpo todo de desejo. Aliás, qualquer lugar do corpo é uma zona, “amontoamento caótico mais que um agrupamento coerente”. Zone, gíria em francês que quer dizer “ir levando sem meta”.
Como também na lida de Paul Beatriz Preciado, em que o corpo pode ser deslocado de sua função orgânica para ser revestido como um todo erógeno, propondo uma nova anatomia erótica. Assim um braço pode ser masturbado, pernas como meio de prazer etc. Amanda anota no texto “o pulso, as mãos cheias”:
defronte, adiante. flor de língua e os braços todos dentro, uma afronta, afago violenta […] duas ais sussurrantes mulherias endurecidas.
Está mesmo em Cuspe um apelo à substância em vez da forma. Vestígio menos voltado ao procedimento do que o mover substantivo da palavra. Uma democracia expressiva dos corpos, sua deliberação complexa e a delicadeza da dificuldade de seus significantes postos lado a lado — é a coragem de expressar o sujo, o úmido, o animal, o diabo, o feminino, tudo aquilo que fora retirado do jogo político e seus formalismos.
[…] ajeita o gozo e alguma revolta
[…] — fogaréu de vida — diante da revelação de que a língua é feita, mão a mão, por trabalhadores […].
O feminino não desperta a forma, é substância-cuspe, nem a epistemologia, é ética, modos de ser, alavanca metodológica, portanto, num mesmo movimento, o cuspe é também uma ciência do que não existe e uma ciência do que não existe é também cuspe.
Kamila Costa é cientista política e doutoranda no Programa de Pós–Graduação em Memória Social (UNIRIO), com pesquisa em torno do feminino e da literatura nas interfaces com a psicanálise e a teoria política contemporânea.

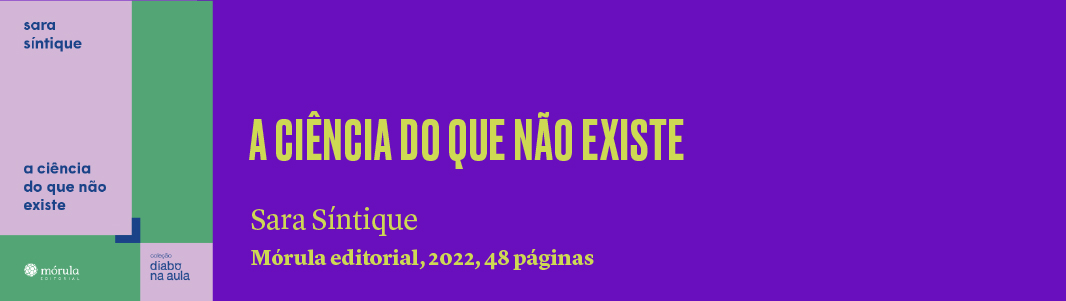
por Redação

Léia mora com seu pai em Lublin, na Polônia. Ela tem algumas dúvidas acerca de sua mãe, que morreu no Brasil. Após um desmaio, que precipita o romance em uma mistura de realidade e sonho, passado e presente, Léia parte em uma viagem de carro pelo leste europeu, em um percurso que também percorre suas lembranças, dúvidas e o período de sua formação no Rio de Janeiro. A partir desse enredo, “Camilla Loreta nos leva pela mão por um tempo ancestral, consciência alterada do corpo, linguagem lírica dos sinais. […] E chegando ao final, saímos com a certeza de que a travessia é ao mesmo tempo individual e coletiva, e se repete no tempo e no espaço”, escreve Carola Saavedra na orelha da obra.

Em seu romance de estreia, Nayara Noronha entrelaça três gerações de mulheres unidas por um duplo parto: o inicial, que dá a vida, e o do final da vida, do luto. A obra é estruturada em três partes, referentes a cada uma das mulheres: Estela; Elena, sua filha; e Ester, filha e neta. Com narrações distintas, cada parte remete o leitor às experiências espaciais e temporais particulares a cada uma das personagens, “criando um jogo bem interessante de contraste e aproximação entre as experiências de mundo e as memórias dessa família”, como registra Thaís Campolina na orelha da obra.










