A cidade, a palavra e o corpo: sobre a primeira poesia de Alberto Pucheu

.
Em 2007, Alberto Pucheu publicou, num único volume, pela editora Azougue, sua poesia reunida (A fronteira desguarnecida: poesia reunida 1993-2007), que consistia nos cinco livros de poesia que ele tinha publicado até então: Na cidade aberta (1993), Escritos da frequentação (1995), A fronteira desguarnecida (1997), Ecometria do silêncio (1999) e A vida é assim (2001).
O volume reunia ainda alguns textos inéditos (dos quais não tratarei aqui), que nunca vieram a ter a forma de livros independentes, como os anteriores. Nos anos que se seguiram à publicação, Alberto Pucheu publicou uma série de livros de ensaios, só voltando a publicar um livro inédito de poesia em 2013, com Mais cotidiano que o cotidiano, ao qual se seguiu, além de outros livros de ensaios, mais três de poesia: Para quê poetas em tempos de terrorismos?, de 2017, Vidas rasteiras, de 2020, e o mais recente, É chegado o tempo de voltar à superfície (2022).
Há, portanto, um enorme hiato entre A vida é assim, de 2001, e Mais cotidiano que o cotidiano, de 2013, um, concluindo um primeiro momento, e o outro, dando origem a um segundo, permitindo que se possa falar, pelo menos no que diz respeito à sua produção poética, de um primeiro e de um segundo Pucheu. Neste ensaio, tentarei me deter no primeiro Pucheu, deixando aberta a possibilidade de um ensaio futuro sobre o segundo.
Quem é esse primeiro Pucheu do qual pretendo tratar aqui? Eu poderia dizer que é o poeta dos rinocerontes, dos fragmentos, das cavernas, das pinturas japonesas, dos náufragos, do zen. Ou, ainda, que é o poeta do diálogo com alguns escritores e artistas muito precisos, que, aqui e ali, aparecem em sua poesia: Homero, Heráclito, Van Gogh, Jorge de Lima, Edmond Jabès, René Char, o Thomas Mann de Tonio Kröger, Aleijadinho, John Cage, Fernando Ferreira de Loanda, Dührer, Pascal, Aristóteles, Parmênides, Crátilo… Vozes outras através das quais o poeta carioca vai encontrando, ao longo desses primeiros livros, a sua própria voz.
Mas eu gostaria de propor, para ser mais preciso, e mais essencial, que esse primeiro Pucheu é o poeta da cidade, da palavra e do corpo, de uma certa relação entre eles que ele mesmo descreve como uma fronteira desguarnecida, título de um dos mais célebres livros desse primeiro período de sua obra e também, não por acaso, título que ele escolheu para dar nome à sua poesia reunida. Tratarei aqui, então, desse primeiro Pucheu, o da cidade, da palavra e do corpo: o da cidade aberta, o da fronteira desguarnecida.
A cidade está aberta e faz fronteira não com outras cidades, mas com o corpo e com a palavra que, por sua vez, igualmente se confundem: a palavra com o corpo, o corpo com a cidade, a cidade com a palavra. A descrição dessa fronteira da cidade, de sua abertura e de seu desguarnecimento, se desenvolve, sobretudo, nos três primeiros livros de Pucheu.
Em Na cidade aberta, vemos uma cidade descrita com fragmentos nas avenidas, com ondas que arrebentam na audição, com deuses se espalhando no trânsito, Ares prensado contra o asfalto sufocante, máquinas que se chocam como corpos, um caminhão de mudanças estuprando uma kombi branca de frete contra o poste. Os peitos são armados de ferro e de estampido. O asfalto se amarra no sol. A poesia pega ônibus, leva soco das palavras, desmaia, derrapa, capota, fica presa entre ferragens de página. A rua é de papel. A maresia engole carros. A esquina engrena métricas de motores nos pulmões. Lâminas de liquidificador atravessam a voz. As palavras caem e, de repente, alguém fala.
Na cidade aberta é a primeira descrição dessa cidade, mas já contém todos os seus elementos fundamentais: máquinas confundidas com homens, palavras confundidas com máquinas; o corpo na cidade descobrindo o corpo da cidade e a cidade do corpo; as palavras circulando, como sangue e tinta; as ruas e as páginas misturadas, os transeuntes/leitores dobrando uma rua como se vira uma página. Nesse primeiro livro, a cidade está aberta não para fora, mas para dentro, encontrando, em seu interior, em suas vísceras, as palavras e os corpos. Há um elemento, no entanto, que desaparecerá nos próximos livros do poeta: a presença dos deuses. A que se deve essa fuga dos deuses do primeiro livro de Pucheu? Em Na cidade aberta, os deuses comem pela boca dos homens e saciam sua sede de sangue nos acidentes de trânsito.
Por outro lado, no primeiro livro, já se anuncia aquilo que será uma marca de boa parte da poesia de Pucheu: as palavras colhidas na boca de transeuntes, seja na marina da Glória, seja na Central do Brasil. O poeta que anda pela cidade aberta constrói sua poesia com pernas e olhos, mas também com ouvidos. A cidade que se vê é a mesma que a cidade se ouve, que se toca, com os olhos, os ouvidos, os pés e as mãos. Há uma oscilação permanente, na primeira poesia de Pucheu, entre a cidade vista e a cidade ouvida, uma oscilação que deve ser atribuída à ambiguidade da própria palavra, com a qual se constrói essa cidade: ao mesmo tempo letra e som.
No segundo livro, Escritos da frequentação, é a letra que vai constituir o alicerce da cidade. Sim, porque se trata de construir, fazer a genealogia da cidade descrita e habitada em Na cidade aberta. Segundo essa genealogia, no princípio eram as letras e dentro de todas as coisas são letras que existem. Certamente, ainda encontramos, na cidade, o corpo, pois o mundo nasce do esbarro da mão em uma língua, e corre pelos dedos, mas os alicerces da cidade são apenas seis letras. Há linhas que delineiam ruas e toneladas de concreto nas páginas.
Esse segundo livro de Pucheu são Escritos. E os escritos, como sabemos, se escrevem com letras, não com sons. As letras são visíveis, não audíveis. Os escritos são lidos, não ouvidos. Mas isso não quer dizer que o corpo esteja totalmente de fora: o homem tem subúrbios com mais curvas que os bairros, as frases são mastigadas, as palavras não só encurralam, como curram. Mas as letras são a senha, a palavra, o enigma.
É preciso potes de tinta para escrever as palavras. Nos Escritos da frequentação, a cidade aberta é uma cidade escrita: apenas indicações de vogais. Os deuses phýsicos dos gregos de Na cidade aberta são substituídos pelo deus escriba dos judeus. A referência dos Escritos não é mais, como antes, Homero, mas Jabès. Talvez os deuses desapareçam porque a escrita apareça. Os deuses são da ordem do real, nos lembra Lacan, mas o Deus do monoteísmo nasce com uma tábua com leis escritas. Podemos dizer, nesse sentido, que o primeiro livro de Pucheu é grego, o segundo é judeu. O primeiro é politeísta, o segundo monoteísta.
Mas o monoteísmo é a passagem do politeísmo para o ateísmo, nos ensina Hegel. E o que vemos no terceiro livro de Alberto Pucheu é o ateísmo poético. Em A fronteira desguarnecida, o real retorna, mas não como os deuses de Na cidade aberta e sim sob o testemunho pânico de alguns, produzindo uma desordem no corpo e nas coisas, uma fronteira desguarnecida entre a pessoa e a cidade.
O que sai da boca não são mais letras nem palavras, mas uma perna espremida, o que ainda há de genitália, o que ainda há de intestino, uma hélice, um vidro de janela, um carro acelerado, um pedaço de mar, um fuzil. Nessa cidade ateia, as estátuas dos santos tremem nas salas, tudo ri de nós, o corpo é baleado pelas paisagens e o homem encontra-se perdido no meio da rua. Um despacho na encruzilhada não é mais o alimento dos homens e dos deuses, mas provoca o sequestro de qualquer esperança. A cidade, sem direção, encontra-se cativa na permanência do desassossego.
O poema que culmina todo o percurso que se inicia com Na cidade aberta, “Sebastianópolis” – na minha opinião, um dos mais belos poemas da produção contemporânea em língua portuguesa –, só surge no quarto livro, Ecometria do silêncio.
Mas é a mesma experiência ateia da cidade de A fronteira desguarnecida que vemos aí descrita, na precipitação de carros do desespero, nos galhos aflorando no lugar do pensamento, desgrenhando a cidade, unindo e separando homens para guerrearem entre si por espaços, comida, dinheiro, praias, carros, por qualquer supérfluo que lhes agradar, nas paredes de perturbação, no corpo desabando perdido planando nas garras metálicas de uma nave cravada na história e nos devaneios de qualquer solidão.
As buzinas expressam inquietudes que as palavras não conseguem. Por sobre as sílabas dos paralelepípedos construídos nos Escritos, nasce agora o capim, que os cobre. O poema conclui: há reticências por todos os lados.
“Sebastianópolis” não é mais, como nos primeiros livros, um poema com o qual se constrói a cidade: politeísta, monoteísta ou ateia. Quando o grande poema da cidade surge, a cidade já está em ruínas. Ele é apenas um poema para se carregar no bolso, com um corpo entregue aos abalos da cidade. Não se mastigam mais palavras, mas vergalhões. O torrão ancestral está perdido. As palavras derivadas em poemas são enumeradas junto com a oscilação da Bolsa, a noite de carros, o exagero luminoso por todos os bairros e o abalroamento na esquina e na estrada. Quem escreve, agora, está à margem de todas as coisas. Há uma rebelião sísmica e contínua da cidade.
A fronteira desguarnecida também reaparece em Ecometria, mas esta, de número 2, descreve não mais o jovem tranquilo na pista do bem-te-vi de Na cidade aberta, mas alguém aflito com o contraste entre a velocidade do carro e a do corpo meditativo caminhando à beira da baía. O templo aqui não cultua nenhum deus: é apenas o templo das perdições. A criação vai à deriva.
Não é de se espantar, portanto, que a cidade desapareça, e apareçam, no seu lugar, os seus habitantes. Em Ecometria do silêncio, quem escreve é alguém que diz insistentemente: estou só. Não há mais palavras ou letras, mas um silêncio recolhido. Como o da madeira ou do fruto mais maduro. As letras, agora, são da distância; os nervos, da lacuna. As perguntas se extinguiram. O corpo do pensamento está suspenso a uns três pés acima do solo.
A fala pode ser abandonada em qualquer lugar, por desleixo ou cansaço, e o que se encontra é apenas o movimento do que cala. Os livros são deixados para o lixo. Segue- se quase cego, quase surdo, quase mudo, com a fraqueza de palavras que murmuram e assopram um hálito afônico. Fala-se por falar.
Mas há ainda um último poema feito na cidade aberta. Não são os três poemas-arranjos – como parece sugerido pelo subtítulo – de A vida é assim. Nesses, ouvem-se as vozes na cidade, mas não a cidade. Neles, o que se ouve é a vida dos que vivem na cidade. Não a cidade. A cidade aberta aparece pela última vez, na verdade, no “Poema da constatação retornante”. É lá que o poeta, tendo ido dar sua última volta pela cidade aberta, nela se transforma, segundo a sintaxe da cidade, em uma máquina de carne que caminha por entre carros.
Uma máquina que não é protegida pelo mar da cidade, que vai entre o trânsito de outras máquinas, que pode ser esmagada por um leve susto de outra máquina, que se mistura a ferros, vidros, borrachas, e cujo motor de carne pega pelas manhãs e funciona ao longo de todo o dia. O que a máquina de carne aprende nessa última caminhada pela cidade aberta é que há um preço a pagar pelos que habitam a cidade.
E, então, o que se ouve, a partir do último poema desse primeiro Pucheu, é a fala cotidiana acolhedora do sempre rejeitado supérfluo. O terceiro dos poemas inesperados que fecham o livro colhe na televisão um poema para a maior audiência do país. Em A vida é assim, só há duas vozes: a do poeta que fala por falar e a das falas alheias cotidianas que são colhidas.
A cidade aberta desaparece. Em seu lugar, aparece a vida e o cotidiano, que parecem ser aquilo que retornará como tônica na poesia dos livros do segundo Pucheu. Mas esses livros o levaram para um território muito distante dos primeiros.
A cidade aberta parece fechada, as fronteiras encontram-se mais guarnecidas. O “Poema da constatação retornante” parece ter sido o último a cruzá-la.
Quanto às falas dos que ficaram, elas podem ser ouvidas no ônibus, no trem, nas ruas, nas mensagens trocadas pelo celular, na internet ou na fala do próprio poeta dos poemas da primeira parte de A vida é assim. Elas dizem todas a mesma coisa: as palavras me fogem… as palavras me fogem…
Cláudio Oliveira é Professor Titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF).
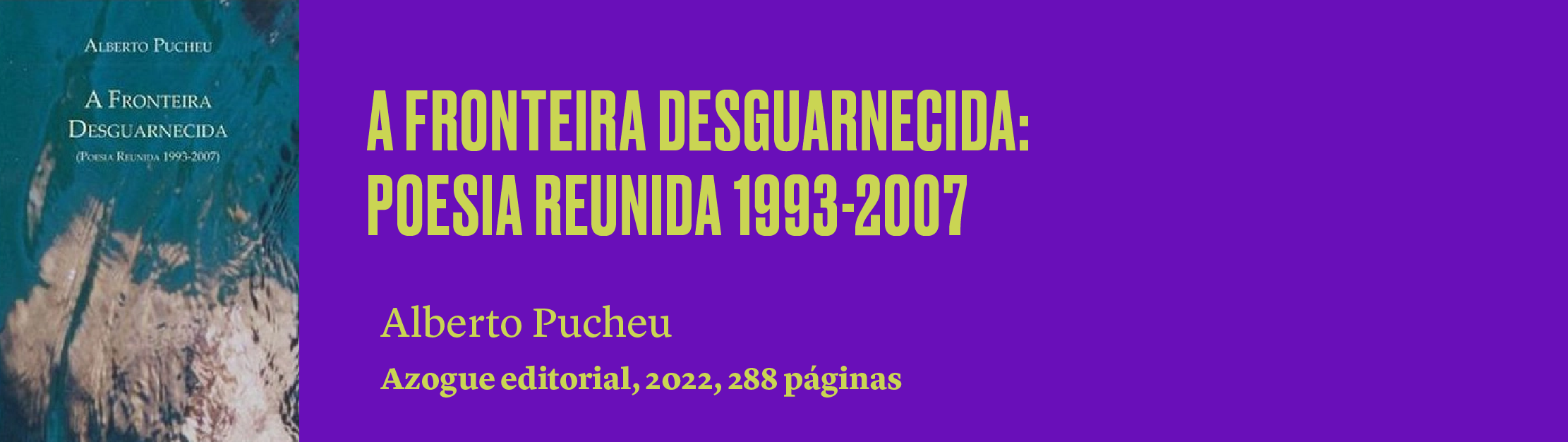
por Redação

Decepções amorosas, perdas familiares, memórias de infância e os acontecimentos políticos contemporâneos são alguns dos temas que perpassam os 22 contos de Beijo de língua no espelho. Com uma grande variação formal, essas narrativas breves, em comum, abordam o passado e as memórias como catalisadores da situação presente e do futuro insuspeito. Dessa implicação entre diferentes temporalidades, cria-se um efeito de incerteza e surpresa, ao qual Bruno Zeni chama a atenção na orelha do livro: “O impacto do que se narra tem sempre algo de inesperado, pois não se sabe exatamente de onde vem, se daquilo que está em primeiro plano, na mais pura evidência do mundo narrado, ou se está há muito tempo esperando o momento da verdade, algo que se prepara de maneira paciente e imprevista”.

Na pacata e provinciana cidade Rio da Lua, uma mancha em uma janela é interpretada como a aparição de Nossa Senhora, o que vai agitar seus moradores e subverter toda a sua rotina. Esse é o ponto de partida de Um rio corre na lua, romance publicado originalmente em 2008 pelo escritor baiano Ruy Espinheira Filho. Ao longo de 88 capítulos breves, o leitor acompanha as mais diversas reações em torno da suposta aparição e as contradições da ação humana, em um enredo que suspende o real e abre brechas para o fantástico, o onírico e, quem sabe, o milagroso.










