A travessia pelo desvio: ‘Vingar’, de Danielle Magalhães, e outros lançamentos

Autora converte vivência de eventos traumáticos num processo de escrita que mobiliza heranças comuns às mulheres
“Eu vou ao que queima.” Esse é um dos versos de Vingar, novo livro de poemas de Danielle Magalhães, publicado pela Editora 7Letras e que chega à cena da poesia contemporânea brasileira com a força de um levante. Um livro radicalmente no nosso presente histórico, escrito por dentro de seus campos de exclusão e violências sistemáticas praticadas contra as mulheres, sobre as quais recaem a misoginia dos imaginários, dos discursos e das tecnologias de remoção de suas vidas e corpos. Vingar é um livro sobre o peso que as mulheres portam, sobre o que lhes recai nas costas, sobre o que delas não se conta. Um gesto poético-político de Danielle Magalhães que, criando ranhuras, abrindo sulcos, revolvendo o chão da memória, inscreve no agora o que fomos impedidas de narrar.
Ancorada no registro autobiográfico, mas ultrapassando os limites referenciais do eu, ao lhe conferir uma potência política, Danielle Magalhães converte a sua vivência de eventos traumáticos num processo de escrita que mobiliza filiações e heranças comum às mulheres, especialmente as pobres, pretas e indígenas, para pensar e escrever uma outra historicidade para nós: as sem linguagem e sem pensamento, as “portadoras de vagina”, as contratadas para os serviços gerais, as estupráveis, as sem registro e em cujos corpos sempre se pôde atear fogo em nome do que quer que fosse. A poesia autobiográfica em Vingar transporta tanto a narrativa do que não foi contado, do que exige ser dito e atravessado, quanto suporta, pela vingança da poesia, a possibilidade de um outro começo a quem sempre foi negado o direito de começar. Os poemas nos trazem, assim, o outro lado da história, o seu reverso, o dorso onde está cravado o projeto colonial e a sua política de cercamento, confinamento e vilipêndio da qual as mulheres se tornaram alvo.
Dividido em duas partes, intituladas “Vingar” e “Do outro lado”, o livro pode ser pensado como “uma travessia pelo desvio”, como quem “se desvia de uma bala”, conforme a própria poeta declarou em recente entrevista concedida a Maria João Cantinho na revista Caliban. Travessia que é também tecelagem e na qual o duplo movimento dos fios vai urdindo uma linhagem de ausências que nos conduzem à exigência ética e política da invenção de outros modos de amar e de sobreviver. Não por acaso, Danielle Magalhães elege “carta aos gregos” como poema de abertura da primeira parte de Vingar. É na Grécia, ou a partir desse ponto do Ocidente, “entre o céu e a ruína”, que a poeta dá início à tecelagem vigorosa da matéria vivida como lugar de reescrita da história. Ali, no berço dos grandes narradores como Homero, Heródoto, Tucídides, na carta dirigida aos gregos, ela diz à mãe: “eu te contaria da vitória de atená/ sobre poseidon/ e juntas riríamos dos pirus/ que faltam/ nas branquíssimas estátuas/ de mármore/ só há ausência no corpo dos homens/ a ruína/ também é a sua história/ que não foi contada”. Ao decidir escrever a história da ruína que mãe e filha suportam, a poeta “desvia das moiras”, suspende os fios da memória oficial, reorienta o curso da urdidura, refaz a trama e começa a destecer as mortalhas para recusar o sepulcro como nosso destino, ciente de que escrever a ausência inscrita no corpo das mulheres, de que sobretecer outras enunciações sobre o que foi feito de nós, implica descer aos infernos, ao mundo dos mortos que os gregos, com suas mitologias viris, tanto deram a conhecer.
Mas nem os gregos nem a elite econômica brasileira sabem dos infernos diários alimentados por chacinas recorrentes como a do Jacarezinho neste maio de 2021 em meio à pandemia da Covid-19. Eles não sabem, ao contrário do que os cantos homéricos rememoram, que, no lado pobre do mundo, descer aos infernos e retornar deles não significa, como ocorreu com Ulisses, uma luta gloriosa contra o esquecimento e a morte. Aqui, na periferia deste nosso mundo, a travessia se faz olhando fixamente o horror, sem esperança alguma da glória memorável após o retorno, mas contando somente com a força da promessa de vingança. Assim, a poeta que sabe do fogo onívoro da violência e do mundo dos mortos, em “P” – título do segundo poema de Vingar –, dirige-se à imagem fantasmal do pai, um policial militar morto por muitos tiros, “vítima daqueles para quem apontava o revólver”. Seu rosto e corpo esburacados, seu silêncio, fincam no poema o trauma e a reflexão sobre a indiscernibilidade entre a “falta de limites da polícia e da política brasileiras desde sempre: eu me dirijo a este pai/ que tinha o mesmo nome de maiakovski/ e a mesma inicial de seu sobrenome/ m de magalhães/ mas meu pai não era revolucionário/ meu pai era PM”.
Verso a verso, o poema demarca um ágon trágico, um embate emocional e intelectual, seja entre os restos do pai e a autorização de matar como política de Estado, seja entre uma alusão ao amor do pai à filha e a gestão dos corpos matáveis tratados como dejetos, seja ainda entre a poesia de Maiakovski e a criminalização da pobreza, que deve ser sempre vigiada. Por isso, “dirijo-me ao poder/ que nos mata/ todos os dias dirijo-me ao terror, mas eu sigo desarmada”. Deslocando-se “do poder ao poeta”, esse poema opera uma inversão das mais importantes: a poesia não é uma arma e jamais o seria no projeto de sua poética. O que poderia conhecer e pensar a poesia, senão desarmada? Como, senão pela potência desarmada da poesia, pensar sobre “o que move as pessoas/ que são movidas pela vontade de matar”, ou dizer ao fantasma do pai que ele foi “vítima de seu próprio revólver”? É com e pela impotência da poesia, pelo seu desarme, que Danielle Magalhães escreve, sustentando a não pacificação do conflito, mas intensificando sua tensão: “você é apenas mais um/ matável/ como aquele que te matou/ como eu/ que aqui escrevo/ nossas vidas/ todas sem valor”. Aqui, perpassa-se a violência para escrever o que dela restou como ruína; perpassa-se pelo verso que se contrapõe, porque desarmado, à voragem contra as vidas que estão na fronteira entre a linha do tiro e a linha do desvio, no átimo entre a bala e o seu alvo.
Das catástrofes em série que se vive no Brasil, especialmente depois do golpe contra Dilma Rousseff em 2016, e no atual estágio da pandemia, cuja gestão nos imputou a dicotomia criminosa entre salvar vidas ou salvar economias, as vidas possuem apenas o estatuto de serem simplesmente “matáveis”. No poema “amáveis”, lemos: “somos matáveis/ apenas mais ou menos/ matáveis/ mais rapidamente/ ou mais vagarosamente matáveis”. Em “amáveis”, fica evidente que o projeto poético de Danielle Magalhães em Vingar opta por se manter com e a partir de um duplo estado de tensão. De um lado, a que se volta para a vingança como a possibilidade de começo, de retomada, portanto, do direito à narração do vivido e apagado; uma tensão que se materializa pela reescritura no presente, neste nosso agora, das histórias das vidas descartáveis. De outro lado, a mesma tensão é um procedimento formal, é ato pensado de escrita, fundamento e processo da poeta que ativa o poema como um lugar de atrito, de crítica e de incisão política no mundo. Aliás, em Vingar, é notável como o ritmo articula essa tensão pela oscilação entre “o fôlego e a perda do fôlego”, ou, dito de outro modo, pelo desafio dos “limites entre o verso e prosa, entre o passo alongado da prosa e o corte abrupto” – como a poeta disse na referida entrevista –, o que, além de marcar um duelo com o tempo, performa a relação entre verso e pensamento como destinação e apelo em direção ao outro, como um deslocamento que vai e volta, sem paragem.
Os mecanismos de negação do mundo concreto que hoje se aliam à imaterialidade dos ambientes digitais produzem um outro mundo, suspenso e filtrado digitalmente, que extirpa a realidade concreta e sua monstruosidade; executa uma assepsia algorítmica que reedita a eugenia para continuar destruindo a concretude do que é preciso seguir negando. Assim, “matáveis” são os outros que não compartilham os mesmos princípios de similaridade que nos fazem disparar likes racistas e sexistas; “matáveis” são os que sobram. Nesse sentido, “amáveis” é tanto um poema que conjura quanto uma infiltração na estrutura narrativa da política e da história brasileiras que consentem e subscrevem o massacre diário das “vidas sem valor”. Tragicamente, aqueles que deveriam ser “apenas amáveis” pertencem a uma só “linhagem”, a dos assassinados, e a questão ética que se interpõe em todos os poemas de Vingar diz respeito à nossa responsabilidade de dizer seus nomes, ainda que os “carreguemos sem saber”. Nesse sentido, a poesia de Danielle Magalhães também faz aqui o seu trabalho de justiça.
Em “queimados”, outro poema
da primeira parte do livro, o
trabalho de justiça que a escrita
realiza reitera a pergunta: pelo
quê e por quem semear a vingança?
Os versos dizem: “a história começa assim: em uma época do brasil/ em que as mulheres pobres negras indígenas/ davam seus filhos e suas filhas/ por motivos de/ estupro/ pobreza/ ordem/ sobrevivência”. O poema, que narra a procura da poeta pela história de sua avó, abre um arquivo inteiro de histórias de domesticação das mulheres, desde muito “antes da mãe/ da mãe/ da mãe/ da minha mãe” e, pelos versos, essas mulheres vão surgindo como uma legião. Mas é por causa de Bernardina, a que fugiu para os lados de Queimados, que o poema se detém sobre a história desse município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Queimados fazia “parte das terras da freguesia de/ nossa senhora da conceição de marapicu”, e foi onde também ocorreu a expansão econômica cafeeira em meados do século 19, como reporta o poema. Por lá passaram os operários chineses que trabalharam na construção da estrada ferro D. Pedro II, as epidemias de cólera e malária. Atravessando as paragens abandonadas em Queimados, Danielle Magalhães volta a colocar de pé as histórias de Amelina, Iara, Jurema, Jurupy, Jurandir, Juçara, Júlia, Aydée, Guiomar… As mulheres, seus poucos objetos, suas feridas, o trabalho doméstico, o estupro, as dores, as aposentadorias por invalidez, a mãe e a filha enterradas num mesmo caixão por falta de dinheiro, os abortos clandestinos, o trançado dos cabelos… Escrevendo com as cinzas do que foi queimado, a poeta vinga o difícil trabalho contra a inglória: “escrevo para mulher que me pariu/ para dizer que eu vivo/ para que nenhuma mulher precise desaparecer”.
Na segunda parte do livro, Vingar mostra que a poesia se escreve a partir “Do outro lado”. Agora é o Camboja que comparece como o lugar onde a experiência da paisagem e sua história se desdobram em pensamento que gravita poeticamente em torno da tensão que une Oriente e Ocidente, aproximando seus meridianos, desfazendo suas linhas divisórias imaginárias lá onde a pobreza, as derrotas e o que foi vencido habitam as mesmas coordenadas históricas. Do outro lado, “o mundo tem um brilho tão antediluviano/ como uma jaca/ aqui cheira à morte e arroz/ e a moça faz a unha do pé/ ao mesmo tempo/ em que corta a carne que vende no mercado popular”. Tanto lá quanto aqui, as marcas da guerra e da morte existem em toda parte. Ainda que distintas as geografias, ambos os lados acumulam a confluência e a sobreposição de todos os tempos históricos que descortinam a mesma ausência de historicidade dos corpos triados para suportar o peso de sobreviver carregando “malas/ liteiras/ as sacas de café/ os tonéis cheios de dejetos/ dos outros”. Assim, a poeta segue dando a ver o quanto o lá também está aqui, ou que não existe o lá e o aqui. O Camboja e o Rio de Janeiro são como a fita de moebius: “furando o tempo uma criança/ atravessa a rua na fotografia/ ela pode estar no interior/ do outro lado atravessando o brasil/ o interior do brasil/ em qualquer margem/ subúrbio favela do outro lado/ no rio de janeiro/ ela pode estar/ atravessando uma rua no Camboja”. No poema, o rio Munin, no Maranhão, encontra-se na fronteira entre o Camboja e a Tailândia, sendo a paisagem esse fio disruptivo e, ao mesmo tempo, condutor, que liga os apagamentos sucessivos das “vidas sem valor”, como podemos ler nos versos: “não se sabe se/ são sertanejos/ não se sabe se/ são candangos/ construindo/ a capital brasília/ só se sabe que/ é atualizada/ uma outra morte/ e vida severina”.
Os mapas em “Do outro lado”, que escrevem outras topografias, dirigem os passos para o ano de 1912, apontando para o que seria o mais improvável dos encontros, e o poema, que segue atando poesia e política para trançar o verso insurreto às sementes da vingança, agora agudiza ainda mais as tensões do presente pela travessia do passado colonial que retorna, mais uma vez, em suas formas mais abjetas de desigualdade. O lugar é o Porto do Rio de Janeiro, e as personagens são José Leandro da Silva e Nguyen Sinh Cung, ou apenas Hồ Chí Minh. E o que respira nesse momento do poema é o levante negro no final da República Velha, antes da revolta da Chibata, que foi deletado como um arquivo corrompido. Entretanto, os versos trazem de volta a revolta de José, que conheceu “o cara que ainda não/ se chamava/ ho chi minh/ aquele que ilumina”.
Atravessando as guerras que empilharam suicidas, estupros, despojos e crianças, os poemas continuam escalando a tensão mais aguda, como que preparando uma espécie de volta do mar – antiga manobra de navegação que faz as velas se afastarem da calmaria e ganharem os ventos fortes – para preparar a semeadura, porque “eu me lembrarei/ de tudo que submerge/ na tormenta/ mesmo que ninguém mais fale/ a palavra guerra”. Pelo fogo, elemento que transpassa todo o livro, Danielle Magalhães vinga, então, ao mesmo tempo, as vítimas da ditadura militar brasileira e as vítimas da ditadura no Camboja. Vinga os órfãos e vinga, sempre, as mulheres, para os quais os versos, como se na voz de um coro trágico, cantam: “a terra não digere/ não digere não digere/ e vomita/ o indigesto”. Nesse revolvimento da terra, a poeta faz vingar a memória de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da tortura praticada na conhecida Casa da Morte.
Em Vingar, os poemas assumem e expõem com radicalidade uma postura de confronto em relação à ideia de uma escrita da história construída como totalidade linear, lógica e cronológica, fazendo vibrar e viver uma tessitura narrativa cuja trama se faz a partir das interrupções. Em outras palavras, Danielle Magalhães propõe e realiza poeticamente a história das interrupções. Daí se compreende o porquê de seu investimento formal no passo alongado da prosa que abruptamente é cortada, assim como a coerência interna percebida na sobreposição de cenas, situações, paisagens e vozes que se entrecortam, dispondo como cacos as trajetórias “do que poderia ter sido e que não foi”, a história do que não pode existir senão em ausência e falta. E tudo se prepara desde a epígrafe do livro que sai da garganta de Joana, personagem de Gota D’água: “(…) alguma vez já sentiu/ a clara impressão de que alguém lhe abriu/ a carne e puxou os nervos para fora/ de uma tal maneira que, muito embora/ a cabeça inda fique atrás do rosto,/ quem pensa por você é o nervo exposto?” A poeta anuncia aos leitores, desde aí, que ela escreve com versos que são fratura, quebra e perfuração, que ela anda “com uma granada pendurada no pescoço”. Vida e escrita, sempre inesperáveis, fazem os poemas de Danielle Magalhães escolherem a vertigem, moverem-se sobre as calcinações, entregarem-se à materialização do verso como corpo, do verso como vértebra. Indo e vindo entre o que colapsa, cada verso profere a possibilidade de outros começos, porque a cada vez “que brota um trapo que vestia um corpo exterminado/ a terra vinga”.
Mas Vingar, que também se conjuga como amar, porque a vida não cessa de desejar, de afetar e de ser afetada enquanto amor, dissemina, nas “ruínas estranguladas, os estranhos frutos” (fazendo ecoar a canção strange fruit). Apesar de toda a escavação da terra para o sepultamento das vidas “matáveis”, a poesia continuará seu trabalho de “ir ao que queima”, revolvendo o que precisa ser nomeado, extenuando todas as potencialidades esquecidas, devolvendo incessantemente a vida. Essa poesia que escreve de dentro e contra um pensamento que se diz soberano em seu poder enunciativo masculino e branco, que pensa a precariedade como exigência do reconhecimento da nossa vulnerabilidade e interdependência, que toma o corpo em seu estado de ameaça e tremor, instala, pelo verso controverso, as evidências de uma outra realidade e, assim, de outras exigências narrativas.
A vingança de Danielle Magalhães retoma e performa algo que um dia foi muito íntimo das mulheres, isto é, a capacidade de criar tecnologias invisíveis não só de sobrevivência, mas, sobretudo, de pertença de umas às outras, compartilhando em segredo uma tapeçaria de aprendizagem sobre como suportar. Há uma imagem em um dos poemas de Vingar que parece estar em todos os outros poemas. Ele diz sobre uma mulher oriental e o quanto ela sabe do peso dos séculos e seus avessos. Essa mulher e sua geladeira presa às costas, como tantas mulheres colocadas na vida para se dobrarem, para seguirem arqueadas, remete cada uma de nós a outro verso que desbanca da narrativa a verdade de que no princípio era o verbo: “no princípio era a violência”. Danielle Magalhães deixa bem evidente que sua vingança só está começando porque é “preciso tentar entender/ o que amar que dizer”. E eu vou com a poeta, aceito o seu chamado, porque a “história está esperando” a narrativa em seu devir de vingança que se faz como princípio de amor. Quem nos acompanha?

Martha Alkimin é Professora Associada do Departamento de Ciência da Literatura e do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas/Literatura Brasileira da UFRJ.
[não-ficção]
por Redação
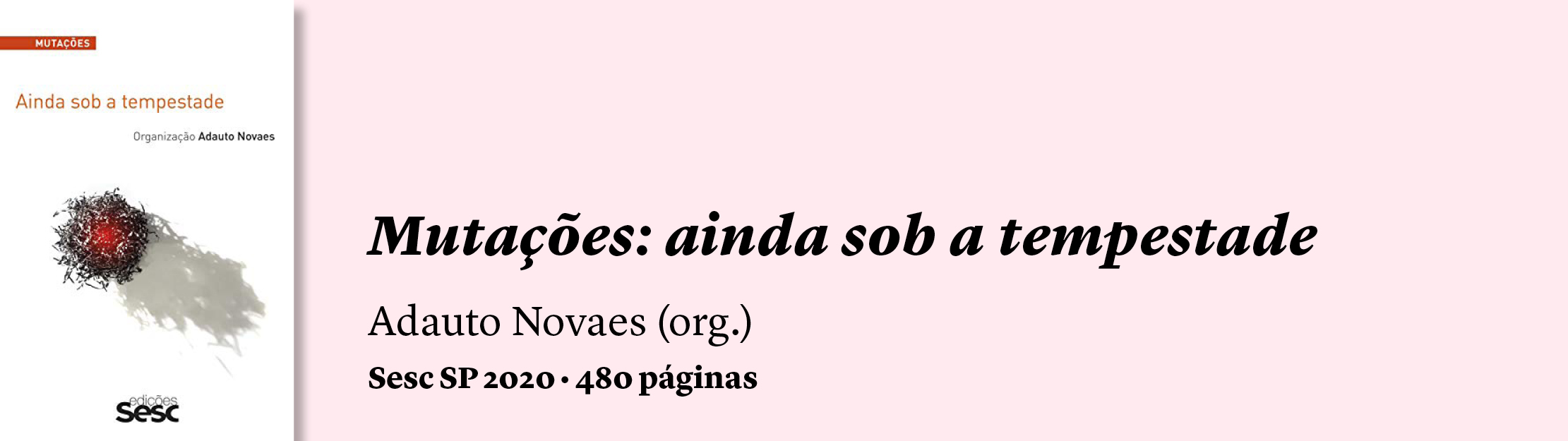
Reunindo pesquisadores franceses e brasileiros, o livro examina a ascensão recente do fascismo ou neofascismo, no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. São 22 ensaios que põem em pauta questões como os direitos humanos e a escalada neoliberal que precedeu a onda autoritária. O título é a décima segunda obra dedicada aos ciclos Mutações, promovidos pelo Sesc. Entre os autores estão Franklin Leopoldo e Silva, Marilena Chaui, Olgária Matos, Vladimir Safatle e Antonio Cícero.
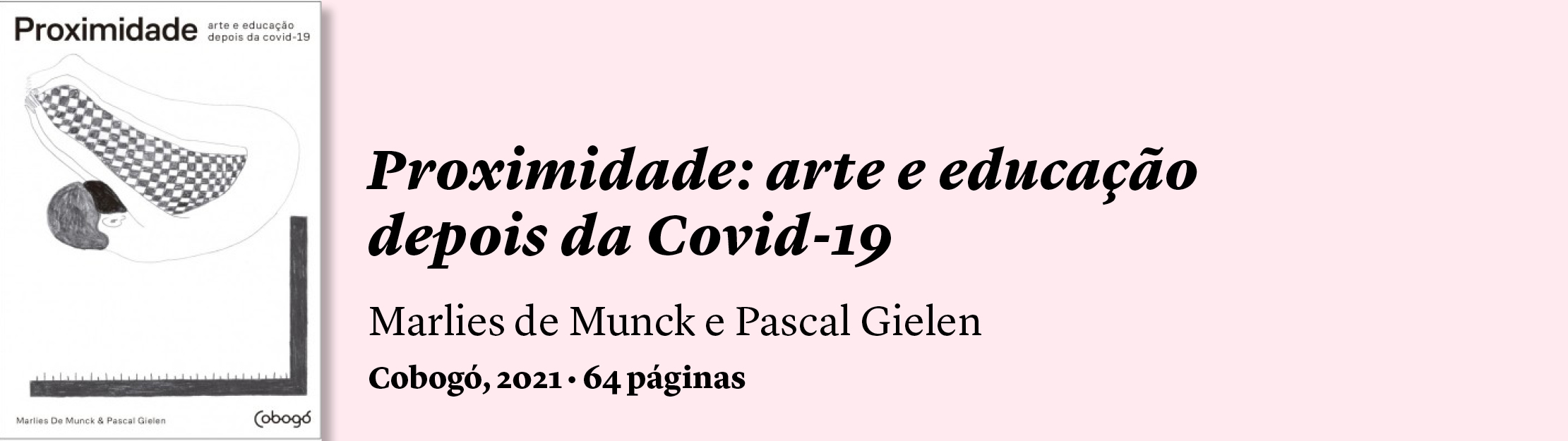
Com ilustrações da artista holandesa Lotte Lara Schröder, o livro aborda de forma leve a realidade que se impôs com a pandemia e o isolamento social no contexto da presença da arte e da cultura, que produzem sentido na vida das pessoas mas costumam exigir proximidade social para serem fruídas. Os autores, respectivamente filósofa e sociólogo da Universidade da Antuérpia (Bélgica), retomam o conceito de aura desenvolvido por Walter Benjamin para se referir às relações humanas na era de contatos virtuais.
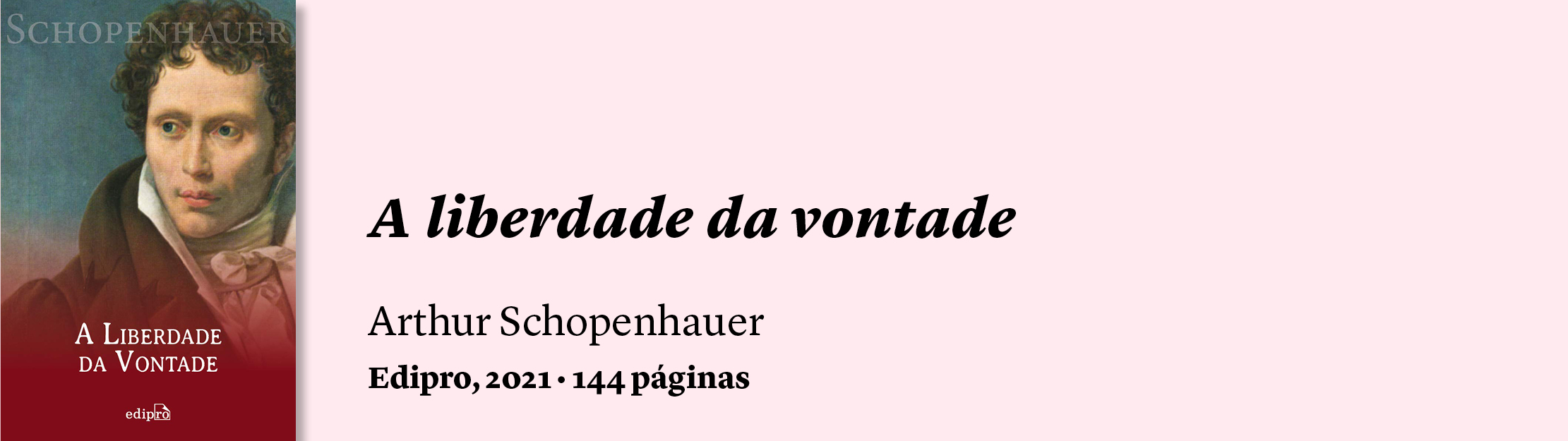
Primeira obra de grande repercussão do filósofo alemão, vencedora, em 1837, de um concurso promovido pela Sociedade Real Norueguesa de Ciências. O objetivo do autor foi responder à questão: “Pode a liberdade da vontade humana ser demonstrada a partir da autoconsciência?”. É uma boa porta de entrada para o pensamento de Schopenhauer a respeito do livre arbítrio. Esta edição inclui os dois prefácios do autor presentes na edição comemorativa dos 200 anos de seu nascimento, em 1988.
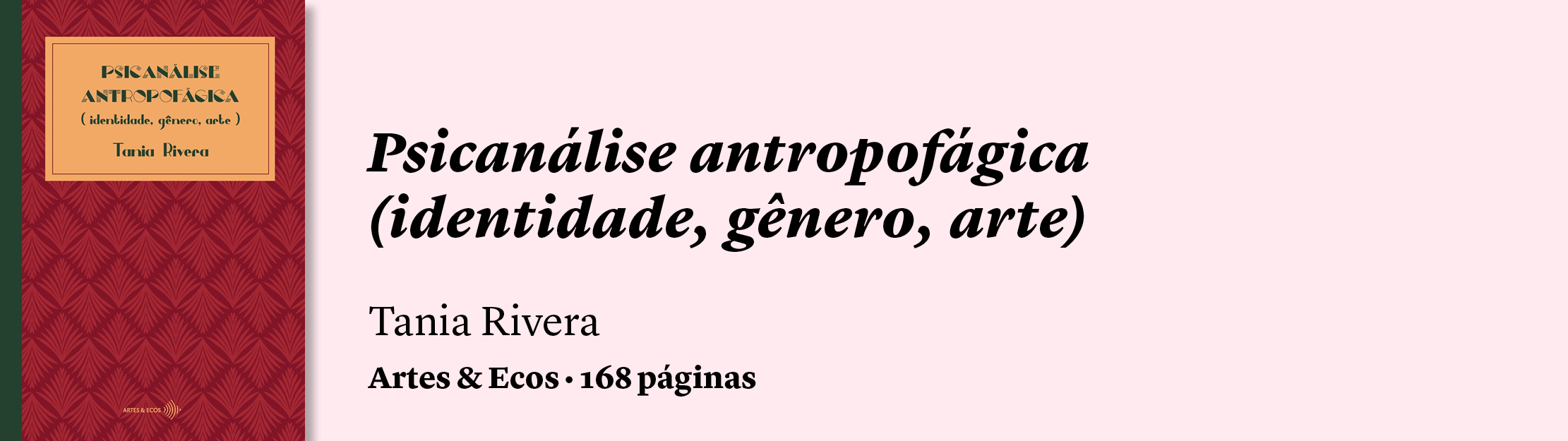
A autora – ensaísta, psicanalista e professora da Universidade Federal Fluminense – afirma que esta reunião de artigos tem como tema unificador a urgência. São análises da obra de diversas artistas mulheres, buscando “relacionar a subversão do sujeito tematizada e incitada pela psicanálise à luta contra a necropolítica, o racismo e o neocolonialismo predatório”. Entre as artistas estudadas estão Carmela Gross, Anna Maria Maiolino e Laura Lima.
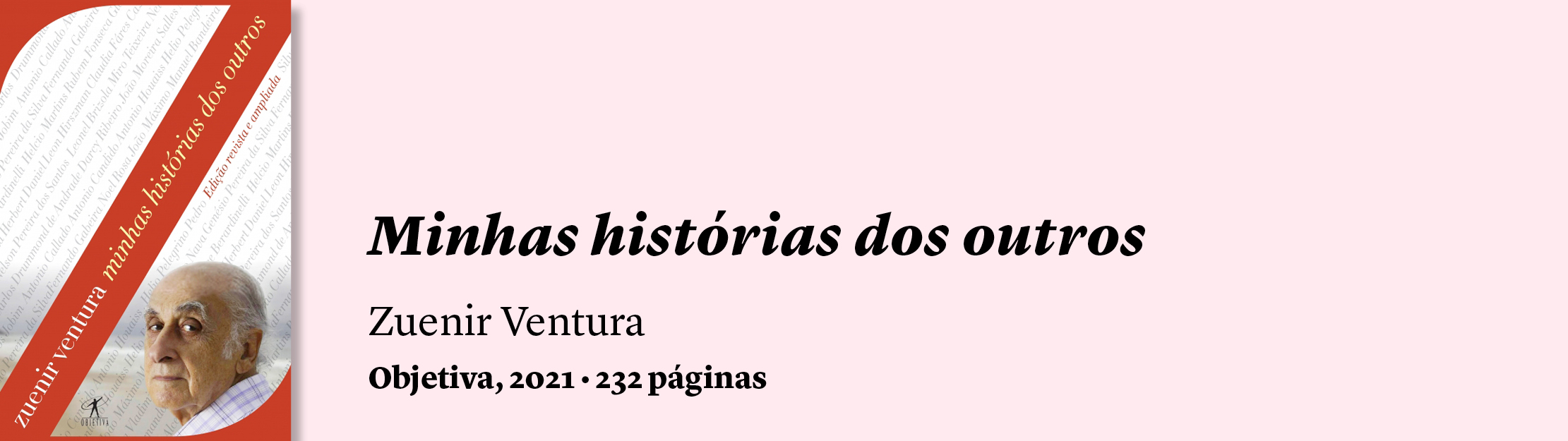
Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, Darcy Ribeiro, Glauber Rocha e Tom Jobim são algumas das personalidades que aparecem nestas páginas de recordação do jornalista e escritor Zuenir Ventura. Revisitando uma carreira de quase 50 anos, o autor relata episódios e fala de personagens que conheceu em sua trajetória – um panorama que não deixa de ser o do Brasil da ditadura à redemocratização. Como o autor escreve nas páginas finais, o livro é uma espécie de “alterbiografia”, uma biografia do outro, na qual pretendeu “cumprir a tarefa essencial do jornalista, que é ser testemunha de sua época”.
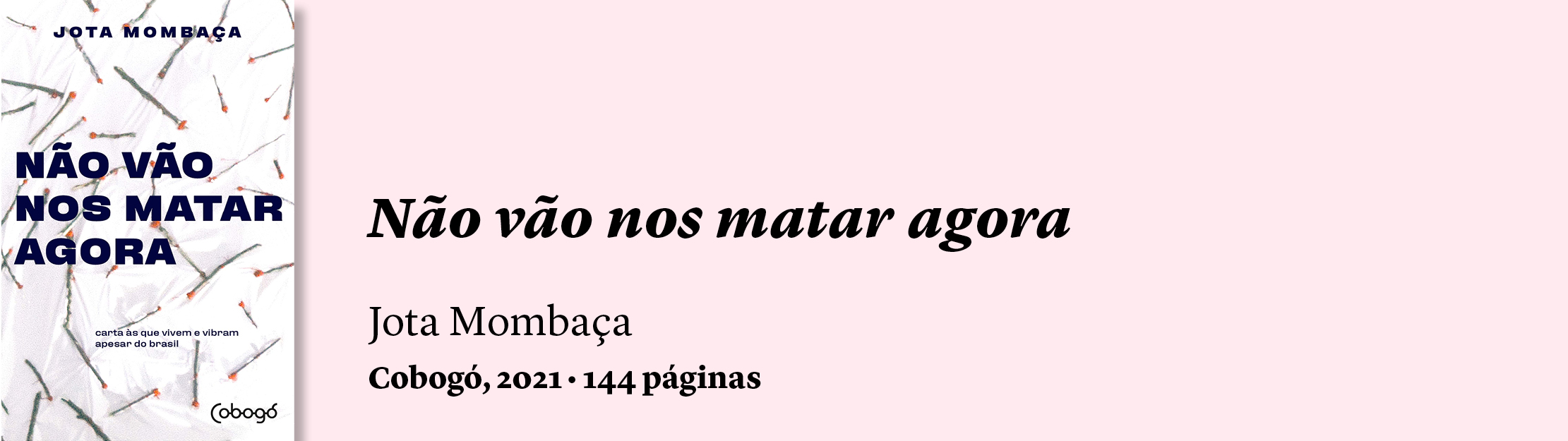
Na encruzilhada entre poesia, teoria crítica e artes visuais, o livro traz ensaios próximos à narrativa e à performance. Aborda temas como antirracismo, estudos queer, desobediência de gênero, ficção científica e violência policial para afirmar a palavra e o corpo como potências de combate. Como escreve Mombaça, “não há saída senão aceitar de uma vez por todas que fomos inscritas numa guerra aberta contra a nossa existência e a única forma de sobreviver a ela é lutar ativamente pela vida”. Com suas experimentações linguísticas, a artista pretende mostrar a própria ficção do mundo artístico que destrói as subjetividades pretas e indígenas.
[ficção]

Em uma ilha de memórias perdidas, controlada por uma polícia secreta que elimina vestígios de lembranças, uma escritora tenta manter rastros de recordações e imagens passadas. Essa é a trama do romance distópico da escritora japonesa contemporânea Yoko Ogawa, o terceiro traduzido no Brasil. Objetos, espécies de animais e até famílias são apagadas das mentes, enquanto sua protagonista tenta entender o papel da reminiscência para a subjetividade. Ecoando os romances de George Orwell e Ray Bradbury, Ogawa reflete sobre o que gostaríamos de preservar em um tempo que acelera e sobrepõe experiências na forma de consumo.
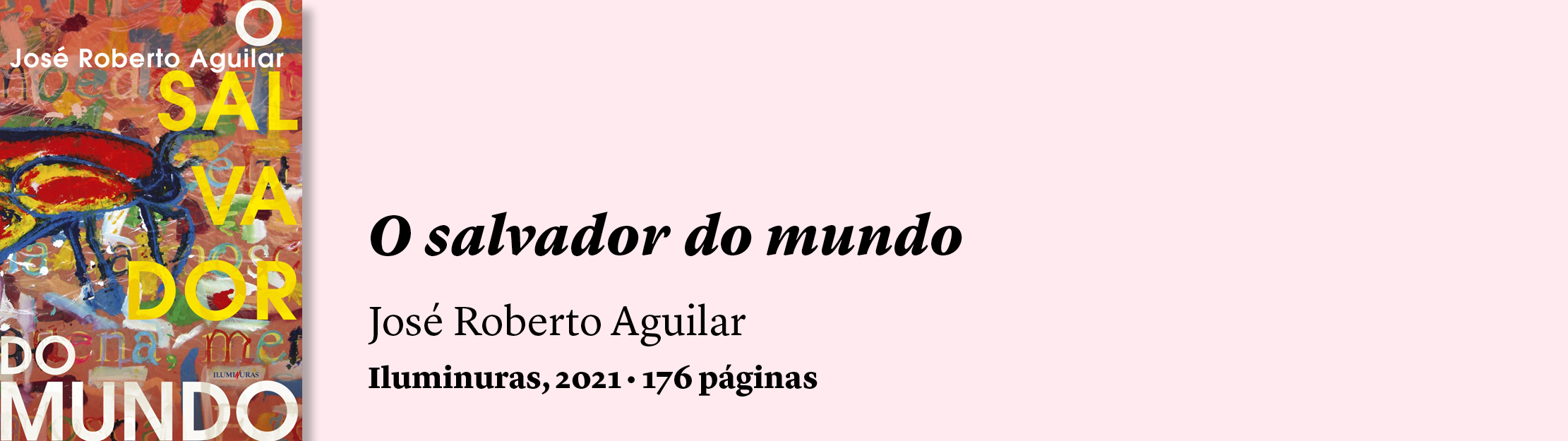
O salvador do mundo
Zé da Merda, José de Almeida Silva, José Lourenço Pinheiro, Parakê, Zé das Flores e O Salvador do Mundo são as sete vidas do personagem do novo romance do multiartista José Roberto Aguilar, o sexto de sua trajetória. Com ocupações diversas – habitante do lixão, contrabandista, aluno de filosofia, advogado e contador, ator, ecólogo indigenista, inovador tecnológico –, essas personalidades se desdobram umas nas outras, operando transformações em seu protagonista. Para o poeta e músico Arnaldo Antunes, trata-se de uma mistura de “fábula, aventura, romance policial, reflexão filosófica e ficção científica”.









