Estante Cult | O pólen de fogo no centro do Congo

“Ah! esse orvalho sobre África! Camaradas,
eu estou assistindo, eu estou vendo a árvore do
flamboaiã, pigmeus, machado, se apressam
ao redor do tronco precário, mas a cabeça
que cresce invoca ao céu que se revoluciona o
rudimento de espuma de uma aurora.”
Patrice Lumumba em Uma temporada no Congo
Como a árvore que lenta perfura a terra, mas certeira aponta o céu de uma nova aurora, são as últimas palavras de Patrice Lumumba na peça Uma temporada no Congo (Temporal, 2022), do escritor martinicano Aimé Césaire (1913-2008). Palavras de uma África tolhida em pleno voo de liberdade, mas cuja realização é invulnerável e não tarda a acontecer, como nas imagens evocadas por Lumumba em seu derradeiro momento, enquanto é torturado e assassinado por M’Siri, personagem que alude a Godefroy Munongo, dissidente no movimento de independência do Congo.
Publicada em 1967, Uma temporada no Congo retrata a história do país entre 1960 e 1961. Após mais de 70 anos sob o jugo colonial belga, o povo congolês conquista a independência em junho de 1960, e Patrice Lumumba é nomeado primeiro-ministro. Alvoroçados com seu discurso de independência, que denuncia as crueldades e humilhações latentes no discurso civilizatório belga, os político europeus, os representantes do capital internacional e mesmo a ONU apoiam, momentos depois da liberdade congolesa, a secessão de Catanga — província ao sul da República Democrática do Congo rica em minérios e, por conseguinte, principal responsável pelas finanças do Estado.
A história, encenada na dramaturgia política de Césaire, é exasperante: recém-liberto, o Congo é seccionado pela picardia europeia, que acusa Lumumba de comunista e sanguinário, após sua ordem para invadir e reintegrar Catanga, para que ele fosse deposto e substituído por um governo em sintonia com os anseios dos homens de bens. Mokutu, personagem que alude a Joseph-Désiré Mobutu, então chefe do exército congolês, destitui o ex-companheiro Lumumba de seu cargo, prende-o e o envia aos dirigentes catanguenses, que o assassinam em janeiro de 1961. Está armado o golpe de Estado de Mobutu, firmado com a ditadura militar quatro anos depois e destituída em 1997, quatro meses antes de sua morte.
A independência consumida em nascença tal “pólen de fogo” está na base das dificuldades que o Congo encontra até hoje para construir sua nacionalidade e se desenvolver social e economicamente, como nota o professor Kabengele Munanga no posfácio à edição brasileira do texto. Entremeada à tragédia histórica, a rica pesquisa linguística e antropológica de Césaire entrecruza diferentes textos e contextos para falar de uma liberdade congolesa que atravessa os tempos e, da raiz na fundura da terra, revoluciona os céus e anuncia a “espuma de uma aurora”. No ato circular, do eu ao mundo, Lumumba contracena com esse movimento e por isso contesta a consciência cristã, dita civilizada e universal, “velha chaga! e sobre o sujo pus,/ um turbilhão de moscas!”, como diz o personagem.
Certo princípio de encenação circular, de força estruturante, está no próprio título da peça. Saison, ora traduzido como temporada, também é a palavra francesa para se referir às estações do ano. Como nota Kabengele no referido posfácio, o título pode aludir à temporada de chuvas no Congo que assistiram ao desenrolar dramático da “dipenda”, como alguns personagens se referem à independência na peça. Como referência sazonal, saison fala diretamente ao teatro tradicional africano, “rituais cíclicos baseados no ritmo das estações e do trabalho rural”, como escreve Suzanne Brichaux-Houyoux em Quand Césaire ecrit, Lumumba parle. Esse sentido é reforçado em três momentos por Lumumba, que de certa forma marcam três pontos de inflexão na trama. Primeiro, quando nota que as agitações pós-independência coincidem com o início da estação das chuvas; depois, em referência à brevidade da guerra civil em Catanga, a cisão no seio da independência, que deveria acabar antes das chuvas; por fim, na belíssima cena lírica em que dança com Hélène Bijou — artista da etnia lulua, responsável pelo massacre da etnia balula, o que deflagra os conflitos civis —, ao afirmar a permanência mesmo “quando o Congo não for mais que uma temporada que o sangue tempera”, o que ocorre, efetivamente, com as traições e influências internacionais que transformam a independência em sangue.
Na última cena da peça, o ardiloso Mokutu, para celebrar o fim do luto por Lumumba, recorre ao mesmo léxico ao afirmar “Congoleses, que o dia de hoje seja para o Congo o ponto de partida de uma nova temporada!”. De fato, é uma nova temporada sazonal, com o fim das chuvas, e também uma nova temporada política para o país, com a ruína do projeto panafricanista de Lumumba e o início do velho-novo governo congolês rendido pelo neo-arqui-colonialismo. Às mudanças cíclicas inerentes à paisagem natural subjaz o próprio círculo da vida política do Congo e da identidade de seus personagens: à diástole de Lumumba, com seu crescente frenesi para salvar sua pátria, corresponde a sístole do Congo, sujeitado novamente pelo colonialismo, figurado agora no capital internacional, na neutralidade da ONU e nas falas empoladas de banqueiros parasitas — sístole e diástole, lembremos, são os termos empregados por Lilian Pestre de Almeida para descrever os movimentos de contração e expansão do poema narrativo Diário de um retorno ao país natal, de autoria do dramaturgo.
Nas imagens que evoca, Lumumba também se inscreve nesse movimento espiralante. Identifica-se, a princípio, como o pássaro que voa para se livrar do colonialismo, “Um dia na mata,/ encontrei minha alma selvagem: ela tinha/ forma de pássaro!”, e mesmo após sua morte permanece como o gérmen de árvore que brotará para revolucionar os céus e a ordem. Do súpero alado ao ínfero de “raiz em terra cega”, ele faz um movimento em consonância com as mudanças naturais de seu país, suas conturbações políticas e mesmo a cosmogonia congolesa, marcada pela visão cíclica da vida dos povos bakongo.
A ilustrar a circularidade cosmogônica, destaca-se uma parábola narrada pelo Tocador de kalimba. Mistura de fool shakespeariano e griot africano, personagem fascinante que foge ao rol das personalidades históricas que abundam ao longo de Uma temporada…, é por sua voz que escutamos o prenúncio da tragédia:
Africanos, esse é o drama! O caçador descobre
o grou-coroado no alto da árvore. Por sorte a
tartaruga notou o caçador. O grou está salvo,
diriam vocês! E, de fato, a tartaruga avisa a
grande folha, que deve avisar a trepadeira,
que deve avisar o pássaro! Mas não me
importo! Cada um por si! Resultado: o caçador
mata o pássaro; pega a grande folha para
guardar o pássaro; corta a trepadeira para
enrolar na grande folha… Ah! Ia esquecendo!
E, de quebra, leva a tartaruga! Africanos, meus
irmãos, quando finalmente vocês entenderão?
Na circularidade, tudo se integra e a vida funciona: o réptil está conectado às folhas e às árvores que, por sua vez, confluem com a ave. A lógica eurocristã cinde a unidade e instaura a individualidade, que leva ao fracasso da independência subjugada pelo rifle do caçador belga. Assim, a independência do Congo, como da África no geral, implicaria uma posição política e existencial, pois é do íntimo da cosmologia africana que desponta o ímpeto de inverter a lógica colonial.
Seguindo essa senda, podemos notar a filiação da peça de Césaire, como de sua poética no geral, com a tradição literária europeia. A (re)começar pelo título da peça, também lemos em temporada uma referência à célebre Uma temporada no inferno de Arthur Rimbaud, responsável por “incríveis abalos sísmicos” na literatura, como Césaire o descreveu em Poésie et connaissance, uma comunicação proferida em 1941 em um congresso de filosofia no Haiti. Ademais, lembramos que o poeta português Mário Cesariny traduziu o famoso poema de Rimbaud por Uma cerveja no inferno, notando que saison é um tipo de cerveja bebida em Charlesville, região francesa próxima à fronteira belga na qual o autor das Iluminações nasceu. Ora, tais ambiguidades semânticas não devem ter escapado a Césaire, cuja Temporada começa, justamente, com uma discussão sobre qual é a melhor cerveja disponível no Congo. Um debate que encena, a fundo, a disputa entre os hábitos importados (o consumo de cerveja) e os tradicionais (o malafou, vinho de palmeira substituído pela bebida europeia).
Ao desabrigo da tempestade política, a peça formalmente também parece beber de procedimentos do teatro elisabetano: o característico personagem do fool, o uso de versos alexandrinos para marcar a contradição do discurso de determinadas personagens, as ricas metáforas que evocam as paisagens congolesas e os monólogos poéticos a denunciar a corrupção dos homens e dos tiranos são alguns procedimentos que sugerem essa leitura. Mas, da forma dramática usada historicamente para narrar os reis e reinados ingleses, desponta o canto do drama histórico da África, que não se basta no francês, mas transborda para o suaíli, lingala, quimbundo e kikongota, dialetos do Congo cujas palavras e parábolas pontuam o texto teatral, tessitura feita da “própria palavra de fogo” dos vulcões congoleses.
Com esses jogos intertextuais, invertem-se os signos estabilizados: do “selvagem” brota a força que derrui o verniz da civilização. E Patrice Lumumba, como eixo dramático da peça, encarna e emana esse movimento de viés. Tanto que, em uma bela cena em que confronta Mokutu, afirma que o mapa da África está gravado na palma de sua mão, ao que se segue o tracejado imaginário dos diferentes países africanos e suas espoliações coloniais, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, África do Sul, Angola, São Tomé, pois não é apenas Congo que está ameaçado, é “nossa África! Subjugada,/ amarrada, pisoteada, sob a mira de uma arma!”. À trajetória individual de Lumumba, assim, sobrepõe-se o processo emancipatório congolês e, a cabo, de todo o continente. Afinal, como afirma Césaire na referida palestra Póesie et connaissance, “a poesia é uma atitude que, pela palavra, pela imagem, pelo mito, o amor e o humor me conduz ao coração vivo de mim próprio e do mundo”. Do individual ao mundial, brota a poesia indômita da liberdade, “Invencível como a esperança/ de um povo, como o fogo de mata em mata,/ como o pólen de vento em vento, como a raiz/ em terra cega”, ecoando, como ao princípio desse texto, uma das últimas palavras de Lumumba na peça.

ESTANTE CULT | NOTAS
Welington Andrade
“Fazer cabanas: imaginar maneiras de viver num mundo degradado. Encontrar onde aportar, em que solo reexperimentado, em que terra repensada, com respeito e compaixão. Mas também em que espaços em luta, discretos ou chamativos, em que territórios proibidos na própria medida em que são reabitados, cultivados, imaginados, implicando mais envolvimento do que desenvolvimento.” Com essa epígrafe em forma de projeto (retirada do corpo do próprio livro), em que consciência crítica e lirismo se aliam, o leitor brasileiro é convidado a adentrar as belas e estranhas e lúcidas páginas de Nossas cabanas: lugares de luta, ideias para a vida comum, de Marielle Macé, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) e professora de literatura na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) e na Universidade de Nova York (NYU), de quem a Bazar do Tempo publicou em 2017 Siderar, considerar: migrantes forma de vida.
Composto de três ensaios curtos — “As noues”, em que são discutidas as implicações semânticas do vocábulo nós, seja como substantivo, seja como pronome; “As cabanas”, no qual a autora defende a ideia de se combater um mundo “de que se está excluído a priori”; e “Um parlamento ampliado”, em que vislumbra para a vida contemporânea novas “relações, enodamentos e desnodamentos” —, o livro constitui um breve manifesto que mal disfarça sua pequena grandeza, seja pela bem-vinda união das ciências sociais com a arte e a poesia que exala de cada página, seja pelo admirável empenho da autora em repolitizar a vida.
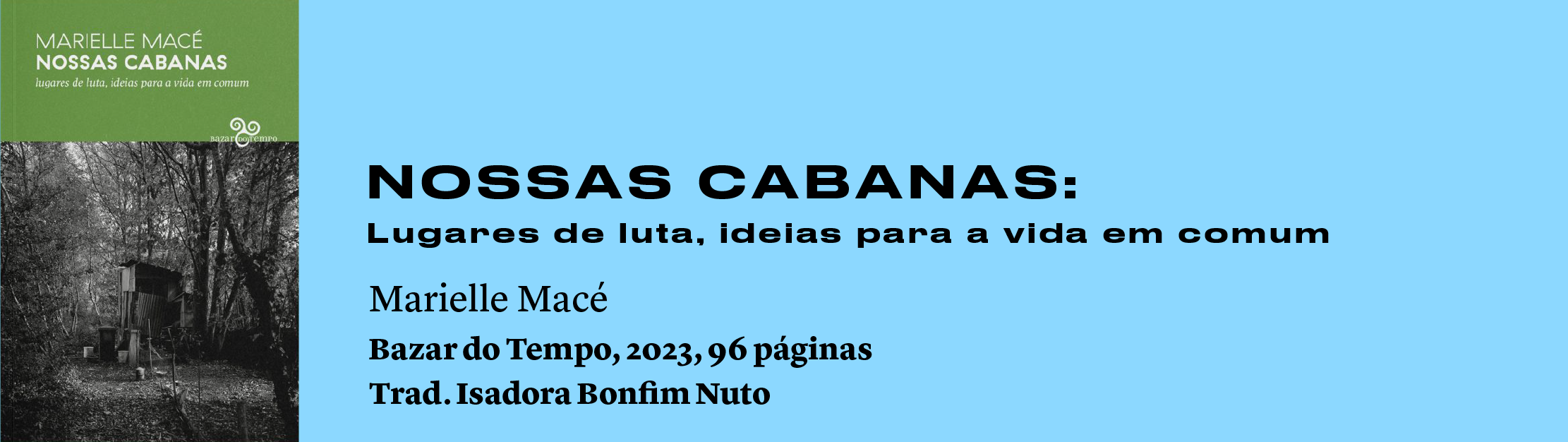
Depois de muitos anos fora de catálogo, um dos mais conhecidos textos da literatura europeia atrelados à fundamentação dos estudos da psicanálise volta às livrarias em uma caprichada edição: Gradiva, um fantasia pompeiana, do escritor alemão Wilhelm Jensen (1837-1911). Traduzida pelos poetas Claudio Willer (também autor do texto de apresentação) e Diogo Cardoso, a presente edição procura sair da esfera exclusiva da leitura que Sigmund Freud fez do romance — o ensaio “O delírio e os sonhos na Gradiva de Jensen” —, apresentando ainda os textos “Gradiva”, de André Breton, e “Um corpo visível entre o tempo e a eternidade: Gradiva, mito, alquimia e surrealismo”, de Elvio Fernandes.
A narrativa trata da história de Norbert Hanold, um jovem arqueólogo alemão fascinado pela imagem de uma mulher esculpida em baixo relevo no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. No dia posterior ao da visita, Norbert sonha que está na cidade de Pompeia, em 79 d.C., no exato momento em que o Vesúvio está para entrar em erupção. Ele vê a figura esculpida rediviva, mas, antes de poder avisá-la do perigo iminente, a Gradiva é soterrada pelas lavas do vulcão. Por meio de um longo processo de autoanálise, o arqueólogo associa a figura do baixo relevo a um amor de infância, Zoe Bertgang, deslocando, então, os sentimentos que havia devotado à mulher de mármore para uma mulher de carne e osso. Segundo Georges Sebbag, citado no posfácio, a “Gradiva brilha à medida que avança para melhor tecer seu caminho através do tempo”.

“Pode haver inúmeros motivos aceitáveis para acreditar que uma situação acabará bem, mas esperar que isso acontecerá porque você é otimista não é um deles. Isso é tão irracional quanto acreditar que tudo dará certo porque você é albanês ou porque choveu três dias sem parar.” Com essa demonstração de fino senso de humor, Terry Eagleton, professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford, dá início a Esperança sem otimismo, seu mais recente livro lançado no Brasil, no qual discute a menos considerada das virtudes. Para as professoras Iná Camargo Costa e Maria Elisa Cevasco, Eagleton – que foi aluno de Raymond Williams (1921-1988) em Cambridge – é “uma das forças motrizes da grande tradição britânica de crítica cultural materialista, tributária de uma linha de pensamento oposicionista que vincula a produção artística às condições materiais da sociedade”.
Dividido em quatro capítulos (“A banalidade do otimismo”, “O que é a esperança?”, “O filósofo da esperança” e “Esperança contra esperança”), o livro de Eagleton transita entre os domínios da teoria literária, filosofia, teologia e teoria política, articulando o pensamento de autores como Shakespeare, Kierkegaard, Tomás de Aquino, Wittgenstein, Kant, Walter Benjamin e Ernest Bloch. Diante de um mundo em que o futuro se converte em ameaça, o autor discute o conceito de esperança como “um molho excelente” para “pouca comida”. Vale notar como a Inglaterra de Eagleton é pródiga em formulações linguísticas que fazem uso desse tipo de humour, que tanto fascinou Immanuel Kant.










