O poeta do riso e da dor: “Robinson Crusoé e seus amigos”, de Leonardo Gandolfi, e outros lançamentos

Robinson Crusoé e seus amigos é um livro do riso e da dor, sobretudo da dor, tão mais aparente esteja o riso. É, portanto, um livro no qual a dupla do contraditório e do antagônico convivem simultânea e alternadamente. Muitos são os poemas que elucidam essa afirmação, porém destaco o poema “Sérgio Sampaio” como epicentro deste texto, para dar corpo ao espírito sobre o qual acredito se construir o novo livro de Leonardo Gandolfi, recém-publicado pela Editora 34, que comporta o duplo e ajuda a pensar o gesto supostamente incompatível de rir ao passo que tudo cai e dói, em meio a este tempo que também tudo faz cair e doer:
Esta é minha mão
ela não é minha
cortem-na fora
esta é minha língua
ela não é minha
cortem-na fora
mão este violão é teu
língua aqui a tua canção
Se afirmo esse poema como central, é porque nele se concentram três elementos fundamentais para o volume: a mão, a língua e o contraditório, como vê-se nas duas primeiras estrofes. À primeira vista, a observação da relevância dos órgãos do corpo pode parecer trivial, visto a importância de ambos para a funcionalidade da vida prática, assim como para o funcionamento da escrita. Contudo, mais do que elementos para a ação e inflexão autorreferente, interessa destacá-los como imagens que engendram o tom fundamental, mediante o mecanismo da justaposição de opostos.
Vale observar que a imagem da mão atravessa a obra. Dos 44 poemas, 11 têm a palavra mão como nuclear, sem considerar outros em cujas escolhas lexicais pressupõe-se a mão, como é o caso de “dedos”, “unhas”, “assinatura” ou mesmo verbos que indicam sua ação, como “dar”, “pegar”, “apertar”. De ponta a ponta, confirma-se isso, como vê-se em “O problema da limpeza”, “Variações cronenberg”, “Duas histórias”, “Sérgio Sampaio”, ou bem antes, na estrofe final do poema de abertura homônimo “Robinson Crusoé e seus amigos”, no qual vemos a bela imagem da mão do pai a unir-se à pequena mão da pequena filha — que reaparece ao fim do livro, dessa vez agarrada à mão da mãe, no poema “Velho par de chinelos”. No entanto, pode-se enxergar o mesmo tom nos poemas em que não há essa marca explícita, como vê-se em “Leopoldina de Habsburgo pouco antes de vir para o Brasil” e “Cristal japonês”, por exemplo.
A língua em específico aparece menos lexical e mais metonimicamente, mediante palavras correlatas como “boca”, os verbos dicendi e, claro, por ser a matéria de que é feito o poema. Ao lado dessas imagens, está o eco da pluralidade de vozes (inúmeras citações e apropriações de poetas, escritores, personagens históricos/fictícios e compositores conformam essa multiplicidade) amarrado por um fio comum pueril, negativo e nada inocente.
Se “O beijo, amigo, é a véspera do escarro” e “A mão que afaga é a mesma que apedreja”, conforme adverte o famoso poema de Augusto dos Anjos, parece que a língua (e, por extensão, a boca) comporta a dualidade mais complexa, ao ser, a um só tempo, o lugar do escárnio e do respeito, do bendizer e do maldizer, com a diferença essencial de que, ao contrário da mão, sua marca não existe visível, exceto se escrita, porém nem a escrita garante a visibilidade da marca. É justamente a ausência dos efeitos concretos da língua que faz com que seus desdobramentos passem com frequência despercebidos à consciência humana. Não à toa, o sofrimento advindo da violência verbal, por exemplo, requer atento e ativo movimento de busca pela consciência, de forma a fazer possível a identificação e o reconhecimento de seus mecanismos.
Curiosa e justamente são os hematomas verbais (a língua, portanto) do dito, do interdito e do não dito que estão no mais fundo de nós, formando um terreno denso, muitas vezes imperscrutável, como estão no mais fundo dos poemas de Gandolfi. Por esse motivo, a diferença sutil que habita o paradoxo desses órgãos não é irrelevante para a leitura aqui empreendida.
Ai, meus amigos modernos
Se não é novidade o fato de Robinson Crusoé e seus amigos ser formado por uma série de retomadas e apropriações da tradição poética e musical (não só) moderna, conforme revela o próprio título, talvez não seja tão evidente que a tentação de buscar a gama de vozes que compõe essa ilha transforme-se em armadilha.
“Sérgio Sampaio” é poema exemplar para elucidar que Leonardo Gandolfi elege um time que, individualmente falando, é composto por uma série de eus que, não raro, partilha da solidão e do desencanto com o mundo, dando ênfase muitas vezes à dor e ao sofrimento a partir do excesso de consciência. Essa característica do livro, contudo, acaba escamoteada diante da linguagem discursiva, da composição vocabular aparentemente simples e até ingênua, cuja envergadura irônica e bem-humorada bastante peculiar pelo o que há de singelo, constroem um contraponto de camadas de leveza interessantíssimo à densidade cortante desses eus.
É esse arranjo de linguagem peculiar que compõe a figura do poeta do riso e da dor em Robinson Crusoé aos moldes do que Sérgio Sampaio fez ao largo de seu cancioneiro. É essa combinação que dá corpo a uma totalidade sobre a qual gravita um campo de força paradoxal calcado no humor e no sofrimento, cujo efeito é de acentuada comoção.
Nesse sentido, é significativo destacar que Sampaio transita em gêneros musicais brasileiros tradicionais, como é o caso do samba-canção e do bolero, numa pegada, pois esse modo repercute sobremaneira no tom do livro de Gandolfi, assim como a temática da infância, com realce na perspectiva da criança (“Passagem de som”, “Minhas férias”, “Infância ou a caneta de ágata”, “Luis Alberto de Cuenca e seus amigos”), na repetição insistente muito própria a essa fase da vida e na relação entre pai e filho — outro aspecto que indica o profundo conhecimento de Gandolfi sobre o cancioneiro de Sampaio e que potencializa realçá-lo como central para a compreensão de Robinson Crusoé. A dedicatória final para a filha e para o pai, in memoriam, parece confirmar tal hipótese.
Além de Sérgio Sampaio, outros cantores-compositores compõem essa turma de amigos: Leonard Cohen e David Berman são dois deles. Há outra porção de nomes da música — e não qualquer música, pois nota-se predileção pelo cancioneiro suave e melancólico dos crooners como Julio Iglesias e Cohen que, no Brasil, está justamente encarnado em gêneros como o samba-canção (e, por consequência, pela incorporação do bolero cubano) amplamente explorado e atualizado por Sérgio Sampaio —, porém a ênfase em Cohen e Berman se dá porque, para além do traço crooner possível de ser destacado, ambos têm ligação estreita com a poesia (eram poetas) e, em suas obras, vê-se o desenvolvimento de questões em torno da relação do pai e filho. Berman inclusive, assim como Sampaio a sua maneira, tinha na figura do pai espécie de ferida sempre aberta.
Do mesmo modo que é possível paralelo entre Cohen e Berman, é possível entre Gangolfi e Sampaio, que conformam espécie de quiasmo, já que o primeiro escreve poemas, reivindicando a música, enquanto o segundo compõe canções, reivindicando a poesia e a figura do poeta. Dito isso, convém lembrar que Sampaio escreveu a canção “Que loucura” (Tem que acontecer, 1976) em homenagem ao amigo Torquato Neto, depois de sua morte, e que era leitor entusiasta de Augusto dos Anjos e Franz Kafka (suspeito que de Baudelaire também), referências decisivas para suas composições, inclusive estimulando-o a se aventurar na escrita de contos. Tudo isso fornece elementos que justificam destacar Sampaio como base fundante deste novo livro de Gandolfi, inclusive porque só ele dá conta de construir a dor a partir do riso e da irreverência, tal como se verifica em Robinson Crusoé e seus amigos, algo que não se verifica na produção dos demais citados.
A reescrita do passado como escrita do presente
Não por acaso o poema “Sérgio Sampaio” alude ao LP Tem que acontecer (1976), em cuja capa vê-se as mãos do compositor lado a lado, totalmente abertas, sobre um chão de terra, tendo um relógio no pulso direito e, no esquerdo, uma pulseira que parece artesanato praiano. Esse disco é importante por ser o álbum posterior ao sucesso que não veio pela gravadora CBS, já que incluir o estrondoso fenômeno “Eu quero é botar meu bloco na rua” num LP com título homônimo, em 1973, não garantiu vendas. Mas principalmente porque marca a decisão de Sampaio de enfatizar seu processo criativo não na vanguarda que lhe é contemporânea, conforme vê-se no primeiro álbum, mas na retomada da tradição do samba-canção dos anos de 1930 e 1940 (algo que o compacto de 1974 já indicava com a canção “Foi ela”, a partir da homônima de Ary Barroso, grande sucesso na voz de Francisco Alves na década de 1930).
Sampaio, que vinha sofrendo pressão externa para novo sucesso, via-se entre a “fé” na música e a descrença no mercado fonográfico (que já dava indícios do que se tornaria) e até nos rumos dos movimentos de vanguarda. Em seu segundo LP, deixa claro que seguirá fiel ao que lhe importa: “Quem manda em mim sou eu/ Quem manda em você é você”, conforme “Até outro dia”, canção de abertura de Tem que acontecer, na qual se vê também o acolhimento da condição de inutilidade desse eu: “não posso fazer nada/ eu sou um compositor/ popular”.
Existe a afirmação de que o LP de 1976 é de cunho confessional, porém, mais do que um cantar ensimesmado, está em jogo, no álbum de Sampaio, a priorização da manifestação do eu num tempo de truculência política em que as vanguardas artísticas exigiam demasiado o nós com seus projetos totalizantes e programáticos. Nessa contramão de Sampaio, vê-se muito as repercussões de Augusto dos Anjos e sua forma de elaborar criticamente o movimento tropicalista e a tradição, conforme bem observa Prudêncio, em sua monografia apresentada em 2010, ao apontar o “antitropicalismo na canção de um tropicalista convicto”.
Por esse motivo, a relação íntima e familiar como a do pai e do filho ou a do marido e da mulher se destacam como atitude contramusical, isto é, contra a linguagem tropicalista vigente, vide “A luz e a semente”, “Quatro paredes” e “Filho do ovo”, por exemplo, conformando a contramaré que se constitui da tensão de um duplo entre o grave e o irreverente, o dramático e o debochado — sempre irônico. No entanto, apesar de esse movimento conformar seu modo de pensar criticamente a canção e o seu tempo, apesar de “sintetizar a tradição e a vanguarda da canção popular”, nas palavras de Prudêncio, a todo momento, Sérgio Sampaio também está pensando sobre si mesmo, sobre seu passado e seu presente, o que se liga à afirmação de Gandolfi no lançamento do livro, em que diz escrever a partir de acontecimentos da sua vida.
“Esta é minha mão/ ela não é minha/ cortem-na”. Enxergar o poema “Sérgio Sampaio” como complementar à capa do LP de 1976 das mãos “cortadas” e abertas sobre a terra tem sido, por todo sobredito, exercício interessante. Nesse poema, a espécie de sintetização do caráter dual e errático do disco (no sentido de apresentar o recorte da imagem e sugerir um comportamento inesperado, ao mesmo tempo que atualiza o imaginário comum dos pés descalços na terra como liberdade e comprometimento com o Eu profundo) e da extrema autoconsciência que sempre levou Sampaio a tatear caminhos inovadores, ainda que para isso fosse necessário abdicar de algo para se escrever o presente, faz com que Gandolfi leia o presente a seu modo contrapoético.
Há, no bojo desse poema (e do livro como um todo) e desse disco, a ambiguidade da dor oriunda da excessiva consciência do eu frente ao próprio paradoxo da vida da arte, da vida e da arte, da vida na arte, que parece não ter propriamente saída, exceto a aceitação de certa premissa: que a entrega significa, também, dor e fracasso. Uma entrega ambígua, portanto, porque é também um tipo de rendição que se submete a arrancar algo de muito importante de si (cortar a/interferir na mão e na língua) para pensar e construir algo de muito importante para além de si. Um gesto de violência ao corpo que repercute no rearranjo de cada coisa em seu lugar: “mão este violão é teu/ língua aqui a tua canção”. Mão e língua no encontro e na posse de si e do próprio destino, a partir de um movimento dialético que se constrói à media que se permite ser destruído enquanto matéria original, ou seja, enquanto gênero puro.
O paradoxo do riso e da dor
Esse campo de força paradoxal do riso e da dor só se consolida, portanto, quando a camada superficial da ironia e do humor se une à mais funda que surge dos vãos, das frestas, numa aparição de luminosidade espectral e negativa. O resultado que mais se destaca advém precisamente desse subterrâneo da onde emerge essa autoconsciência de acentuada negatividade, de aspecto residual, tão sutil quanto aguda, que quase se perde em meio às camadas de sentido sobrepostas. Um grau muito bem medido entre suavidade e gravidade, justamente ou sobretudo porque subjaz ao humor, à ironia e à pluralidade de referências, sempre, assim como em Sampaio, uma dor constitutiva, farta em autoconsciência e, por isso mesmo, desconsertante e terna. Eis a camada de sentido que se perde ou se esmorece com relativa facilidade, se o leitor se render à tentação de buscar e estabelecer as supostas fronteiras autorais dos poemas que sobressaem logo à primeira vista.
O movimento de Robinson Crusoé e seus amigos, ao acionar a tradição o tempo todo, acaba propondo, também, continuidade e atualização ao debate em torno de questões fundamentais para a modernidade poética, como é o problema da originalidade. Nesse sentido, Gandolfi parece mais próximo de poetas como Régis Bonvicino de Sósia da cópia (1983) e Más companhias (1987), que também se vale de vários procedimentos de apropriação (tradução integral ou parcial de poemas, imitação, citação, dentre outros) como recurso de construção e produção de sentidos críticos, diferente do que certa escrita contemporânea vem fazendo no Brasil, em especial a de autores nascidos a partir dos anos de 1990, quando dão a entender a apropriação textual e discursivamente dentro do poema, muitas vezes negando-a como gesto criativo, dando, assim, contornos distintos à discussão.
A saída do que não tem saída
A narrativa de cunho filosófico está ali, via Clarice Lispector e o próprio Daniel Defoe, para revelar que a mobilização insistente de perguntas sem respostas conforma a “saída” (para brincar com o título de um desses poemas repletos de indagações) para um estado de coisas cuja saída parece inexistir. Não ofertar respostas ao leitor também parece modo de o livro acolher a falta e a consciência do limite da palavra (da língua, portanto), sobretudo em um país onde o elevado número de mortes evitáveis racha o presente em inúmeras fatias. Fazer a pergunta adequada sem a pressa da resposta, deixando-a em aberto ao leitor, ainda que óbvia ou exatamente porque óbvia.
É verdade que Tem que acontecer não é o único álbum que reverbera no livro de Gandolfi. É inevitável ler “O problema da limpeza” sem enxergar “Pobre meu pai”, canção que integra o LP de 1973. Como o poema é relativamente longo, segue a primeira estrofe: “Um mundo/ em que as coisas/ eram de vidro/ ou de porcelana/ e nesse mundo/ alguém que não estava/ muito adaptado/ e por isso quebrava/ tudo aquilo que tocava”. E, aqui, a quarta: “Mas o pior era/ não poder apertar/ a mão das pessoas/ mais queridas/ porque elas/ se esfarelavam na sua/ virando/ vidro moído”.
Em “Pobre meu pai”, tem-se o monólogo interior de um sujeito melancólico que pensa sobre o passado em família, a relação moralizante, hierárquica e difícil com o pai e a fragilidade dessa relação. Logo na primeira estrofe, o sujeito apresenta a imagem de seu coração de vidro que se quebra, mas que caminha a despeito do estado de esfacelamento. O coração de vidro quebrado que caminha é metonímia para um sujeito que existe apesar das fraturas profundas provocadas pela relação com o pai. E, ao passo que a própria canção caminha para o fim, podemos acompanhar o crescente desenvolvimento da consciência desse sujeito que reconhece os limites de sua consciência: “eu posso dormir tranquilo/ amanhã quem sabe”. Até alcançar espécie de liberdade total, que não precisa mais se opor à presença desse pai (que é também a presença de outro tempo dentro do tempo presente, que é um modo de falar da presença do fantasma), representada a meu ver em dois momentos: 1. na penúltima estrofe, precisamente pelos versos quatro e cinco, “o que eu levo no bolso/ você não sabe mais”; 2. e os versos finais “não chore que a morte é certa/ não brigue que a morte é certa/ não ligue que a morte é certa”. Está dada a morte como decisiva para esse pensamento, para o despertar e o aquietar simultâneos da consciência desse eu, algo muito forte no livro de Gandolfi.
Tanto na canção quanto no poema vê-se uma realidade composta por coisas (inclusive o próprio corpo humano) de vidro, isto é, demasiado frágeis e suscetíveis a rupturas. No poema em específico, construído também como um monólogo interior, há a meditação acerca da dificuldade de se viver ciente das consequências da relação e do contato humano, pois além da recíproca destruição, haveria o desdobramento dessa repercussão primeira, a saber, a dúvida sobre quem limparia a sujeira oriunda da mútua destruição das pessoas envolvidas nas relações. Um poema que lê as relações com as “pessoas mais queridas” bem aos moldes provocativos de Sampaio, que serve também como leitura das relações contemporâneas de forma mais ampla.
Sem mais delongas, da leitura de Robinson Crusoé e seus amigos fica aquele sentimento de suspensão sobre o qual seria muito difícil falar, não fosse Sérgio Sampaio, mais uma vez. Para isso, a escuta do samba-canção “Velho bode”, que também integra Tem que acontecer, ajuda; precisamente os versos em que se canta “uma corda de nylon ou de aço/ que arrebenta quando eu faço dó”. No encerramento desses versos, a canção nos leva para um espaço que seria de queda brusca, dado o abismo de gradual, denso e vibrante silêncio, não fosse sua capacidade de fazer flutuar quando se pressupunha a queda livre. São poucos segundos em que a gente se encontra na boca do abismo sem, no entanto, a abrupta vertigem representada de forma tão icônica por Hitchcock em seu Vertigo. Ao contrário, a queda não se realiza por completo na canção nem no livro porque ambos são capazes de subverter a si próprios mediante a flutuação que criam, o próprio balão de “Ilha misteriosa de Júlio Verne na versão de Clarice Lispector”, que não permite ao leitor entender se sobe ou se desce, ainda que se saiba na queda: “E agora/ estamos subindo?// Pelo contrário/ […] nosso balão/ continua descendo/ quer dizer caindo”. E então ficamos assim, nessa suspensão flutuante em que se torna possível (inevitável?) rir — e até mesmo gargalhar — tanto mais forte e lancinante esteja a dor.
Jhenifer Silva é doutoranda em Teoria e Crítica Literária no Programa de Pós-Graduação em História e Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
[ficção]
por Redação
 18 escritores brasileiros, de diversas regiões do país, inspiram-se nos arquétipos do orixás para criar as narrativas desses Contos de Axé. Como explica o organizador, Marcelo Moutinho, “a partir dos contos criados com base na mitologia das religiões de matriz africana, a ideia é tentar iluminar uma cultura de admirável força alegórica que costuma ser ignorada no Brasil, embora seja tão definidora de nossa gênese”. A coletânea traz desde autores mais famosos, como Marcelino Freire, Nei Lopes e Edimilson de Almeida Pereira, até os estreantes como Itamar Vieira Junior e Geovani Martins. Cada autor escolheu o orixá que gostaria para inspirar seu conto.
18 escritores brasileiros, de diversas regiões do país, inspiram-se nos arquétipos do orixás para criar as narrativas desses Contos de Axé. Como explica o organizador, Marcelo Moutinho, “a partir dos contos criados com base na mitologia das religiões de matriz africana, a ideia é tentar iluminar uma cultura de admirável força alegórica que costuma ser ignorada no Brasil, embora seja tão definidora de nossa gênese”. A coletânea traz desde autores mais famosos, como Marcelino Freire, Nei Lopes e Edimilson de Almeida Pereira, até os estreantes como Itamar Vieira Junior e Geovani Martins. Cada autor escolheu o orixá que gostaria para inspirar seu conto.
 Coletânea que reúne 2 textos em prosa da autora maranhense, “A escrava” e “Gupeva”, e 32 poemas publicados entre as décadas de 60 e 70 do século 19. Por meio de sua prosa e de sua poesia, Maria Firmina dos Reis interagiu com os topos literários de sua época sem, no entanto, abandonar um olhar crítico sobre eles. Em “Gupeva”, por exemplo, a autora aborda o indianismo de forma a falar sobre as condições dos povos originários. Já “A escrava” traz uma narrativa que desvela a situação de horror vivida pelas pessoas escravizadas. Tema que também comparece em um de seus mais famosos poemas, aqui antologizado, “Hino à liberdade dos escravos”.
Coletânea que reúne 2 textos em prosa da autora maranhense, “A escrava” e “Gupeva”, e 32 poemas publicados entre as décadas de 60 e 70 do século 19. Por meio de sua prosa e de sua poesia, Maria Firmina dos Reis interagiu com os topos literários de sua época sem, no entanto, abandonar um olhar crítico sobre eles. Em “Gupeva”, por exemplo, a autora aborda o indianismo de forma a falar sobre as condições dos povos originários. Já “A escrava” traz uma narrativa que desvela a situação de horror vivida pelas pessoas escravizadas. Tema que também comparece em um de seus mais famosos poemas, aqui antologizado, “Hino à liberdade dos escravos”.
 Entre a prosa e a poesia, a escritora e artista paraense Monique Malcher tece seu livro de estreia, Flor de gume. Os contos são divididos em 3 seções, que permitem “o intenso encontro com o Norte do país, que nos ajuda a furar a ignorância do mercado editorial”, nas palavras de Jarid Arraes no texto de orelha. Na dedicatória do livro, já se lhe apresenta a tônica, que entrelaça a natureza, a vida das mulheres e seu amadurecimento em meio à violência: “Para as mulheres que sobrevivem com foice, palavras e magia. Para a menina que fui e mataram tantas vezes. Para a flor que sangra na noite de lua cheia”.
Entre a prosa e a poesia, a escritora e artista paraense Monique Malcher tece seu livro de estreia, Flor de gume. Os contos são divididos em 3 seções, que permitem “o intenso encontro com o Norte do país, que nos ajuda a furar a ignorância do mercado editorial”, nas palavras de Jarid Arraes no texto de orelha. Na dedicatória do livro, já se lhe apresenta a tônica, que entrelaça a natureza, a vida das mulheres e seu amadurecimento em meio à violência: “Para as mulheres que sobrevivem com foice, palavras e magia. Para a menina que fui e mataram tantas vezes. Para a flor que sangra na noite de lua cheia”.
[não ficção]
 Ensaios inventivos e poéticos sobre a cena teatral brasileira das últimas décadas. São textos que misturam observações pessoais, trechos de cartas, poemas, depoimentos, fotografias e dados biográficos para falar sobre os grandes acontecimentos e nomes do teatro brasileiro: a atuação de Cacilda Becker e Zé Celso, a dramaturgia de Plínio Marcos e Oduvaldo Vianna Filho, o teatro do oprimido de Augusto Boal; as revoluções encenadas pelo Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro Oficina e Teatro de Arena; o olhar crítico de Décio de Almeida Prado e Sábato Magaldi. Aqueles e aquelas que configuraram o que o autor chama “Teatro iluminado de sol”.
Ensaios inventivos e poéticos sobre a cena teatral brasileira das últimas décadas. São textos que misturam observações pessoais, trechos de cartas, poemas, depoimentos, fotografias e dados biográficos para falar sobre os grandes acontecimentos e nomes do teatro brasileiro: a atuação de Cacilda Becker e Zé Celso, a dramaturgia de Plínio Marcos e Oduvaldo Vianna Filho, o teatro do oprimido de Augusto Boal; as revoluções encenadas pelo Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro Oficina e Teatro de Arena; o olhar crítico de Décio de Almeida Prado e Sábato Magaldi. Aqueles e aquelas que configuraram o que o autor chama “Teatro iluminado de sol”.
 Reunião de 52 textos, entre artigos, ensaios, críticas, reportagens e dossiês culturais, que o autor publicou em jornais e revistas desde que iniciou a escrever na imprensa, em 1983 na Folha de Londrina. Com esses textos, os leitores atravessam o universo de referências e inquietações de Ademir Assunção: do Amazonas ao morro de Bezerra da Silva, da música de Lou Reed à poesia beatnik, “Ademir mostra aos recém-chegados ao mundo do jornalismo cultural, para quem não há hoje outra literatura específica que não a dos rufiões e farsantes, que a experiência pessoal é a base de toda boa reportagem”, nas palavras de Jotabê Medeiros.
Reunião de 52 textos, entre artigos, ensaios, críticas, reportagens e dossiês culturais, que o autor publicou em jornais e revistas desde que iniciou a escrever na imprensa, em 1983 na Folha de Londrina. Com esses textos, os leitores atravessam o universo de referências e inquietações de Ademir Assunção: do Amazonas ao morro de Bezerra da Silva, da música de Lou Reed à poesia beatnik, “Ademir mostra aos recém-chegados ao mundo do jornalismo cultural, para quem não há hoje outra literatura específica que não a dos rufiões e farsantes, que a experiência pessoal é a base de toda boa reportagem”, nas palavras de Jotabê Medeiros.
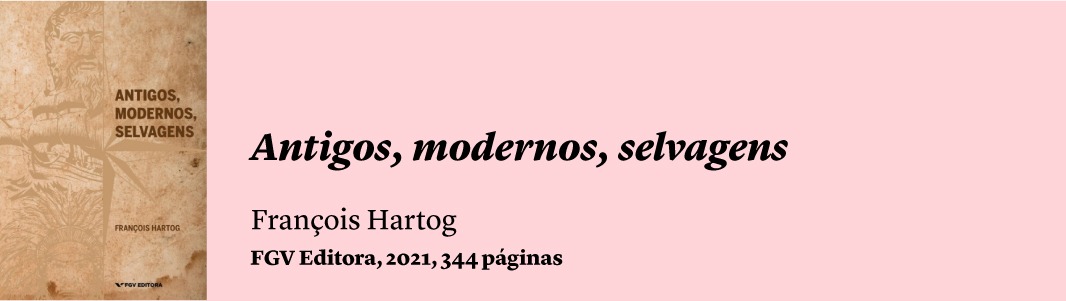 Com uma abordagem que vai da Antiguidade à metade do século 20, o historiador francês François Hartog elenca essas três conceituações de homem (antigos, modernos e selvagens) para escrutinar as continuidades e rupturas entre elas. Traça, assim, uma espécie de história intelectual da cultura europeia, descortinando que, diferente do que se pensa, talvez não existam tantos confrontos e rupturas entre o homem antigo e moderno. Inspirada em Tristes trópicos, do antropólogo francês Lévi-Strauss, a obra explora os “entre espaços”, as lacunas vislumbradas entre as diferentes noções do homem no tempo.
Com uma abordagem que vai da Antiguidade à metade do século 20, o historiador francês François Hartog elenca essas três conceituações de homem (antigos, modernos e selvagens) para escrutinar as continuidades e rupturas entre elas. Traça, assim, uma espécie de história intelectual da cultura europeia, descortinando que, diferente do que se pensa, talvez não existam tantos confrontos e rupturas entre o homem antigo e moderno. Inspirada em Tristes trópicos, do antropólogo francês Lévi-Strauss, a obra explora os “entre espaços”, as lacunas vislumbradas entre as diferentes noções do homem no tempo.
 Panorama sobre a produção textual da Roma Antiga. Para aqueles que se iniciam nos estudos clássicos, a obra oferece uma abordagem dos diferentes gêneros textuais da época e focaliza os principais autores e obras de cada gênero. Ao falar da poesia latina, debruça-se sobre as diferenças entre épica, dramática, lírica, satírica e didática. Na prosa, aborda a narrativa ficcional, ou “romance”, e passa pelos outros gêneros do discurso: história, oratória, retórica, filosofia e epistolografia. Conta ainda com trechos traduzidos das obras citadas de maior representatividade.
Panorama sobre a produção textual da Roma Antiga. Para aqueles que se iniciam nos estudos clássicos, a obra oferece uma abordagem dos diferentes gêneros textuais da época e focaliza os principais autores e obras de cada gênero. Ao falar da poesia latina, debruça-se sobre as diferenças entre épica, dramática, lírica, satírica e didática. Na prosa, aborda a narrativa ficcional, ou “romance”, e passa pelos outros gêneros do discurso: história, oratória, retórica, filosofia e epistolografia. Conta ainda com trechos traduzidos das obras citadas de maior representatividade.








