Origem, imemorialidade, ausência

(Foto: Stig de Lavor)
.
Apoiada no exercício de um pensamento pós-ocidental, a encenação da ópera O guarani, com direção musical e regência de Roberto Minczuk, concepção geral de Ailton Krenak, direção cênica de Cibele Forjaz e direção de arte e cenografia compartilhadas entre Denilson Baniwa e Simone Mina, antes simplesmente de confrontar, destruir ou mesmo reconstruir um dos grandes símbolos culturais brasileiros do passado (assentado sobre a presunção de constituir um mito de fundação do país), prefere examiná-lo à luz da perspectiva histórica desenvolvida nos dias de hoje, estabelecendo algumas angulações que permitiram aos criadores lidar de outro modo com esse espécime canônico que não o da simples deferência a ele.
Baseada no romance homônimo de José de Alencar, a ópera de Carlos Gomes, com libreto de Antonio Scalvini e Carlos D’Ormeville, carreia para o ambiente da cultura lírica a mesma substância que lhe percorria as artérias na esfera da manifestação literária: seu penhor indianista. Que, como sói acontecer com todas as convenções estéticas, envelheceu. Se o indianismo, de acordo com Antonio Candido, deu a “um país de mestiços o álibi de uma raça heroica, e a uma nação de história curta a profundidade do tempo lendário”, o nativismo explorado por Alencar em O guarani é de tipo ressentido e retrógrado, idealizando uma civilização pré-industrial regenerada pela seiva da natureza americana, conforme identificou outro grande crítico literário, Alfredo Bosi.
Diferentemente da posição iconoclasta ou derruidora que a atribuição da concepção geral da ópera a uma liderança indígena poderia sugerir, o que a encenação propõe é a reivindicação da presença dos povos originários no mesmo lugar em que ocorrem as ações, como se lhes fosse possível ocupar um espaço simultâneo e habitar esse território de observação. O trabalho de Ailton Krenak, Cibele Forjaz, Denilson Baniwa e Simone Mina não desestabiliza por dentro a criação original, optando por esfumaçar alguns de seus sentidos e de seus modos de recepção.
É por meio da preservação da ópera, isto é, do canto e da música encenados (que, aqui no caso, remetem a uma palavra literária comprometida com uma ideologia de cunho nacionalista), que a equipe de criadores de O guarani busca exercitar algum tipo de politicidade. O que os eflúvios decoloniais do espetáculo deixam entrever é que, quando arte e política se friccionam, em ambas formam-se sulcos. Que rapidamente se regeneram ou permitem o acesso a camadas mais profundas de entendimento.

O fato de a famosa ária de Ceci no segundo ato “Oh! Come è bello il ciel!” ter de competir pela atenção do púbico com a projeção cinematográfica de cenas de objetificação de povos originários, seja aqui ou no Tibet, acompanhada de textos que privam da ironia, demonstra a disposição dos criadores de embaralhar as fronteiras entre um objeto “somente” artístico e a realidade que insiste em lhe ser circundante. Tutti dobbiamo amar! é o que nos cabe, nada mais?
A encenação de uma ópera indianista em que os indígenas de fato em cena não cantam, ou antes, não cantam no registro do bel canto operístico dominante, talvez assuma a tarefa política de delinear o silêncio. Intermitente, confuso, gritante dessas vozes que se calam porque foram caladas.
É certo que em tal operação reside um perigo: o da apropriação pura e simplesmente da presença do outro. Seria possível ao projeto resvalar na utopia de tornar dissonantes aquelas vozes indígenas e transformá-las de fato na voz deste Outro a nos tomar de assalto? Caberia à presença indígena desafinar o coro dos contentes?
Talvez na cena final, quando o canto de Zahy Tentehar se sobrepõe ao encerramento dos eventos da ópera, possamos vislumbrar esse desvio da cena que se converte em delírio da voz. Aquele que se cala também canta. E encerra o “espetáculo”. A pergunta que se coloca é se estamos preparados de fato para escutar essa canção. No ensaio “Uns índios (e suas falas)”, que integra o volume Saudades do mundo: notícias da antropofagia, Eduardo Sterzi evoca a afirmação de Guimarães Rosa, para quem escutar é sempre esperar “ouvir uma revelação”.
O psicólogo e filósofo mexicano David Pavón-Cuéllar afirma em Além da psicologia: concepções mesoamericanas da subjetividade que
os povos originários mesoamericanos, diferentemente do que se poderia crer, não excluem as mudanças individuais. O indivíduo não é para eles alguém que deva se manter recluso em uma identidade fixa e imutável. […] A mesma variabilidade se observa no costume do indígena de ser outro na vida onírica e nos transes provocados por substâncias alucinógenas. Pedro Pitarch Ramón observa aqui dois “estados não ordinários de identidade” que ilustram como os habitantes da Mesoamérica “têm se dedicado a cultivar a arte de não ser eles mesmos”. Talvez seja mais correto dizer que sua arte consiste em seguir sendo eles mesmos ao não ser os mesmos, ao ser outros, ao ser muitas coisas diferentes.

É interessante observar que esse movimento de ser uma espécie de duplo dos brancos (querer tornar-se branco enquanto dura a apresentação) esteja na base da concepção cênica de O guarani, inspirada pela leitura do ensaio “O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”, de Eduardo Viveiros de Castro. Ocorre perguntar em que medida a encenação convoca também ao movimento de querermos ser indígenas. Se o próprio Viveiros de Castro nos assevera que “a indianidade é um projeto de futuro, não de uma memória do passado”, como transformar os elementos narrativos de José de Alencar e a música de Carlos Gomes em figurações do devir-índio e não somente em fulgurações do pretérito indianista?
Pensando uma vez mais com Eduardo Viveiros de Castro, para quem incorporar o outro é assumir sua alteridade, visto que o mundo sem o outro se torna impensável, justamente porque este outro é indispensável, parece legítimo perguntar o que aconteceria se a cultura da oralidade indígena fosse absorvida em cena pela cultura do canto letrado?
Há muitos méritos nesta encenação de O guarani, como também há pontos vulneráveis, o que é natural, dada a envergadura do projeto. Sair do teatro revendo os modos de significação de uma criação artística do passado é também prever seus modos de representação no futuro? Será possível que a imagem de horror dos povos originários massacrados no mundo de ontem e no mundo de hoje suscite a imaginação de um outro mundo no futuro? Indígena, indigente, alienígena são palavras que se espelham. A que será que se destinam?
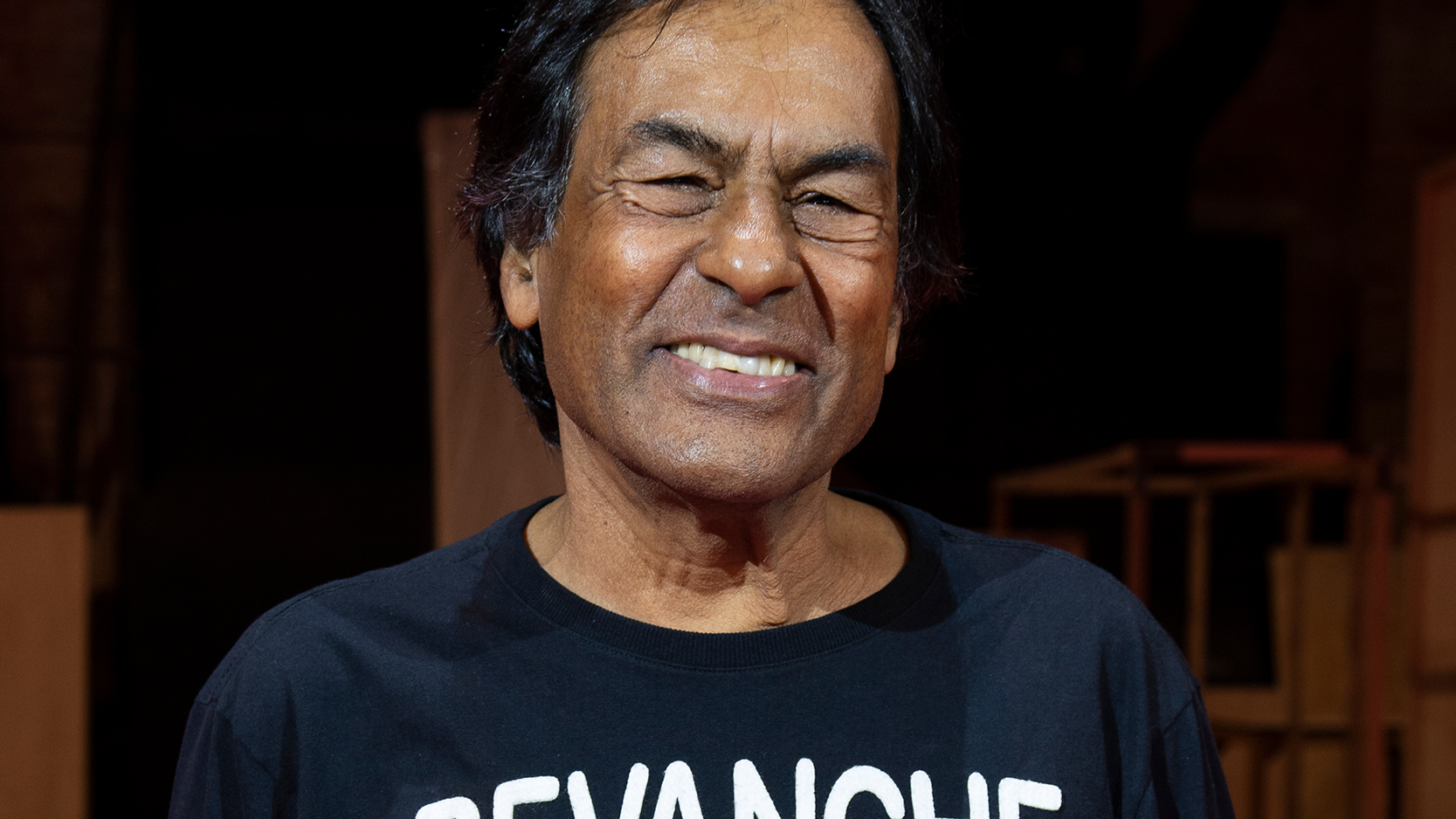
Leia aqui a análise da ópera por Irineu Franco Perpetuo
O GUARANI
Theatro Municipal de São Paulo
Praça Ramos de azevedo, s/n – Centro – São Paulo, SP
Sexta, às 20h; sábado e domingo, às 17h
Duração: 180 minutos com intervalo
Classificação: 12 anos
Até 21 de maio
Welington Andrade é bacharel em Artes Cênicas pela Unirio, mestre e doutor em Literatura Brasileira pela USP e professor da Faculdade Cásper Líbero.










