O grito como herança

O poeta Carlos de Assumpção: 'Só faço poemas com tema negro. Não me aventuro a outras coisas, porque já tem outras pessoas para fazer isso' (Foto: Ricardo Benichio)
Há uma direção nítida em Carlos de Assumpção, poeta que veio para combater: “Vocês [que] se apoderam das terras/ Dos rios e dos mares/ Dos campos e das cidades/ Dos costumes e das leis/ Da vida e da morte/ Do céu e do inferno/ De Deus e do Diabo”, “Vocês [que] se julgam senhores exclusivos de tudo”.
Poesia em nome de um “nós” violentado de todos os modos, da colonização ao neoliberalismo: pela diáspora, pela escravização, pela tortura, pelo aniquilamento das línguas, pelo estupro, pela interdição à sacralidade, pela perseguição cultural, pelas condições de moradia, pelo negrocídio, pelo tráfico, pelo subemprego, pelo desemprego, pela miséria, enfim, pelo Estado que “vai mirar na cabecinha e… fogo”.
Há nessa poesia um grito que, provindo do passado, envia-se a um futuro, lançando-se contra o racismo que denuncia, deixando ao país sua mais que necessária pedagogia do grito como herança. O poeta nos oferece uma história do Brasil escovada a contrapelo pelo testemunho de um povo que sobrevive lutando pela justiça que vem.
Esta entrevista é simultânea ao lançamento de Não pararei de gritar: poemas reunidos (Companhia das Letras), que supre uma triste lacuna de nossa história recente, de nossa crítica, de nosso jornalismo e de nosso meio editorial hegemônicos, por não terem percebido esse poeta imenso, sua força no movimento negro, nem o que de sua poesia indicaram professores e pesquisadores que participam de um aparato afrodiaspórico a se ocupar de poesia de autoria negra.
Seu Carlos, como o senhor gostaria de se apresentar?
Eu sou de Tietê (SP), fiz o primário em Tietê. No terceiro ano, uma professora fez, na lousa, um quadrinho de honra e me colocou como o primeiro aluno. Havia filho de promotor, do prefeito, pessoas de ascendência forte. Mas ela escolheu a mim. Eu não esperava que ela fosse me escolher. Acho que eu tinha uns treze anos, estava no terceiro ano. Ela precisou se afastar, veio uma substituta para terminar o ano letivo. A substituta olhava para mim com um olhar frio, parecia punhal. Acho que ela não gostou da minha cara preta. Um dia, ela disse que eu não merecia estar no quadro de honra, pegou o apagador e tirou meu nome. Foi um choque tremendo para mim, uma experiência terrível.
No quarto ano, tinha uma professora chamada Albertina Albi, fabulosa. Com ela é que aprendi a lecionar. Como eu gostava de ler, eu imitava quem eu lia. Então, parecia que eu sabia muita coisa. Fazia redações muito bonitas, inusitadas, inesperadas. Ela me perguntou se eu não queria estudar o ginásio. Eu bem que gostaria, mas de que forma? Na minha casa, o negócio era difícil, muito difícil. Naquele tempo, tinha um curso de admissão ao ginásio. Era uma barreira que se punha na vida do estudante, acho que para colocar de lado os mais pobres, inclusive os negros. Eu sempre fui o único aluno negro na sala. Isso me estranhou muito. Eu ficava intrigado, porque era só eu negro estudando, porque os outros negros não estudavam. A condição econômica do negro é terrível, impede que ele faça muita coisa.
Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe – eu estava entusiasmado, mas sabendo que não daria. Minha mãe me falou: “Mas como, Carlos? Bem que eu gostaria, mas tem esse curso de admissão, é caro, se não fizer não entra”. Minha mãe conversou com meu pai, que queria me levar para a roça. Eu tinha horror, eu já tinha trabalhado um pouco na roça. Minha mãe conseguiu convencer meu pai de que eu ia estudar. Eu consegui fazer o curso de admissão, entrei no ginásio. No quarto ano, tinha a formatura, que era solene, com as pessoas importantes da cidade. Minha mãe fez um terninho branco de saco de açúcar, alvejou o pano, ficou bonito.
O senhor trabalhava enquanto estudava?
Trabalho era só na roça, e na roça eu não queria. Eu tentei trabalhar numa hidroelétrica. Tinha que carregar cimento. Esse ombro ficou em carne viva. Só aguentei uma semana. Quando fui receber, era uma miséria. Eu pensei: “Ah, não sou escravo, não vou mais não”. A gente tinha de se defender, mas é muito difícil para quem não está acostumado.
E a poesia, seu Carlos, quando começou?
Eu comecei a fazer poesia com 14 anos. Publicava no jornalzinho de Tietê. Trabalhei na rádio local de Tietê também. O dono era pai de um colega meu. O pai delegava tudo para o filho, que me chamou para fazer o que eu quisesse. Fiz um programa de poesia: “Momentos para sonhar”.
O senhor falava seus poemas no “Momentos para sonhar”?
Não. Para aquela época, para Tietê, minha poesia era contundente demais. Já era política. Tem uma [“Questão de sorte”] que eu falo assim: O negro era inteligente/ O branco não/ O negro era culto/ O branco não/ O negro era educado/ O branco não/ O negro era capaz/ O branco não// Foram juntos pedir emprego/ A uma mesma repartição/ Umas três vagas havia/ Fizeram sua inscrição// Decisão/ O branco foi contratado/ O negro não. Essa poesia me deu trabalho. Já fui muito vaiado por causa dela [risos]. Por causa do racismo. As pessoas não estão acostumadas com esse começo: “O negro era inteligente/ O branco não”. Choca. Eu fiz para agredir mesmo. Estava denunciando a injustiça.
“Questão de sorte” é dessa época então?
É. Essa poesia é mais antiga que o “Protesto” [seu poema mais conhecido, referência entre o movimento negro]. Eu tinha um certo nome por causa dela. É simples, muito simples. Mais ou menos na época em que escrevi essa poesia, eu estava fazendo o curso Normal. Minha mãe falou para eu fazer o Normal e, com o dinheiro que eu ganhasse dando aula para o primário, eu estudaria mais. Achei muito razoável que pudesse dar certo, como deu.
Acabei tentando dar aula, primeiro, em Rinópolis (SP). Escrevi uma carta ao diretor da escola, perguntando se tinha vagas na escola. Ele disse que tinha um monte de vagas. Quando cheguei lá, sem nenhum dinheiro, o diretor viu que eu era negro e disse que não tinha vaga. Eu não tinha como voltar. Fiquei andando pela rua, sem dinheiro. A barriga estava funda. Um amigo me chamou e perguntou o que eu fazia ali. Olha só que sorte! Contei a história para ele, que me ajudou. Acabei trabalhando em Tupã, como professor substituto, na escola Bartira. Depois de um longo tempo, arranjei um emprego fixo numa escola na zona rural.
Aí, casei. Eu queria ir para São Paulo. Eu era meio esquisito. Achava que meu lugar era lá, meus amigos estavam lá. Fui para São Paulo e não foi fácil. Fui ajudante de caminhão, faxineiro no jornal Estadão, servente de escola particular, empregado numa loja de joias, fiz uma porção de coisas que não tinha nada a ver com estudo.
Tinha um programa na Rádio Cultura, que ficava na avenida São João, que mostrava as injustiças sociais. Nele, apareciam essas pessoas derrotadas na vida. Derrotado era eu mesmo, era comigo mesmo [risos]. Eu fui e disse que escrevia poesia, fiz um carnaval no meu nome. Ele ficou impressionado comigo. Muita gente ligou para lá me oferecendo oportunidade. Aí, fui trabalhar num laboratório farmacêutico.
Saí de São Paulo de repente porque minha vida estava muito ruim e eu estava indo para um caminho que não devia. Muita boemia. Minha mulher – a antes da Lourdes – falou que, se eu não mudasse, ela iria embora. Mudei rápido. Queria sair de São Paulo de qualquer jeito, porque eu estava naufragando. São Paulo nunca foi com a minha cara. Lá, sempre deu errado. Eu cheguei na Comissão de Remoção e perguntei onde tinha um lugar o mais longe possível de São Paulo. Fui com minha mulher para Rifaina (SP), dar aula no primário.
Quando eu estava lá, fundaram o primeiro ginásio da cidade, e não tinha quem desse aula de francês. Eu arranhava um pouco no francês. Comecei a dar aula de francês. Uma professora, Adonira, me sugeriu fazer o curso de Letras, com formação em francês. Acabei fazendo o curso, primeiro em Passos (MG), depois me transferi para Franca, para a Unesp (Universidade Estadual Paulista), onde acabei por concluir o curso no começo dos anos 1970.

O senhor já tinha escrito pelo menos “Questão de sorte”, “Protesto” e “Meus avós”. Quando fez a faculdade, mudou algo em sua escrita?
Na faculdade ninguém sabia que eu escrevia poesia. Não falei nada para ninguém. Eles só estavam lendo aqueles escritores herméticos… A minha poesia é cascuda, não tem firula. Nunca falei para ninguém que escrevia. Eu dava aula e fazia faculdade, era uma vida corridíssima. Eu tinha de dar 44 horas de aula para ganhar uma miséria.
E o curso de Direito, que o senhor também fez?
Depois de terminada a Faculdade de Letras, eu fiz a de Direito. Queria ser delegado. Para ser delegado, tem de fazer Direito. Mas tiraram da minha cabeça… Tinha de prender os outros! Formado, eu advoguei na área penal por certo tempo. Foi bom para ver a injustiça que existe. Eu vi muita injustiça.
Vamos voltar um pouco para a época de São Paulo, para a Associação Cultural do Negro (ACN). Dela, saiu um grupo muito bom de poetas, o senhor, o Oswaldo de Camargo, o Eduardo de Oliveira, a Hirata, a Marta Botelho… Com relação muito forte entre poesia e política.
Muitos refugiados políticos, muitos poetas e intelectuais passavam por ali. O meu encontro com o Nicolás Guillén eu acredito que tenha sido na Associação Cultural do Negro. Eu nunca o ouvi falar um poema. Mas gostei muito dele. Depois, adquiri um livro dele, gostei muito do West Indies e, por isso, decorei parte desse poema. Ele era formidável. O Léon Damas, grande poeta, da Guiana Francesa, frequentou a ACN, mas a gente sempre se desencontrava, nunca deu certo conversar com ele. Uma outra que frequentava a Associação era a Ruth de Souza, que faleceu este ano. Ela vem do Teatro Experimental do Negro (TEN), ela, a Jacyra Sampaio… Muita gente queria declamar o “Protesto”, mas é muito difícil, porque ele não segue uma linha. Passa de um assunto para outro, vai, vem, volta, fica difícil. Muita gente tinha medo de declamar o “Protesto”. Quando eu estava lá, perto de mim, ninguém declamava, porque achavam que era uma usurpação. A Nair Araújo, uma das atrizes do Teatro Experimental do Negro, foi a melhor declamadora do poema “Protesto”.
O primeiro número do Niger, jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil, de 1960, tem uma matéria que menciona o senhor, o Oswaldo de Camargo, o Eduardo de Oliveira e o Marcílio Fernandes. Há esse vínculo entre poesia e os operários.
Eu quase entrei pelo cano por causa disso. Como eu declamava na Associação e, às vezes, eles falavam “Carlos, vai para tal lugar”, eu ia declamar em vários lugares, em várias cidades vizinhas, Sorocaba, Piracicaba, eu estava sempre saindo para declamar. Quase todos eram de esquerda. Tinha um professor de inglês chamado Israel, que era comunista. O comunista é muito social, não vai com pessoas racistas. Racismo e comunismo não se misturam. Então, ele falava para mim: “Carlos, nós vamos ter uma reunião…”. Naquele tempo, as reuniões eram sempre entre quatro paredes, com janelas fechadas, porta bem fechada, tudo bem fechado. Aquela coisa esquisita. Eram reuniões, assim, secretas. Eu ia. Eu estava fazendo não sei o quê lá, porque nunca fui comunista, nem sabia o que era comunismo. Mas correu um boato que eu era poeta do PCB (Partido Comunista Brasileiro).
A que o senhor atribui essa efervescência de poetas na Associação Cultural do Negro na virada dos anos 1950 para os anos 1960?
É o anseio por libertação. Naquele tempo, foi muito forte mesmo. E tinha público para isso. O povo se sentia bem ouvindo o “Protesto”, o “Banzo” [do Eduardo de Oliveira], o poema do Oswaldo [de Camargo], que era um poeta forte lá. Nós saíamos declamando. Eu declamava muito o poema “Protesto”. Até na rua. Alguns associados me levavam para a casa deles para declamar poesia para a mulher, para os filhos… Eu ia. Nossa, fui a muitas casas.
O “Protesto” foi o poema do senhor que ficou mais conhecido. E o “Meus avós”, de 1960, é um poema tão grandioso quanto o “Protesto”…
Aquele que fez a orelha do meu primeiro livro [Henrique L. Alves] costumava falar que eu era um “poeta de um poema só”, que era o “Protesto”. Eu tinha mais poemas, mas o que dava destaque, o que dava ibope, era esse mesmo. Por isso, não trabalhei em outros poemas. Eu mesmo acabei me esquecendo dos outros… Fui na onda…
Outro momento importante é o dos Cadernos negros, dos quais o senhor participou em três números.
Nessa época, eu não morava mais em São Paulo. Mas tinha muito contato com eles, tinha o [Paulo] Colina, o Cuti, o Márcio [Barbosa], o Oswaldo [de Camargo], uma turma boa. Eram todos meus amigos. O maior deles para mim é o Cuti. E fizemos juntos o CD Quilombo de palavras. Ele é um grande intelectual, escreve poesia, conto, ensaio, teatro… Para mim, é o maior literato negro atual. O Adão Ventura, eu o procurei lá em Passos, onde ele foi promotor, mas ele tinha se mudado. Depois, fiquei sabendo que ele faleceu, cedo, cedo.
Quais são as maiores referências para o senhor?
Eu gosto do Langston Hughes. Ele tem uma maneira de falar naquele eu coletivo, aquele eu que significa nós, que dá uma força muito grande. A gente mistura o eu real com o eu coletivo. Gosto do Drummond de Andrade. Gosto do García Lorca. Gosto do Guillén, como já disse. Mas acho que quem mais me influenciou foram os cururueiros de Tietê. E, também, com uma quadrinha só, o Valério Correia, que só tinha uma quadrinha, que é o que restou da poesia dele. Era um poeta repentista, que andava pela cidade. De vez em quando era preso, porque fazia crítica ao poder. Prendiam-no então por vadiagem. Antigamente, quando queriam prender, eles prendiam por vadiagem. Quando eu conheci Solano Trindade, eu já tinha escrito o “Protesto”, já tinha escrito muita coisa. Mas eu gosto demais dele. O Luiz Gama defendeu muitos negros que mataram seus senhores e ganhou as causas como legítima defesa. O Luiz Gama foi um grande homem. Ele morava no Brás. Foi enterrado no Cemitério da Saudade, que fica lá na Consolação, bem distante da casa dele. O transcurso do caixão foi feito no ombro do povo. Um trocava com outro. Tinha 3.500 pessoas no transcurso, que foram até onde ele foi enterrado. Eu fui no túmulo dele. Todo ano nós fazíamos uma homenagem ao Luiz Gama. Ele foi o precursor da poesia de combate, um dos precursores da poesia negra, de contundência social. Sempre gostei do Gonçalves Dias, que também sofreu preconceito. Fiz um poema, chamado “Prece”, para o Castro Alves. Eu gosto muito do Machado de Assis. Machado de Assis é um milagre. Nasceu no morro, sofreu, era gago, epiléptico, negro e venceu. Tem uma poeta que mora em Brasília, que se chama Cristiane Sobral, que eu gosto demais dela. Ela é formidável. A Miriam Alves, que esteve aqui em casa, eu também gosto dela. O melhor para mim é o Cuti. E o [Akins] Kinte.
Como o senhor pensa a questão da relação entre a poesia de autoria negra e a poesia de autoria branca?
Eu só faço poemas com tema negro. Só. Não me aventuro a outras coisas, porque já tem outras pessoas para fazer isso. Eu quero impor minha poesia negra também junto com os brancos. Mas sem descaracterizá-la. É o que eu acho que tem de ser. Tem muitos brancos que gostam, que também se sentem injustiçados. Independentemente de ser uma poesia engajada na literatura negra, consegue atingir também os brancos. O meu objetivo é atingir todo mundo.
Porque é a história do Brasil…
É, lógico. E dá para atingir, sim. É muito difícil, não é fácil, porque às vezes a pessoa coloca o problema de uma forma que parece que ela quer se excluir. Eu quero conviver com todo mundo. Minha poesia quer isso também. Igualdade racial, igualdade política, igualdade em tudo. É só isso. Eu não sei, eu acho que consegui, eu acho que consegui…
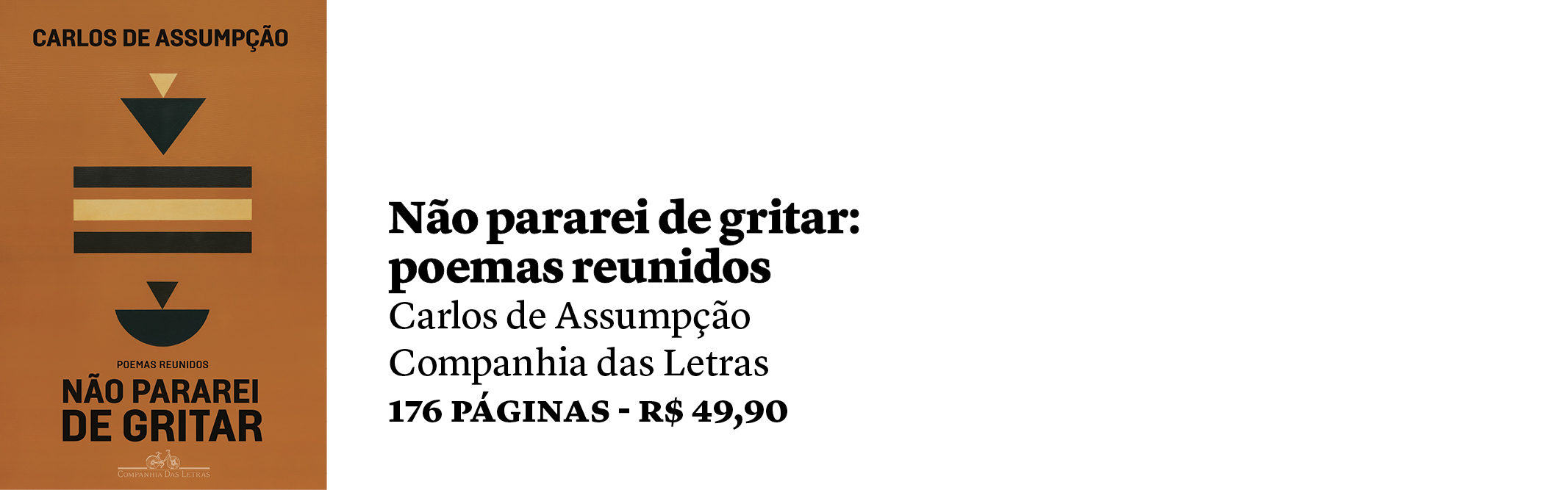
ALBERTO PUCHEU é poeta, ensaísta e professor da UFRJ










