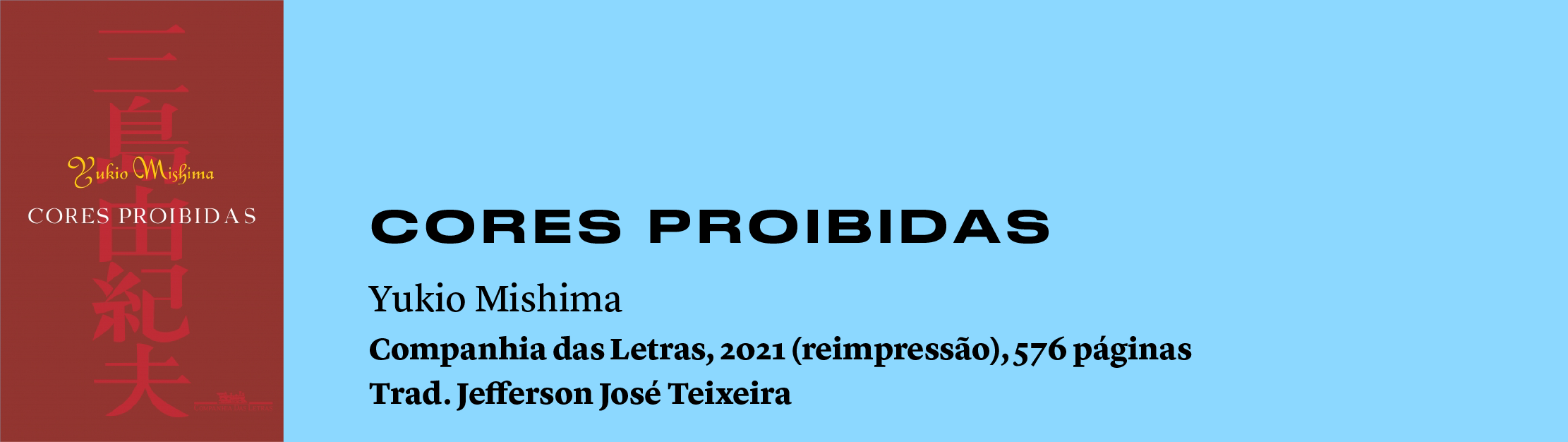Estante Cult | No coração da natureza

.
Emanuele Coccia nasceu em 1974 na cidade italiana de Fermo, localizada a cerca de 100 km a sudeste de Ancona, a capital das Marche. Dos catorze aos dezenove anos, foi aluno do Instituto Técnico Agrário Garibaldi, em Macerata, onde se dedicou ao estudo da botânica, patologia vegetal, química agrária, horticultura e entomologia, mantendo posteriormente o interesse pelas plantas durante sua formação universitária em filosofia. “Essa exposição cotidiana e prolongada a seres inicialmente tão afastados de mim marcou de maneira definitiva meu olhar sobre o mundo”, afirma o autor, cuja obra, traduzida para diversas línguas, propõe ampliar a percepção da vida e de seus sistemas. Professor titular de Filosofia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) de Paris, Coccia atua também em importantes centros acadêmicos em Florença, Berlim, Friburgo e Nova York.
Após as edições em português de A vida sensível (Cultura e Barbárie, 2010), A vida das plantas: uma metafísica da mistura (Cultura e Barbárie, 2018) e Metamorfoses (Dantes Editora, 2020), o mais recente título do filósofo lançado no mercado editorial brasileiro é O semeador da natureza contemporânea (Cultura e Barbárie, 2022), uma declaração de amor, a um só tempo, ao objeto livro, à obra do pintor holandês Vincent Van Gogh e à natureza, entendida como a realidade máxima de todas as espécies, que abole toda e qualquer categorização hierárquica entre elas.
Lançados em formato de livro de bolso, em edição limitada e numerada, os exemplares de O semeador da natureza contemporânea são costurados à mão e montados individualmente, oferecendo ao leitor, dentre outros pequenos tesouros, a reprodução de duas cartas de Van Gogh a seu irmão Theo, em que o pintor discute o processo de criação das telas Semeador ao pôr do sol e Tronco de um velho teixo, ambas de 1888, a partir das quais Emanuele Coccia irá tecer uma série de reflexões filosóficas que, embora pautadas pela brevidade, primam não somente pela densidade conceitual como também pela beleza poética.
Estimulado pela “questão do semeador” na obra do artista holandês, o filósofo inventaria a gênese de ambos os quadros, em que a expressão da modernidade pictórica de Van Gogh não reside na caracterização puramente cromática dos elementos pintados, por meio da qual eles converter-se-iam somente em objetos de cor. Antes, tal pulsação moderna encontra-se na atitude de transformar tudo em paisagem, não cabendo ao homem de modo algum sobrepor-se aos demais atores não humanos.
Essa atitude inaugura uma nova perspectiva ontológica, para a qual o verdadeiro sujeito da existência é o planeta, de cujo grande corpo ancestral todo ser vivo é apenas uma forma de reciclagem:
A pintura deve metamorfosear o mundo em paisagem; os próprios rostos humanos devem se tornar da consistência das montanhas e dos campos. (…) A paisagem é o dispositivo ontológico que permite à terra existir com o mesmo direito que um camponês que a semeia. É através da paisagem que tudo se transforma em tema e sujeito: o sol, a terra, a árvore, o semeador, a relva…
Seguem-se então algumas das considerações mais genuínas tecidas pela filosofia contemporânea a respeito da vida, humana e não humana. Falando dos temas que lhe moldaram a percepção na adolescência e início da juventude – a agricultura e a contemplação da natureza, silente e indiferente a tudo o que é chamado de cultura –, o filósofo define a luz (que ele observa tratar-se de um elemento extraterrestre, já que vem do espaço sideral) como “a condição de vida de todos os viventes”, sendo comum tanto ao pintor como ao semeador:
Pintar o semeador é buscar compreender a verdadeira natureza da pintura; pintar a agricultura oferece a possibilidade de conhecer sua natureza espiritual, sua relação íntima com a luz e sua capacidade de mudar a partir de dentro a vida da matéria.
Em tempos nos quais a ecologia é somente uma etiqueta discursiva disposta a maquiar as estratégias sinistras do agronegócio e a sustentar retórica e ineficientemente os discursos dos bem pensantes, mergulhar nos meandros da filosofia da natureza, como propõe o filósofo, é renunciar à ilusão do antropocentrismo que tem sido motivo de nosso orgulho intelectual e de nossa miséria espiritual, é entender que um homem e uma árvore se equivalem no gesto de serem semeadores, é descobrir que toda semeadura “é uma política da luz, uma vontade de fazer a luz chegar alhures, fazê-la existir ali onde ala ainda não está presente, mas também uma tentativa de pôr o sol e sua força astral em outros lugares do cosmos”.
Na bela introdução que faz a O espírito da floresta, de Bruce Albert e Davi Kopenawa, Emanuele Coccia afirma que todos os animais e todos os seres vivos falam, embora nós humanos ainda não tenhamos achado a melhor maneira de traduzir a linguagem deles para a nossa. Ao afirmar em O semeador da natureza contemporânea, dentre outras imagens tingidas por admirável lirismo, que “cada espécie é o território agroecológico das outras: cada ser é o jardineiro de outras espécies, mas também o jardim de outras espécies ainda”, Emanuele Coccia arrisca propor a criação de um código novo. Cuja grande qualidade é traduzir fibras e seiva em tramas e folhas repletas de vida.

ESTANTE CULT | NOTAS
Paulo Henrique Pompermaier
“Na minha juventude, eu me orgulhava de a sorte ser associada a uma dama. Na verdade, havia tão poucos reconhecimentos públicos da presença feminina que me sentia pessoalmente honrada sempre que se usava o pronome feminino para falar da natureza e de grandes embarcações. Mas, conforme fui amadurecendo, comecei a me ressentir do fato de ser considerada irmã de um ser mutante e tão volúvel quanto a sorte, tão indiferente quanto um oceano, tão frívolo quanto a natureza”, escreve a poeta estadunidense Maya Angelou em “De todas as formas uma mulher”, primeiro texto entre os 24 que compõem Não trocaria minha jornada por nada, expressando, de partida, os conflitos e contradições que envolvem pensar a mulher negra em perspectiva. Com esse olhar sensível, atento à sutil, mas decisória implicação do pronome feminino, Angelou percorre sua trajetória em textos que misturam a autobiografia, o ensaísmo e a poesia. Nessa encruzilhada de formas e angulações, lemos sobre a solidão da mulher negra; as lembranças familiares de Angelou; as questões de gênero; as memórias ancestrais da África e seu desaguar nas novas formas de manifestação religiosa nas Américas. Esse último ponto, inclusive, está implícito no título do livro, que faz referência à canção On My Journey Now: Mount Zion, entoada por escravizados nos Estados Unidos e que, contemporaneamente, pertence ao repertório das igrejas cristãs afro-americanas.

Leitor atento de Kant, Schelling, Fichte, Hegel e Feuerbach, os quais estudou em Berlim na década de 1840, Ivan Serguéievitch Turguêniev abordou em sua obra literária os conflitos entre a análise científica e descomprometida e o deslumbramento sensível com o mundo. Tanto que, para a professora, tradutora e crítica Aurora Fornoni Bernardini, um tema marcante de toda a obra de Turguêniev é “a natureza destrutiva do excessivo cerebralismo”. Na novela Clara Militch, seu último escrito, percebemos tal liame na relação entre o jovem Iákov Arátov e Clara Militch, cantora lírica que ele conhece durante a apresentação de uma peça de Tchaikóvski. Após o encontro hipnótico no teatro, Arátov recebe uma carta misteriosa de Clara propondo um encontro a sós. A missiva desencadeia o desenvolvimento narrativo, marcado pela paixão fulminante e seu contraponto na tragédia. A novela, assim, é representativa de outro esquema caro à prosa de Turguêniev: o embate entre personagens masculinos pálidos, inertes diante de tantas ideias e pensamentos, e as personagens femininas impetuosas e decididas, aproximando-se às vezes da arquetípica femme fatale, ainda na análise de Bernardini. Clara Militch, nessa perspectiva, pode ser vista “na tradição da Tatiana de Púchkin, a donzela que se aproxima em vão de Evguéni Oniéguin e se torna mulher entre provocações sentimentais e renúncias que não lhe enfraquecem a têmpera nem lhe alteram a dignidade”, na aproximação que Bernardini estabelece entre o clássico romance em versos de Púchkin e as mulheres da prosa de Turguêniev.

Poucos escritores, talvez, escreveram com a crueldade de um seppuku como Yukio Mishima, e a engenhosa trama do romance Cores proibidas, de volta às livrarias depois de anos esgotado, demonstra o precoce talento do escritor japonês, que o concebeu aos 28 anos, em rimar amor e dor. Shunsuke, um famoso escritor que, já na velhice, encara a estagnação criativa, conhece o jovem Yuchi, beldade deslumbrante a realizar na carne o marmóreo Davi de Michelangelo. Apesar de estar comprometido com um casamento arranjado, Yuchi confessa ao homem sua homossexualidade e pede uma saída para a possível felicidade em um Japão conservador, avesso às livres aventuras sexuais. Shunsuke, então, propõe que, em troca de dinheiro, o jovem se case e viva aventuras amorosas com as mulheres escolhidas pelo escritor, como uma forma de vingar suas desilusões e se deleitar com o desespero da mulher apaixonada por um homem incapaz de amá-la. A trama segue pelas diferentes interações de Yuchi, tanto com as mulheres indicadas por Shunsuke como por sua descoberta do submundo gay japonês, enquanto o escritor, a cada momento, percebe perder mais o controle sobre o jovem, progressivamente avesso às suas recomendações à mesma medida que se descobre. Ao cabo, a narrativa fascina, pois, em Yuchi, Shunsuke percebe sua última grande realização criativa, e seu descontrole o leva a reflexões sobre os limites e as possibilidades da criação artística. Na cruel trama elaborada pelo escritor (ao mesmo tempo Mishima e Shunsuke), observamos o percurso do fazer artístico e o ponto de paroxismo em que ele se confunde com o artista. Ecoando Octavio Paz no poema Blanco: “Sou a criatura do que vejo”.