A pena de Maat e a escuta trágica do suicídio
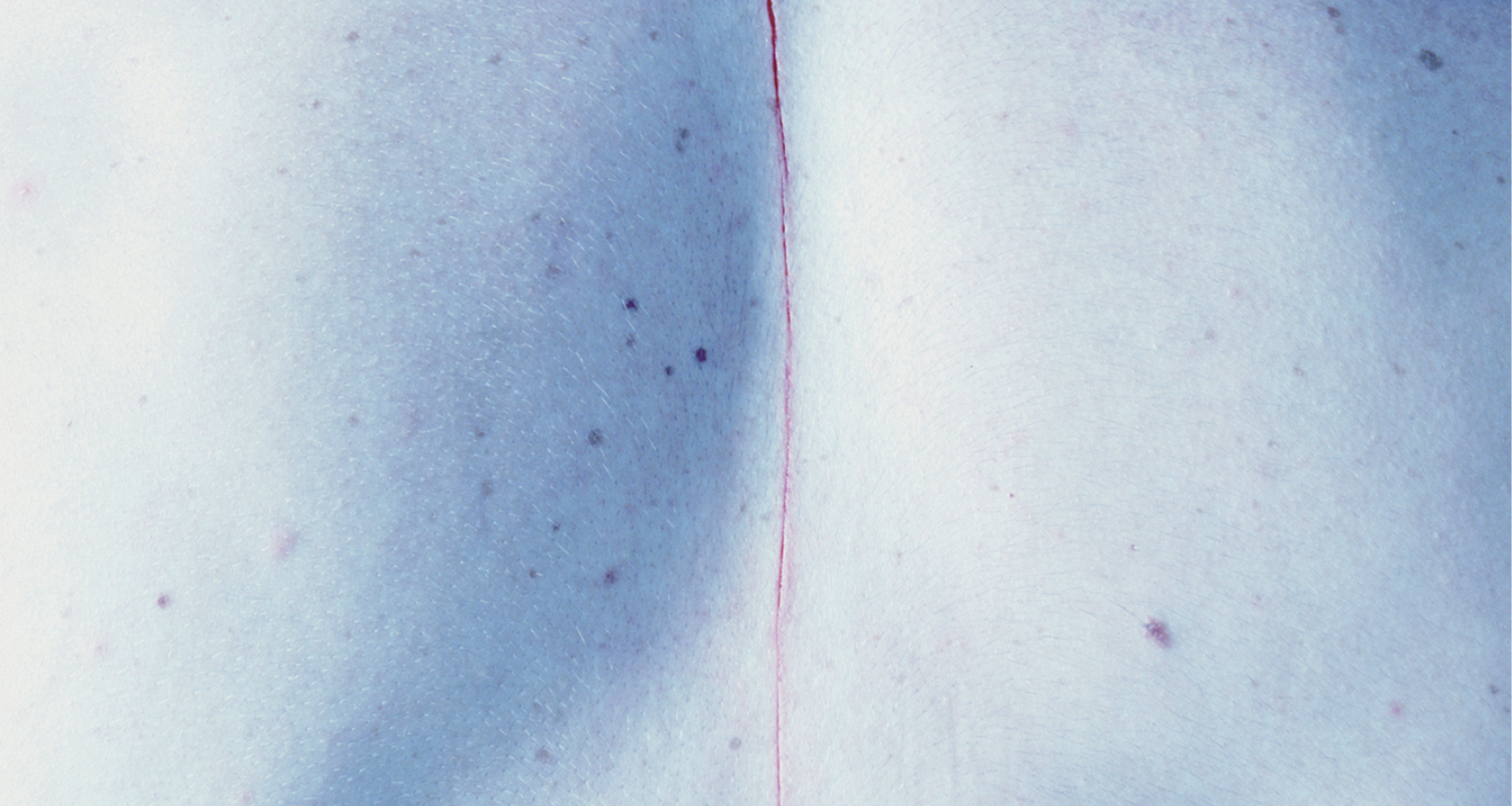
Rafael Assef, "Coluna, 2002" (Fotografia: Reprodução)
O suicídio é a patologia social por excelência. Por isso ele é covariante com processos sociais de individualização, com sentimentos sociais como a solidão e o tédio, bem como com sofrimentos derivados da lógica do reconhecimento, como a depressão, o apego e o desamparo. Não é um acaso que ele tenha sido objeto de estudo dos três fundadores da sociologia.
Em seu ensaio de 1846 baseado nos relatos do oficial de polícia Jacques Peuchet, Marx faz um estudo sobre as vidas “no deserto” e em estado de luta de “todos contra todos”, nas quais “em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma [o suicídio] é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico”. Portanto, quando Lacan afirma que foi Marx, e não Hipócrates ou Bichat, quem inventou o sintoma, essa afirmação pode se endereçar ao suicídio. A miséria, o patriarcado, a família, assim como os amores traídos e as falsas amizades são elementos da série causal do suicídio. Uma jovem que passa a noite antes do casamento com seu noivo, e é escorraçada pelos pais no dia seguinte, mata-se de vergonha. Outra linda jovem afastada do convívio social pelo marido mata-se como revolta por sentir-se propriedade privada. Uma mulher grávida tira a própria vida quando não consegue realizar o aborto, assim como um homem desempregado tomado pelo desespero. A análise de Marx mostra como a comunidade é uma proteção natural contra o suicídio, sendo o isolamento ou a perda desse laço um fator de indução do suicídio. Tal fato seria corroborado pela ascensão súbita do suicídio nos países do Leste Europeu após a queda do muro de Berlim em 1987 e por situações nas quais a dissolução da unidade simbólica à qual se pertence – família ou comunidade, nação, língua ou comunidade de destino – parece induzir o ato suicida.
Em 1897, mesmo ano da aparição da psicanálise, Durkheim examinará o suicídio ligando-o tanto ao excesso ou à falta de integração social (relação com os outros) como com a regulação social (relação com a lei). O suicídio egoísta e o altruísta são casos do primeiro tipo. O suicídio anômico ou o fatalista são exemplos do segundo. A diagnóstica do autor de Regras do método sociológico permite opor suicídios narcísicos ou paranoides – em que vigora a alienação ao reconhecimento do Outro e o excesso de sentido – a suicídios dissociativos ou esquizoides – em que prevalece a falta de sentido. Pessoas se matam pelo excesso e pela falta de sentido. Por isso taxas de suicídio oscilam, tanto em ondas covariantes com crises como em longos platôs de estabilidade social. A tese é consistente com o fato de que, nos últimos 40 anos, taxas de suicídio cresceram sem trégua ou oscilação, período no qual o neoliberalismo desenvolveu um modelo econômico baseado em crises permanentes.
Max Weber, o terceiro grande fundador da sociologia, também teceu comentários sobre o suicídio. Em seu parecer negativo ao artigo de Otto Gross, discípulo de Freud interessado na emancipação sexual, ele adverte que a convivência conflituosa entre a ética heroica, convocada em momentos agudos da existência, e a ética média, necessária para responder às demandas cotidianas, pode interferir na determinação social do suicídio. Para Weber, Gross estava traduzindo, com rapidez demasiada, descobertas da ética da ciência psicanalítica, atinentes a como as coisas são, para políticas dos costumes, próprias da ética da convicção ou de como as coisas deveriam ser. Em carta a sua esposa, Weber sugere que o isolamento de uma comunidade, como a do Monte Verità, da qual Gross e sua esposa Frieda participaram, onde vigorava disciplina ascética combinada com liberdade sexual, poderia elevar o risco de suicídio. Independentemente da pertinência de tais observações, elas enfocam o suicídio de uma quarta perspectiva: nem falta ou excesso de sentido, nem perda de unidade simbólica, mas como fracasso na reformulação do pacto social e decepção com a realização de ideais.
Como se vê pelos estudos clássicos, vários são os caminhos e tantas são as formas pelas quais alguém coloca fim na própria vida, de maneira sempre tão única. Mesmo assim o assunto costuma ser abordado com números. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente. Mais do que todas as vítimas de conflitos armados somadas no mundo. Crescimento de 40% nos últimos 50 anos. Segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Um suicídio a cada 40 segundos. Crescimento de 29,5% entre 1980 e 2006 no Brasil, com destaque para a população de mais de 70 anos e para os jovens entre 15 e 24 anos. Aumento de 9,3% na região Sul do país. Expansão constante entre indígenas da etnia Guarani, no Mato Grosso, em decorrência da privação de laços e marcos de ancestralidades. O suicídio afeta mais jovens mulheres de baixa renda, em ambiente rural. Homens preferem armas de fogo; mulheres, envenenamento por pesticida. Os dados assim, erraticamente compostos, apenas confirmam as observações dos clássicos.
Os dois principais órgãos de saúde no mundo elegeram o suicídio como uma de suas prioridades. Porém, falar em epidemia mundial de suicídio é impreciso. Epidemia implica aumento de casos segundo uma regra de contágio ou etiologia comum. Aumento da prevalência ou da incidência nem sempre significa epidemia. Contudo, o próprio uso da palavra nos informa sobre a percepção social de que estamos “pegando” a impulsão ao suicídio uns dos outros. Ou seja, de que ele, menos do que uma doença, é um fato social. A proximidade com eventos de suicídio, seja na família, na escola ou no trabalho, pode aliciar a ideação suicida. Também o suicídio próximo pode ser o modelo que precipita o gesto impulsivo, determinando, por exemplo, um suicídio sem sinais precedentes. O desafio representado pelo suicídio expõe nossa incapacidade atual de pensar causalidades complexas e singulares.

Essa dificuldade manifesta-se na forma como lidamos discursivamente, na imprensa e no espaço público, com o suicídio. Depois de anos tratado como tema proibido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que se evitem expressões como “epidemia de suicídio” ou “suicídio bem-sucedido”, assim como “teses que explicam o comportamento suicida como uma resposta a mudanças culturais ou degradação social”. Na mesma direção, recomenda-se evitar fotografias e descrições detalhadas, especialmente do método utilizado. A ênfase deve ser posta no luto e no sofrimento decorrente para a família ou para a comunidade. Contudo, a recomendação que mais chama atenção é de que não se deve insistir no discurso da culpa ou nas interpretações religiosas do suicídio. Tais recomendações denunciam algumas hipóteses latentes: contagioso e imprevisível, conexo a conflitos sociais e responsivo à intensificação de emoções coletivas.
Poderíamos reunir essas condições em um paradigma clássico para tramitação social da angústia: a tragédia. Diante de um suicídio, este é provavelmente o primeiro adjetivo convocado: ato trágico, acontecimento ético e estético que nos silencia. Lembremos que o modelo grego da tragédia requeria a encenação pública de narrativas, geralmente de origem mítica. Nessas encenações, segundo Aristóteles, seria realizada uma catharsis dos afetos retidos, de tal maneira que o público, ao experimentar em si a piedade e o temor, vividos particularmente pelo protagonista, poderia purificar a cidade (pólis) desse elemento impuro. Daí que toda tragédia fosse composta de um ato de ultrapassamento (húbris), ato pelo qual o herói vai além de sua medida (metron) ou do limite de seu destino (ate). A condição exemplar para a boa realização da função social da tragédia reside no fato de que ela é uma reprodução (mimese) capaz de representar conflitos, como a lei formulada pelos homens (nómos) e a lei ancestral figurada pelos deuses (dikê). Talvez tenha sido por isso que Freud deslocou o termo catharsis para designar o método que antecedeu o surgimento da psicanálise, mas que manteve no horizonte seus fins, o método catártico. Talvez as recomendações da OMS sobre o suicídio traduzam procedimentos para evitar o contágio catártico. Questão que convoca a pergunta: por que viver? Pergunta que demanda meditação e reflexão. Pergunta que está historicamente ligada à emergência da adolescência, desde o movimento romântico Trovão e Tempestade (Sturm und Drang), até a juventude transviada, no cinema americano, e a revolução cultural de 1968. A liberdade como tarefa nos leva ao dilema dos milleniuns, oprimidos pelo imperativo ético de felicidade e adequação.
O caráter transformativo e terapêutico da tragédia consiste na eficácia de sua estrutura de ficção, capaz de criar alguma distância imaginária e certa exterioridade simbólica com relação à presença do Real do qual o suicídio é uma das figuras. Disso se depreende por que a divulgação dos atos suicidas deveria ser desinvestida, ao máximo, de seus recursos estetizantes. Nenhuma sensação induzida, aceleradora ou intensificadora. Nenhum enquadre heroico ou culposo, nenhum efeito retórico de persuasão, nenhuma mensagem, nem de excepcionalidade, nem de fracasso deve ser incentivada. Mas, agindo assim, tentando deflacionar qualquer estetização da violência e da transgressão potencialmente contida no ato, não estaríamos agindo de maneira semelhante àquela que nos faz viver a morte como um processo silencioso, invisível e acolhido com vergonha, dentro dos hospitais? Fato que sabidamente torna mais lento e mais difícil nosso luto como processo psíquico e social.
A assepsia estética do suicídio, recomendada pela OMS, contrasta com o valor que as cartas de suicidas revelam, seja no sentido da perpetuação de uma mensagem ética, seja na busca de uma compensação estética para o ato. Se a tragédia é a forma que encontramos para abordar essa experiência radical de indeterminação e liberdade, compreende-se por que o discurso espontâneo sobre a matéria nos convoca a pensar, imediatamente, em culpa e causalidade. Surgem assim perfis e grupos de risco compostos por traços como: depressão, presença de ideação suicida, tentativas anteriores, comportamentos de risco (como consumo de álcool e drogas), automutilação, situação de iminência de morte ou sofrimento extremo. Como se, ao modo de uma verdadeira doença, pudéssemos nos proteger, com a detecção de traços, intervindo no processo para impedir a progressão das estatísticas e proteger nossos adolescentes e, em última instância, nós mesmos. Psicoterapia, antidepressivos, intervenções em grupos, grupos de ajuda e campanhas de esclarecimento incluem-se na ideia de que é preciso fazer alguma coisa para que o suicídio se apresente de forma menos incompreensiva.
Lacan dizia que não há nada mais disparatado do que a realidade humana. E de fato a realidade do suicídio pode ser bem mais disparatada quando a olhamos de perto. Contra essa aspiração de produzir medidas locais para causas sistêmicas, uma meta-análise recente examinou o valor preditivo dos últimos 40 anos de pesquisas sobre o suicídio nos Estados Unidos, trazendo um dado simples e desconcertante: nenhum dos fatores de risco para suicídio é realmente suficiente para antecipar o ato real. Das medidas práticas tomadas para evitá-lo, as mais efetivas são as mais ridiculamente genéricas, tais como: evitar armas de fogo e medicações perigosas em casa ou treinar porteiros de lugares preferidos pelos suicidas (como a Golden Gate em São Francisco). Isso ocorre porque o raciocínio estatístico populacional nos leva a pensar as coisas de trás para a frente, ou seja, depois do ato consumado revemos o percurso e encontramos uma depressão aqui, um pedido de ajuda lá, uma situação de risco ignorada e assim por diante. É muito fácil, principalmente se pensarmos de modo retrospectivo, deixar de atribuir a alguém algum dos mais de 300 tipos de diagnósticos disponíveis no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Estima-se que apenas 5% a 10% da população satisfaria os critérios de normalidade em um rastreamento desse tipo. O raciocínio populacional traz outros inconvenientes. Ele estimula o medo e a incerteza do lado dos que cuidam. Oferece a perspectiva do contágio (#suicídio metoo), para os que estão considerando o assunto ou tomando coragem, efeito semelhante ao que se teme em jogos como Baleia Azul, séries como 13 Reasons Why ou nos recentes clubes de suicídio que se espalham pela internet com casos particularmente chocantes no Japão (onde é possível combinar serviços de suicídio coletivo, para baixar custos e evitar encargos aos familiares). Novamente contra os perigos do contágio, mobilizamos estratégias de trivialização e indiferença calculada, de maneira a valorizar os sinais e indícios, que podem ser reconhecidos em pessoas próximas, mas não incentivar a formação de um agrupamento de identificações. Ou seja, se por um lado precisamos de estratégias específicas para escutar e acolher a singularidade ou a perda de singularidade que tantas vezes concorre para o suicídio, a autodesvalorização e o sentimento de irrelevância ou indiferença são fortes indutores de suicídio, sejam eles causados por patologias mais ou menos persistentes, sejam eles circunstâncias de vida.
Maat, a deusa egípcia da justiça e da verdade, era esposa de Toth, o deus da escrita e da sabedoria. Na sua cabeça pendia uma pena de avestruz. Quando, no julgamento de Osíris, para definir o destino de alguém pesava-se o corpo contra o coração (alma) e ocorria um empate na balança, Maat tirava sua pena e a depositava no prato da vida eterna. Todos nós, ou pelo menos os normais, pensamos, ao menos uma vez na vida, seriamente, em suicídio. Podemos chamar de “pena de Maat” os fatores decisivos que fazem a balança pender para o lado de cá. Ora, o principal fator protetivo no caso do suicídio é fácil de apontar e difícil de praticar: a escuta singular daquela pessoa. A escuta do sofrimento é o tratamento espontâneo, natural e social de que dispomos para enfrentar o suicídio. O sofrimento mal tratado evolui para sintomas, e quando os sintomas não bastam para nos separar da angústia somos tentados a passar ao ato. Quando isso acontece, a balança de Toth é invertida e somos tomados pela certeza, pelo impulso, pela convicção de que fugir da dor é realmente melhor do que procurar outros caminhos. Isso não significa que fugir da dor seja covardia moral ou afronta à vida coletiva, vivida como valor, assim defendida por tantas formas de religiosidade ou de comunitarismo. Aqui outro dado disparatado: pessoas com fortes crenças religiosas são mais vulneráveis ao suicídio do que ateus convictos. Protestantes mais que católicos. Talvez isso aconteça porque o suicídio, assim como a depressão, está menos ligado à falta de crença, otimismo ou confiança em um futuro melhor do que à certeza necessária para o ato. A capacidade de manter-se em incerteza parece ser um fator decisivo na pena de Toth. Essa capacidade expande-se quando estamos com o outro, quando falamos e quando nos sentimos escutados. Ser escutado é o oposto de ser doutrinado, convencido ou coagido a pensar de um jeito ou de outro. Por isso o isolamento é um perigo, mas a experiência de compartilhamento, uma proteção. Por isso também a solidão é um risco, assim como a solitude, a capacidade de ficar consigo nos piores momentos, é uma potência protetiva.
Se o suicídio é uma experiência social e singular em estrutura trágica, podemos dizer que ela demanda uma escuta trágica que esteja a sua altura. Não negar, não relativizar, não fazer de conta que se trata de outra coisa é muito importante nesse processo. Não foi por outro motivo que Lacan dizia que a ética da psicanálise é uma ética trágica. Há suicídios, mas não todos, que são atos de desejo decidido – por exemplo, certas eutanásias. Mas há suicídios impulsivos, que deixam atrás de si um sabor de desperdício. Ambos podem e devem ser escutados.
CHRISTIAN INGO LENZ DUNKER é psicanalista, doutor em Psicologia Experimental pela USP e professor titular do IP-USP









