Nem poesia, nem pão, nem circo
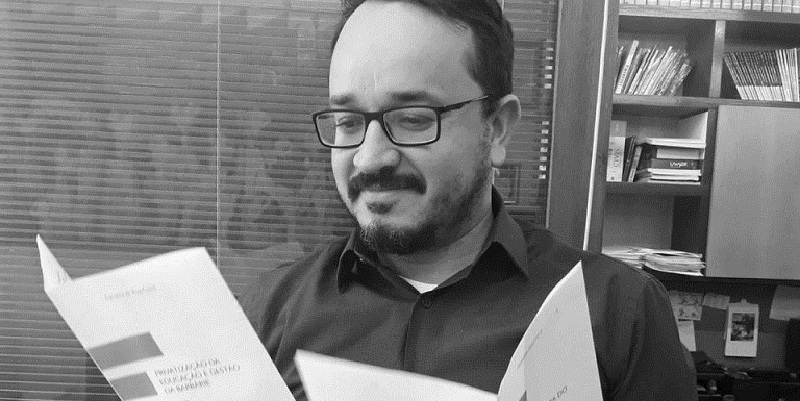
O poeta Tarso de Melo, autor de Alguns rastros (2018) (Foto: Luzia Maninha)
A poeta croata Vesna Parun [1922-2010] escreve uma linha singular num poema acerca de oliveiras e mulheres: “E a vida transborda como nos velhos livros”. A partir dessa linha que encerra o poema e se abre numa deriva da conjunção e que, por sua vez, remete àquilo que veio antes, praticamente um segredo entre amargura e pesar, e se dilata no que vem depois, uma simples história do futuro equilibrada no fio tênue da vida em transbordo e de velhos livros. Da expansão dessa imagem entre a vida, o livro e o gesto para alguma história do futuro é possível começar uma mínima leitura do trabalho de Tarso de Melo (Santo André, 1976). Assim, numa pequena volta do parafuso, em 1997, ele publicou uma plaqueta Poesia, pão e circo & Paulo Leminski: ofício de fascínio (Alpharrabio Edições); nesses dois pequenos textos, entre Murilo Mendes e Leminski, afirma com um pensamento de jovem, logo, ingênuo e forte: “Querer que seu poema mude o mundo é tão absurdo quanto ‘dizer que a liberdade tem que estar a serviço de alguma coisa’, lembrando Leminski.”
Importante parar para reparar no empenho político da frase escrita aos 21 anos. Numa certa dimensão juvenil é que se tem a aventura de pensar o impensável ou de projetar o impossível, pensar a nu, com a ideia fixa, de que o poeta “é uma necessidade orgânica da sociedade” em meio a uma “utilíssima política, que há muito não convence.” Numa mesa partilhada, em fins desse mesmo 1997, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, com a língua refinada de fábrica e música da poesia de Fabiano Calixto e um traçado concreto, preocupado e fabuloso da poesia de Kleber Mantovani, entre o abraço amigo e as estrelas vermelhas para o peito, esses durangos kids errantes de Santo André e um nordestino trotskista-cangaceiro às avessas e do litoral, foram os rápidos e singelos comentários que Tarso de Melo fez acerca da relação oscilante entre poesia e política, como responsabilidade, que chamaram atenção.
Desdobrando essa relação – poesia e política, poesia como política –, os livros de poemas que publicou a partir daí, de A lapso (1999) até este Alguns rastros (2018), perseguem uma construção entre página, palavra, espaço e sentido que se imprime de uma maneira nada extraordinária, mas numa circunscrição irrestrita do fazer com o corpo: lançar-se ao mundo, estar nele numa disposição aberta para a composição do comum. Tarso é um poeta da linha, quase a linha já clássica do verso livre, mas revirada no contraponto, no contra-sentido, como uma espécie de Paul Klee revolto entre as insuficiências de um contorno do real e da realidade ampliada, quando “o elemento mais limitado é a linha, que se mostra como algo voltado exclusivamente para a medida” e, ao mesmo tempo, uma esfera entre “os mundos fragmentários do conteúdo”. Seus poemas têm a ver com uma força formadora e nunca aparecem, mesmo quando reimpressos, como se tivessem uma forma final.
Este Alguns rastros (Martelo Casa Editorial, de Goiânia) é um passo a passo lento, uma caminhada devagar, por pequenos traços de todos seus livros anteriores, numa ideia de flor, a antologia, e a antecipação de uma outra que vem, maior e mais abrangente, para juntar-se a que publicou em 2014, Poemas [Dobra Editorial]: Rastros, anunciada para 2019. Nesse Alguns rastros, porém, um livro magro, delicadamente envelopado, guardado à velcro e encadernado com um delicado cordão de amarrar pacotes frágeis, o que se tem é uma remissão ao jogo daquele que entende e tenta perceber, com alguma pressa, o mundo ao seu redor como se este mundo, o que criamos, fosse apenas um diante de agora. No fragmento 4 de Variações sobre o medo, anota: “(as asas insones de um pássaro / espancam, na distância, a memória / desta noite, deste mundo)”.
O esforço de Tarso nesse livro mínimo é o de esticar o embalo de alguns de seus poemas numa dança de afrontamento aos pontos extremos e insustentáveis de uma humanidade medíocre e, praticamente, quase desprezível, como no panorama de Fúria, quando apresenta um dos impasses mais importantes de seu trabalho que se elabora nas tentativas inconclusas de ler a vida que escapa dos organismos descontrolados que são as grandes cidades: “chega o dia em que o concreto cansa, / o aço depõe suas armas, dissipa os vidros, / desatam-se os nós impotentes da madeira, / cordas, cabos, correntes desistem da tarefa, / o plástico não se lembra de suas obrigações, / o mármore dobra sob nossos pés e levamos / a ponte pouco a pouco em nossos pulmões. / um dia, é a cidade inteira que se aconchega, / maligna, no vão livre de suas costelas”.
É no meio dessa dança reta, em linhas firmes, que impõe sua medida, quase sempre desmesurada, da responsabilidade da poesia com uma terra humana que, de todos os modos, perdeu sua vinculação de essência: a dobradura de um res a missa entre o humano e o animal no humano. Algo como: para a humanidade nem poesia, nem pão, nem circo, nem ofício de fascínio, recuperando ou deixando sempre vivos os textos de sua primeira publicação, de 1997. Nessa trama, vale lembrar de Walter Benjamin lendo e relendo El circo (1917), de Ramon Gomez de La Serna, por volta de 1927/28, e tomando nota de que “o circo é talvez um parque natural sociológico, no qual se executa o jogo entre as castas dos senhores, composta de criadores de cavalo e domadores, e um dócil proletariado, a plebe dos palhaços e dos empregados de estrebaria ainda ingênua, sem força revolucionária. É um (talvez estranho) lugar da liberdade de classe. Mas é ainda um lugar da liberdade em outro sentido: com razão disse Serna, em um conhecido discurso realizado do trapézio em um circo de Milão, que a verdadeira liberdade dos povos seria antes de mais nada conquistada em um circo. […] Pois este é o segredo do sentimento especial com que cada um adentra o circo: no circo, o homem é um convidado do reino dos animais.”
E, noutra abertura, leitor convicto de Manuel António Pina e Ruy Belo, Tarso de Melo procura cumprir, com toda movência do pensamento, algumas posturas advindas, por exemplo, do poeta de O Problema da habitação – alguns aspectos e Homem de palavra[s]: primeiro, que “a poesia é um ato de insubordinação a todos os níveis, desde o nível da linguagem como instrumento de comunicação, até ao nível do conformismo, da conivência com a ordem, qualquer ordem estabelecida.” E, depois, que “escrever é desconcertar, perturbar e, em certa medida, agredir. Alguém se encarregará de institucionalizar o escritor, desde os amigos, os conterrâneos, os companheiros de luta, até todas aquelas pessoas ou coisas que abominou e combateu. Acabarão por lhe encontrar coerência, evolução harmoniosa, enquadramento numa tradição. Servir-se-ão dele, utilizá-lo-ão, homenageá-lo-ão. Sabem que assim o conseguirão calar, amordaçar, reduzir.”
O que se desenrola, nessa perspectiva, reaparece em poemas como Metal: “[…] (ideias agora são de aço, o sonho mora no alumínio // o dia todo se consome nessa troca; // gasta, a vida / em breve vai cruzar a cidade desfeita em cem cavalos, / em brasa, trocada por mil e quinhentas cilindradas”, de um jeito; ou em Retrato n.1, de outro: “Poderíamos rir. Mas guardamos para outro tempo. // […] / E – pelo corpo, pelo copo – não passou o bastante / para esquecermos que ninguém virá pagar por nós.” Se o poeta ainda pode ser um medium é porque insiste em criar forças de existência, numa travessura ao contrário daquilo que se estabelece fixamente, já frase feita a todos os lados, como formas de resistência, o que não infere mais nenhuma advertência ao que lhe é idêntico; ou seja, se forças de existência muito mais perto de Emília e muito mais longe do Visconde.
A poesia de Tarso de Melo – agora, numa coincidência, 21 anos depois daquela partilha, a do encontro de meninos, que nos dava o prumo da singularidade entre a vida que transborda e os velhos livros, no outro extremo desse disse-me-disse, desse rame-rame de pastel de vento, desse arremedo em torno de um eu que não se descola de um si mesmo [esse estado conservador e estratégico pronto para o consumo: se pouca idade, já envelhecido] –, é uma esperança de frescor para tentar disseminar a ideia de que a humanidade, como um outro, uma alteridade constante, diferimento e hospitalidade radical, seguindo o pensamento de Svante Arrhenius, pode ainda escapar de sua condenação: a de morrer numa morna uniformidade final. Por isso, “nervo / em estado de pedra / que pesa sobre os ombros / e impede – ou, ao menos, nos / dias mais impunes // dificulta – baixar / demais a cabeça // e a guarda”.
Manoel Ricardo de Lima é professor da Escola de Letras e do PPGMS, UNIRIO. Publicou, entre outros, Geografia aérea (7Letras, 2014), Jogo de varetas (7Letras, 2012), As mãos (7Letras, 2003), A forma-formante – ensaios com Joaquim Cardozo (EdUFSC, 2014) e Maria quer o mundo (Edições SM).










