Pássaro, onça, um animal que ri: ‘O som do rugido da onça’, de Micheliny Verunschk, e outros lançamentos

Não inventamos nenhum outro mundo e, terrivelmente, não sabemos como sair do sufoco de um único modelo de vida que o sistema financeiro que criamos impõe sobre nossos corpos minúsculos e frágeis.
O animal sorri. Seus dentes
são rochas
e ruínas
por onde a noite
sem memória desce
sua demência.
[…]
(Virás à jaula
deste animal remanescente
do fogo e do Dilúvio?
Atraiçoado
oco
ex-
posto em praça pública
para os olhos
das crianças, dos fotógrafos?
EU-COBERTO-DE-PELOS: virás me ver
atrás das grades?)
Max Martins
Jakob von Uexküll (1864-1944) lembra de Elie Cyon (1842-1912), um filólogo russo, descobridor de nervos e funções nervosas, que também rastreou a nossa percepção da tridimensionalidade do espaço a partir de um órgão sensorial que fica em nossa audição interna – os canais semicirculares, os labirintos – que correspondem, por sua vez, aos três planos do espaço efetivo. Uexküll entende, a partir de Cyon, que é do mundo circundante do animal, de nossa animalidade, que vem a capacidade que temos de escrever às escuras, por exemplo. Giorgio Agamben, no pequeno capítulo dedicado a Uexküll, de O Aberto – o homem e o animal, “Carrapato”, interroga que se há para esse mínimo animal um período de espera que, de algum modo, é semelhante aos sonhos que nos visitam, o que se passa entre sua vida e a duração do tempo? E pergunta, amplamente, como se pode sobreviver quando se é privado de uma relação com o espaço na abertura entre o animal e o humano ? Como dizer de espera (de esperança) sem tempo e sem mundo?
O projeto e o pensamento de Micheliny Verunschk (nascida em Arcoverde, 1972) para uma ideia da escrita, a que se desenha no impensado, são notoriamente singulares e, se lida agora, tal ideia, a partir de seus dois livros publicados recentemente, O movimento dos pássaros (Martelo) e O som do rugido da onça (Cia. das Letras), lançados diante desse esboço entre Uexküll, Cyon, Agamben e o carrapato, pode-se refinar mais ainda essa singularidade. O traçado que configura essa questão já aparece desde Geografia íntima do deserto (Landy, 2003) até os romances organizados em trilogia pela editora Patuá – Aqui, no coração do inferno (2016), O peso do coração de um homem (2017) e O amor, esse obstáculo (2018) –, sempre numa perspectiva que tensiona o gesto entre topos e tropos, tal como se cumpria em certa tradição medieval teológica. Não é tocar uma escrita para que, numa geografia materializada e fácil de ser mapeada, se represente ou se atribua dimensão visível a algo ou a alguma coisa (tanto que intimidade, lá naquele primeiro livrinho de poemas, para Micheliny, é também interioridade e ex-timidade). Mas sim, numa geografia imaterial, para desequilibrar e desmontar a forma, sem a arbitrariedade da semelhança ou de um significado imediato; e aí sugerir o equívoco, o erro, a dessemelhança, uma força. Ou seja, não apenas uma topologia, mas muito mais, numa justaposição de esforço, uma tropologia.
Não é à toa que se pode ler, também por justaposição, os dois livros recentes de Micheliny, não porque sejam complementares ou suplementos um do outro, mas sim porque se expandem a cada um como contrapartida ou composição díspar. Repare-se que a tropologia, presença e improbabilidade, está exatamente nas figurações de uso do vocabulário que dispõe, e isto é, severamente, uma disposição, esta tarefa política radical: dispor-se (nunca meramente expor-se ou despir-se, o que é muito próprio do enfado e do engodo de um sem número de livros recentemente publicados, principalmente por grandes editoras que apreciam apenas aquilo que Marx dinamitava como o que nos deixa rasos e cretinos, a nossa habilidade alienada: o dinheiro. E que, pasme-se, mesmo sem a bagatela do dinheiro, algumas pequenas editoras também perseguem esse modelo de publicação porque entendem que, parafraseando Júlio Medaglia, só o consumo de um si mesmo constrói).
Dispor-se é também, e muito mais, enfrentar tudo o que não passa de replicação da história, isto que quase sempre se dá de maneira praticamente banalizadora e involuntária porque cínica, mímica, insuspeita, habituada. Contra isso que se impõe e se expõe como palavra falada, frase feita, buraco sem fundo etc. vem uma impressão às avessas: um vocabulário alterado e um jeito de fazer com a frase e a linha que rompe com o modelo esgotável e esgotado – un agotamiento – do que é protegido como uma literatura de manobra. O furo é encantador, sempre, o que Joaquim Cardozo, também pernambucano, tomava como “um ponto-furo das imagens” ou algo que comparece entre “o gesto e a palavra”. É na última linha do poema Roteiro, de O movimento dos pássaros, que se pode ler o que está como “um pensamento que não pode ser pensado ainda” e que vem do organismo animal do que ainda sobra de nossa humanidade, questão que se indica, muito e muitas vezes, como um dos interesses de Micheliny: “toda terra é feita dessa gente que se move”. A ideia é fortemente política porque tem a ver com o diferimento entre terra e mundo e, mais ainda, com a ciência de que não há mundos, esta pluralidade. Não inventamos nenhum outro e, terrivelmente, não sabemos como sair do sufoco de um único modelo de vida que o sistema financeiro que criamos impõe sobre nossos corpos minúsculos e frágeis.
Por isso Micheliny parte do princípio que a mão precisa pesar sobre o eixo central e monopolizador da vida e, assim, convoca com os seus livros, movimento e rugido, a uma atenção, em pontos-furo como os da série vocabular heterogênea de O movimento dos pássaros: “alerta”, “lamparina acesa”, “envergadura de um marabu”, “ossatura oca”, “o pomo”, “probóscides dos insetos”, “ácido da urina dos porcos”, “os tordos não são gregários / os homens também não”, “as marcas da garra: a guerra” e “vê? / há um pássaro morto no centro do palco. // vê? / parece que é um homem.” E, depois, ou antes e conjuntamente, nas diabruras de Spix e Martius, personagens de O som do rugido da onça, naturalistas alemães que afagam e afogam a mão para roubar duas crianças indígenas, I-ñee e Juri, com um pedido e uma cessão do pai que mesmo índio se contrita numa atribuição cristã, logo pesarosa e em pecado constante, em meio a fundação bélica de um país em constante desgraça. Spix e Martius são também a marca de um malogro – de Montesquieu com Usbeck e Rica, personagens de Cartas Persas, até Tomás Antônio Gonzaga e as Cartas chilenas, com Critilo e Minésio –, para dispor em xeque o jogo entre nação e colônia, “barroco duvidoso”, infectados abismos sociais, a hipocrisia da sátira, o perjúrio normativo cristão, a anulação do corpo etc. para confrontar essa lei modelar e violenta e atravessá-la com um salto, uma outra origem, a da entranha: obnubilada, desregrada, ficcional. Ou, no mínimo, um outro começo, agora acefálico; outra respiração, agora alucinatória; “sem especulação, com adivinhação”, nem profundidade nem superfície, mas “interfície” e “fanciullo” (imaginação livre, políticas para uma imaginação plenamente livre) para destruir a destruição com um truque, o da literatura, sem a fanfarronice do real e seus realismos chinfrins.
Daí que Micheliny Verunschk seja uma escritora rara, raríssima, em rarefação sibilina, porque sabe que escrever é também dissipar, escreve às escuras, pássaro, onça, animal que ri: “É certo que Tipau uu tinha escutado Iñe-e chamar no dia em que o pai dela mais o homem branco botaram ela na fila dos prisioneiros pra ir s’imbora no mundão. E também escutou seu ganido na noite escura e chuvosa na jusante do Solimões. Escutou também urro dela misturado ao rugido estrondoso do mar. E o miado que veio fraco vindo das terras congeladas. Tipau uu não saiu de perto dela não, oxe! Mas como a menina não tinha ciência do miado certo que deveria de dar pra Tipau uu tomá-la de dentro de sua carne mesma, isso já se disse, Onça Grande ficava ali, jaguaretando em volta dela, quase chegando, de prontidão, afiando unha, agulhando dente, naquela impaciência sua, inconformada de não poder agir como queria. Uma tristeza, ara! Então se deu que menina desandou a morrer no estrangeiro.”
Repare-se, porque estamos avisados desde agora: já fomos catequisados. Uma pergunta que volta, se revolve e se revolta, ativa, na literatura de Micheliny Verunschk, é como dizer de espera (de esperança) sem tempo, sem mundo e sem uma minimazinha sequer utopia irrecusável?

Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura na UNIRIO. Publicou O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou recentemente Uma pausa na luta (Mórula, 2020) com a participação de 70 poetas.
[ficção]
por Redação
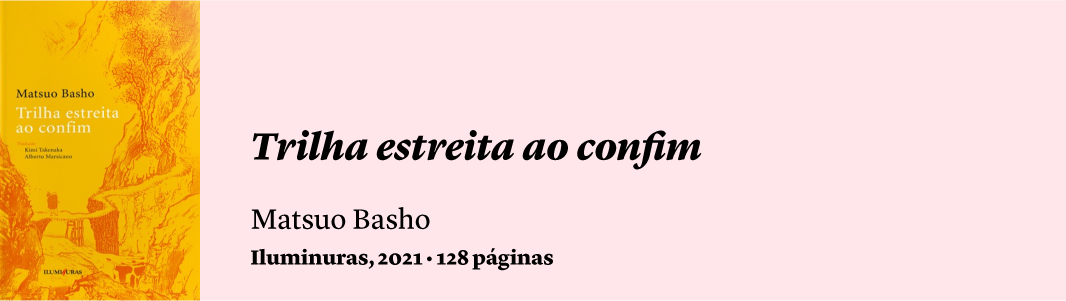
Relançamento de um dos clássicos da literatura japonesa. Reúne os três principais relatos de viagem do poeta Basho, considerado o responsável por estabelecer o tradicional haikai. Em “Visita ao Santuário de Kashima”, de 1687, acompanhamos a errância do poeta pelas estradas do país, embebida por haikais e pela lua cheia iluminando o templo de Kashima. Do ano seguinte é o relato “Visita a Sarashina”, que descreve a travessia por uma íngreme montanha. Ocasião em que o poeta contempla e descreve a iniciação ao zen-budismo. A “Trilha estreita ao confim”, iniciada em 1689, teria duração de quatro anos. Apresenta suas andanças até as províncias do norte, passando por regiões consideradas misteriosas e distantes.

Considerado pela escritora Maria Valéria Rezende como “a leitura mais espantosa, provocativa e mais completa como testemunho desse momento”, o romance de Leonardo Valente traz a história de D., personagem indefinida, “portadora da síndrome da imunodeficiência afetiva”, que pretende, pela linguagem, congelar-se como vingança contra seus ex-maridos. Em tom lírico e introspectivo, essa intenção de vingança acompanha um desnudamento em minúcias do protagonista, no qual se entrecruzam dilemas e questões contemporâneas. A diversidade de referências literárias e filosóficas ajudam a compor o percurso da personagem, que, em suas palavras, começa como poço, transforma-se em espelho para terminar como gelo na criogenia.
[não ficção]
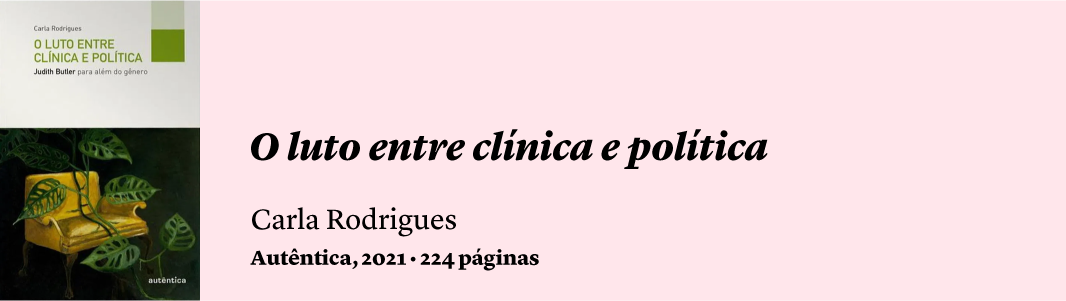 Reunião de artigos escritos entre 2018 e 2020 pela filósofa e professora da UFRJ Carla Rodrigues. Como indicado no subtítulo, a obra faz uma leitura da teoria de Judith Butler para além da teoria de gênero, focando na problemática do luto e suas relações entre psicanálise e política. É dividido em três partes: “Por que Judith Butler”, uma espécie de guia e introdução para o livro, na qual situa-se a leitura que a autora faz da filósofa estadunidense. Em “Luto e despossessão”, discute-se a ética envolvida na ideia de “direito ao luto” de Butler, e suas implicações políticas ao criticar a biopolítica e a necropolítica. Na última parte, “Encontros feministas”, são retomadas algumas questões feministas que permanecem na reflexão de Butler.
Reunião de artigos escritos entre 2018 e 2020 pela filósofa e professora da UFRJ Carla Rodrigues. Como indicado no subtítulo, a obra faz uma leitura da teoria de Judith Butler para além da teoria de gênero, focando na problemática do luto e suas relações entre psicanálise e política. É dividido em três partes: “Por que Judith Butler”, uma espécie de guia e introdução para o livro, na qual situa-se a leitura que a autora faz da filósofa estadunidense. Em “Luto e despossessão”, discute-se a ética envolvida na ideia de “direito ao luto” de Butler, e suas implicações políticas ao criticar a biopolítica e a necropolítica. Na última parte, “Encontros feministas”, são retomadas algumas questões feministas que permanecem na reflexão de Butler.

Como explicar a permanência da escravidão, servidão e outras formas de trabalho compulsório atualmente? Partindo dessa questão, o procurador do trabalho Tiago Cavalcanti traça uma reflexão sobre o capitalismo e o trabalho em diferentes configurações sociais. Para isso, inicia sua reflexão nas sociedades pré-capitalistas e seu entendimento de liberdade e humanidade. Chega, assim, à sociedade contemporânea, que divide a classe trabalhadora, na proposta de leitura do autor, entre “semilivres” e “sub-humanos”, de acordo com as relações entre liberdade, humanidade e trabalho. Por fim, lança a reflexão para o futuro, propondo alternativas para um modelo de sociedade, e trabalho, mais livre, humana e digna para todas as existências.
 Poeta da segunda geração do romantismo pouco lembrado, Fagundes Varella tem sua obra e biografia revisitadas em ensaios do tradutor e poeta Leonardo Fróes. Publicado originalmente em 1990, a obra traz um novo olhar para Varella e para o próprio movimento romântico no Brasil, repensando sua época e sua geração. Como escreve Tarso de Melo na orelha do livro, a publicação “permite repensar a obra e a vida de Varella em sua complexidade, porque identifica suas raízes, vasculha os recantos de sua recepção, desfaz os nós das suas biografias e, assim, dá a ver tudo o que germinava sob os poemas (até mesmo as marcas de uma aguçada consciência ecológica)”.
Poeta da segunda geração do romantismo pouco lembrado, Fagundes Varella tem sua obra e biografia revisitadas em ensaios do tradutor e poeta Leonardo Fróes. Publicado originalmente em 1990, a obra traz um novo olhar para Varella e para o próprio movimento romântico no Brasil, repensando sua época e sua geração. Como escreve Tarso de Melo na orelha do livro, a publicação “permite repensar a obra e a vida de Varella em sua complexidade, porque identifica suas raízes, vasculha os recantos de sua recepção, desfaz os nós das suas biografias e, assim, dá a ver tudo o que germinava sob os poemas (até mesmo as marcas de uma aguçada consciência ecológica)”.
 Estudo sobre as sociedades ancestrais da África negra entre os séculos 13 e 16, com foco no antigo Mandinga e o antigo Songai (grupo da África ocidental, originários dos atuais territórios do Mali, Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, Senegal, Burquina Fasso, Libéria, Guiné-Bissau, Níger, Mauritânia e Costa do Marfim). Na obra, o professor e historiador José Rivair Macedo identifica as especificidades das sociedades africanas, seus traços distintivos e específicos de cada povo. Pretende, assim, contribuir para uma maior consciência histórica da formação da África contemporânea e implementar o ensino de História e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e universidades.
Estudo sobre as sociedades ancestrais da África negra entre os séculos 13 e 16, com foco no antigo Mandinga e o antigo Songai (grupo da África ocidental, originários dos atuais territórios do Mali, Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, Senegal, Burquina Fasso, Libéria, Guiné-Bissau, Níger, Mauritânia e Costa do Marfim). Na obra, o professor e historiador José Rivair Macedo identifica as especificidades das sociedades africanas, seus traços distintivos e específicos de cada povo. Pretende, assim, contribuir para uma maior consciência histórica da formação da África contemporânea e implementar o ensino de História e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e universidades.









