Sófocles na fogueira?

Judith Butler em coletiva durante o I Seminário Queer no Sesc Vila Mariana, em 2015 (Foto Fanca Cortez)
Que significa tomar posição por uma convivência democrática e, ao mesmo tempo, radical?
Esta pergunta vai se fazendo tanto mais relevante quanto mais nos aprofundamos na percepção da injustiça contemporânea, cotidianamente sobrecarregada, e na rememoração, cada vez mais fragilizada, da ideia de justiça. Ou, ainda, quando seu apelo se pronuncia em meio a uma sociedade fraturada em desigualdades extremas, sob um Estado não democrático de condutas policiais, numa cultura política que deita raízes em um passado colonial e se vê às voltas com a crescente tensão de violências geopolíticas. Pensará o leitor que falamos do Brasil – ou, como preferem alguns: de corda em casa de enforcado.
Não diremos que não. Mas diremos, principalmente: a mencionada tomada de posição concerne ao núcleo de Caminhos divergentes – Judaicidade e crítica do sionismo. A meu ver, ele pode ser encontrado no capítulo “Lampejos” – onde se lê: “não é possível ser judeu sem o não judeu e só é possível ser ético ao afastar-se da judaicidade como quadro exclusivo da ética”.
Sendo este o cerne, havendo muitas maneiras diferentes de entender tal implicação mútua entre judeu e não judeu, importa compreender a judaicidade de um modo não doutrinário, não dogmático. Entenda-se: a judaicidade é constitutiva de um problema; não é, portanto, o nome que se dá a uma “substância”, nem tampouco a uma “natureza”. E se ainda assim a judaicidade for tomada como uma categoria necessária, ela é suficientemente instável para comparecer como elemento de uma teoria crítica contemporânea. Jewishness, neste caso, designa não somente a possibilidade de uma crítica ao sionismo, como também uma abertura para inserirmos, na ordem do dia, algo que, sendo consoante ao livro, vou abreviar nestes termos: o pensamento de tradições críticas comparadas.
Flashing ups
Dito isso, gostaria de colocar em relevo e discernir três momentos do livro, que, por seu turno, se tornam visíveis e pensáveis graças a três lampejos. O primeiro lampejo é o da rememoração que se faz presente: ele torna visível o sofrimento que foi apagado pelo contínuo da história; dá a pensar o sofrimento que persiste; aproxima despossessões singulares e sinaliza para um tipo muito peculiar de intervenção intelectual. O segundo é o que diz respeito à justiça: ele torna visível a desigualdade que foi objeto de apagamento local e só admite falar em termos de “igualdade” se forem estabelecidas as condições políticas da igualdade. O terceiro lampejo concerne, por seu turno, ao apagamento de referências espaciais: ele propõe uma ampliação de espaço-tempo que, no entanto, parte do aqui e do ali; ele chega ao agora, àquilo que vale como uma temporalidade inusitada e que está “acontecendo agora” – são estas, justamente, as últimas palavras do livro.
Assim, na luta contra a amnésia pública e no contexto da memória traumática, a intervenção de ressonâncias benjamnianas significa uma interrupção das narrativas progressivas da “redenção sionista”, agarrando a chama da rememoração que se faz presente no engajamento intelectual e se traduz em passagens da chance emancipatória para uma aposta emancipatória. Assim também, no apelo à coabitação, o juízo político e a responsabilidade política de Hannah Arendt conduzem a refletir sobre uma “coabitação guiada pela memória e pelo apelo à justiça que surge da despossessão, do exílio e da contenção forçada, não só para dois povos” (p. 181). Assim também, para pensar o presente, destaca-se dupla tarefa proveniente de Primo Levi: recusar o revisionismo, fazer jus ao próprio esquecimento, tanto para a produção estética como para a sobrevivência. Pivoteiam, pois, anamnese pública, conclamação à coabitação plural, tarefas que ensinam a dizer não e aprimoramentos de um estilo de indagação situada entre passados plurais – às vezes remotos, às vezes subterrâneos, às vezes recentes – e um porvir iminente. Emerge daí, no coração de uma impossibilidade, a possibilidade de interpelar o futuro.
Para dar uma ideia dessas recusas e estranhas possibilidades, cabe dar voz ao poeta palestino Mohamoud Darwish, na sua recusa do imediatismo político, ao sustentar a tensão entre o dentro e o fora, nos passos que o levam não somente de sua cidade natal a Moscou, ao Cairo, a Beirute, a Túnis, a Paris, a Ramallah, mas também a conceber a poesia como sua “residência na terra”. No primeiro poema de uma coletânea póstuma, intitulada Nós vamos escolher Sófocles, Darwish parece dizer a cada um de nós: “Você dirá: não. Você dilacerará as palavras e o rio indolente, você anunciará os dias ruins e desaparecerá sob as sombras. Não ao teatro do verbo. Não aos limites desse sonho. Não ao impossível”.
Essa voz decidida, que seria bom imaginarmos no sopro rouco da prosódia árabe, longe de ser a única, é uma voz que ressurge igualmente no livro de Judith, na forma de um diálogo entre o poeta e Edward Said, especialmente nas últimas reflexões de Said sobre os impasses do binacionalismo. Desse modo, o bom encontro entre a prática estética e a prática política faz com que a ficcionalidade intervenha, admitindo-se que, nas palavras do poeta, “a estética nada mais é que a presença / do real / em forma”.
Para resumir essa contextualização: 1) Butler afirma valores da tradição crítica judaica, de modo que a “tradição tradicional”, além de redundante apagamento de despossessões singulares, é tão inaceitável quanto inviável. 2) Butler nega tanto a dominação do Estado Nacional de Israel tornado Estado policial sobre outro povo nacional, assim como nega o monopólio sionista do significado “judaicidade”. 3) Butler propõe critérios de validade não excludentes para expansão dos resultados de sua laboriosa investigação. Nossa autora menciona explicitamente, além disso, recursos não judaicos, tais como a tradição grega clássica, o iluminismo francês, as lutas de descolonização no século 20.
Pois que, se há caminhos divergentes, há rememoração que se faz presente no limiar da história e no limiar de uma convivência inteiramente outra; se há caminhos divergentes, há patamares internacionais de justiça que permitem recusar, caso a caso, desigualdades locais; se há caminhos divergentes, há temporalidades convergentes, ali onde se aloja a estranha possibilidade de ruptura; se há caminhos divergentes, há vínculos tão singulares quanto insubstituíveis como a fraternidade, por exemplo. Ora, pensando na expansão dos resultados da leitura – isto é: nas consequências ético-políticas que este livro implica –, não é possível deixar de levar em conta a atual situação dos refugiados pelo mundo afora. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, atingiu-se o número de 65 milhões e 300 mil refugiados.
Será que essa situação não implica um trabalho coletivo que negue o monopólio de significações nacionalistas excludentes, trabalho coletivo que repense as tradições críticas internas aos povos nacionais, com ou sem Estado? Se dissermos que sim, então a simples sobrevivência de pessoas em regime de “deslocamento forçado” (sejam elas “imigrantes econômicos”, deportáveis ou indeportáveis, segundo o grau de austeridade das políticas ditas “realistas”; sejam elas imigrantes forçados por flagelos das novas guerras; sejam elas imigrantes forçados por perseguição a grupos étnicos, religiosos, políticos, ou, ainda, perseguidas porque desfazem os gêneros) está sujeita a despossessões singulares. Isso não implicaria um aprimoramento da ressignificação do universal? (Não será demais lembrar que o ensaio de Judith Butler, “Ressignificação do universal”, data do ano 2000.) Mas agora, as últimas páginas de Caminhos divergentes, além de formarem um belo epílogo com Darwish pondo poesia na boca de Said, ressoam como parte de um prólogo a livros por vir. Um deles, aliás, já veio à luz em inglês – em francês, o novo livro se chama Rassemblement: pluralité, performativité et politique.
Sororidades divididas, fraternidades cindidas
Quando terminei a releitura de Caminhos divergentes, fiquei me perguntando se a situação atual dos refugiados não implica um problema de escala distinto para ressignificar o universal: problema de uma falsa universalidade na ordem da arcaica acumulação de capital por despossessão e, não menos importante, uma questão pós-hegeliana das normas imanentes de cada despossessão singular. Nesse diapasão, se faz sentido pensar tradições críticas comparadas, o estatuto da dimensão estética – em que se vai do grito ao poema e deste ao canto e à prosa crítica que lhe pensa a forma – o próprio estatuto da dimensão estética é que parece mudar com uma ressignificação aprimorada do universal.
Muda também – este é o meu último ponto – o clamor de Antígona: ela aparece agora, menos como aquela figura fascinante porque figura inadmissível no sistema (menos então como a “Antígona” de Jacques Derrida, menos como figura conceitual da Fenomenologia do espírito); aparece, muito mais, como figura extraordinária que toma forma literária subterrânea à formação ético-política contemporânea.
Nessa mise-en-forme, um dos clamores de Antígona talvez seja aquele que hoje mais importa: não mais, portanto, a reivindicação da lei (divina) do matriarcado contra a lei (estatal) do patriarcado, mas, sob um Estado de tendências não federativas, sob um Estado policial de tendências imperiais, pergunto: e se esse clamor, presente na obra de Sófocles, fosse o clamor de uma fraternidade cindida? E se tivéssemos ouvidos para ouvir a voz subterrânea de Antígona num filósofo – Hegel que na sua primeira juventude se esmerava em traduzir a peça de Sófocles para o alemão, ao lado de seu amigo Hölderlin; Hegel que na sua última juventude, na Fenomenologia do espírito precisamente, pensa o legado da tradição clássica grega e os valores da Revolução Francesa, para além das fronteiras do terror jacobino. Quem tem medo, afinal, da aliança entre novos arranjos de sororidade e de fraternidade? Não seria a voz de Antígona a voz que clama por uma estranha e inteiramente outra forma de Fraternité?
Tomando de empréstimo palavras de Judith Butler, resumo então “meu sintoma, meu erro, minha esperança”: para estimar radicalmente o valor de fraternidades e sororidades cindidas, não será indispensável, hoje, um trabalho intelectual coletivo que, revisitando temas e problemas de tradições críticas locais, pense, não menos coletivamente, uma ressignificação do universal? – Em tempos de recesso poderíamos reler, ao lado de Caminhos divergentes, o livro que Maria Rita Kehl organizou no ano 2000 e foi pensado coletivamente sob o nome de Função fraterna.
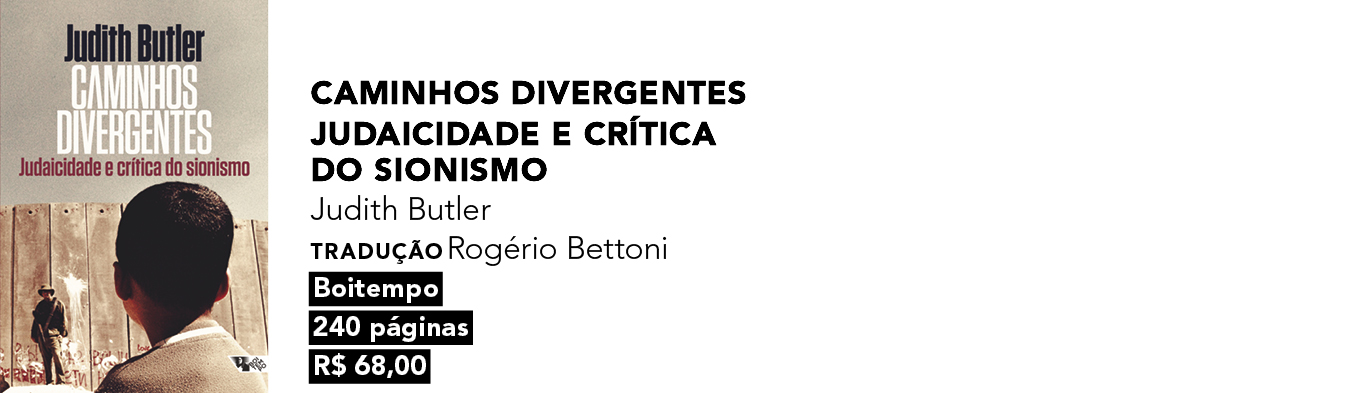
> Assine a CULT digital e leia na íntegra todos os textos da edição 230
> Compre a edição 230 em nossa loja online










