A pandemia e o governo dos corpos
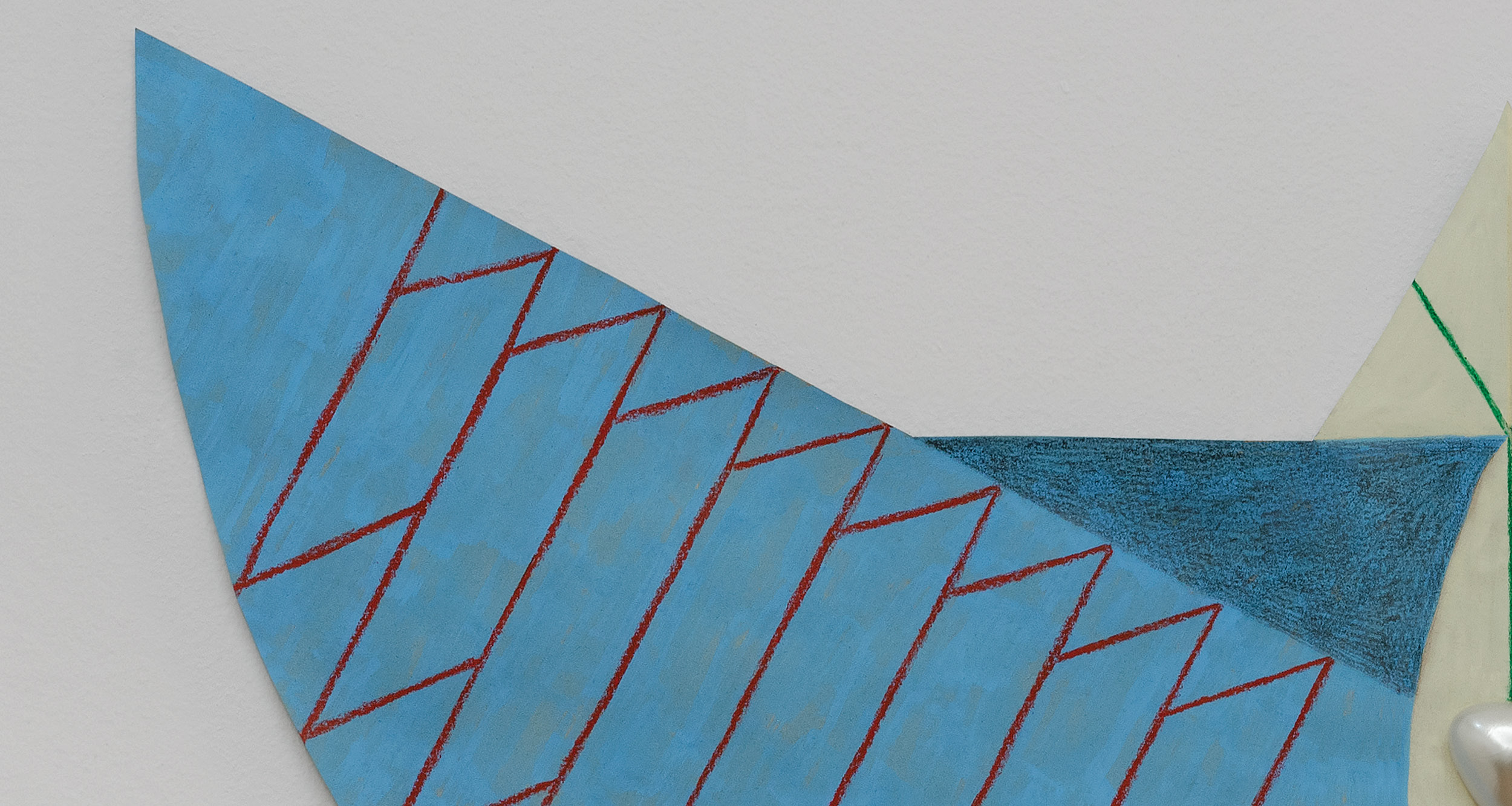
(Colagem: Laura Teixeira)
Quando assistimos, no começo de 2020, aos caminhões militares carregando corpos na Itália e depois presenciamos as cenas da abertura em série de covas na cidade de Manaus, não imaginávamos as centenas de milhares de mortes que banalizariam ainda mais a compreensão contemporânea sobre o valor da vida. Pensávamos que até o meio do ano de 2020 as coisas estariam, ao menos em parte, resolvidas. Afinal, como colonizados que somos, e cientes de que a pandemia atingira em cheio as nações ricas do norte, esperávamos que em poucos meses a metrópole fabricaria uma vacina, nos beneficiando em algum momento.
Sem dúvida, 2020 foi atípico. Experimentamos a cesura nas práticas sociais que vinham se constituindo com a visibilidade de denúncias e demandas das lutas de gênero e étnico-raciais. E ainda acompanhamos um ano em que as graves desigualdades sociais, a violência de Estado, o descaso das elites e dos proprietários e o conservadorismo emergiram como nunca.
Essa caracterização aponta para um fator comum da realidade brasileira: moramos em um país no qual não é permitido viver o luto. Vive-se a morte. Não somente a física, do corpo individual, mas a morte social, coletiva. Colapso do sistema funerário, sepultamento de corpos em massa e esgotamento da estrutura de saúde pública expuseram a hierarquização da vida e a subjetivação da morte como forma de controle dos corpos.
O que poderia ser de caráter público, um modo coletivo de lidar com o impacto da pandemia, efetivou-se como um problema de foro privado, da família, da pessoa mais próxima. Essa é nossa história. As graves violações de direitos normalmente recaem, como problema e também na solução, sobre as vítimas, seus familiares e descendentes.
O ano de pandemia foi marcado por dois eventos trágicos. 2019 se encerrou com as nove vítimas fatais da ação criminosa da Polícia Militar no território de Paraisópolis, na cidade de São Paulo. Em fuga diante de uma intervenção violenta e repressiva a um baile funk, jovens entre 14 e 23 anos tiveram suas vidas sufocadas e roubadas. No outro extremo temporal, fechamos 2020 com a asfixia da vida que habitava o corpo negro de João Alberto. Entre as duas tragédias previsíveis e suas repetições cotidianas contam-se dezenas de milhares de óbitos por Covid-19.
Neste país não há tempo para a despedida. A morte é substituída por outra morte e o processo de luto é enterrado no sofrimento da próxima perda. Estranho movimento no qual somos lançados: não se realiza o esquecimento saudável, em que misturamos fortes lembranças com a substituição por outros afetos. Abandona-se o investimento em novos amores, desejos e paixões e mantém-se o corpo ressentido. Concomitantemente, se esquece com rapidez do que acontece em avalanche, tornando a vida que se foi ontem em um passado distante, sem temporalidade, despossuída de pertencimento.
Se o Brasil é o país sem luto, também é fato que os processos disparados pela pandemia estão produzindo novos arranjos para lidar com o que se apresenta como desconhecido nos diversos territórios e articulações das existências coletivas.
Para se ter uma ideia, logo no início dos óbitos por Covid, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde, por meio de duas portarias conjuntas, definiram expedientes excepcionais para o sepultamento. Foram autorizados o sepultamento e a cremação (depois houve recuo quanto a esta última) de corpos não identificados – notadamente preenchidos por sujeitos em vulnerabilidade, como a população em situação de rua ou povos indígenas sob ataque de grandes corporações e latifúndios do agronegócio. E se dispensou a necropsia em mortes de pessoas sob a custódia do Estado, como obriga a legislação ordinária, quando se busca prevenir, investigar e identificar responsabilidades por práticas de violação de direitos. Autorizou-se dessa forma o desaparecimento do histórico da morte, por exemplo, das pessoas com privação de liberdade no sistema penitenciário e nas instituições para adolescentes em conflito com a lei, assim como, de modo geral, o desaparecimento das histórias das vítimas de violência do Estado e institucional.
Uma prática eficaz de subnotificação de óbitos se irradiou. Se a Covid-19 exigiu formas de classificação, manejo e informação sobre os corpos contaminados, determinadas formas políticas de descarte da vida, sob a justificativa de sua preservação, receberam um investimento nunca visto. As estratégias de monitoramento da contaminação mostram que os números oficiais (reunidos pela grande mídia, pois o Ministério da Saúde não o faz ou, ao menos, não divulga) não correspondem à realidade. No máximo, funcionam como indício de algo que o Estado não se propõe a conhecer.
Quando se fala em corpo contaminado – vivo ou morto –, estamos nos referindo a uma série de procedimentos, instituições, bancos de dados, testagens e laboratórios, serviços de saúde e funerários. Trata-se de um fenômeno populacional inserido em políticas, públicas ou privadas, que envolvem ambientes, interesses econômicos e políticos, corporações globais e nacionais (vejam o caso da disputa pela fabricação da vacina).
A principal fonte de informação sobre a pandemia é o teste, cujo protocolo adotado pelo Ministério da Saúde foi o da testagem por amostra. Devido à insuficiência de kits para teste, ele é realizado fundamentalmente em parte dos mortos e em pacientes em estado grave, bem como em segmentos cuja renda permite financiar a própria testagem em laboratórios privados. Levando em consideração as diferenças socioeconômicas, somadas à escassez que compõe os vários territórios periféricos, poderíamos dizer que a subnotificação se configura como uma política de morte. Trata-se daquele número enorme (do ponto de vista gráfico e contábil) que aparece no fim de cada edição do Jornal nacional (Rede Globo). O que se notifica ao país é a produção incessante e assustadora de corpos matáveis, uma produção que se pode lamentar, mas não enlutar.
Sabe-se que a mais eficaz medida de combate ao coronavírus é o isolamento social, ao menos enquanto não houver vacina para a maioria da população. Entretanto, não há como desconsiderar que parte numerosa dos brasileiros se encontra nas ribanceiras do abismo imposto pela profunda desigualdade social. Sair de casa, utilizar transporte público precário e lotado, circular em ambientes insalubres e com aglomeração, servir aos que podem consumir por meio do suave acionamento do aplicativo. Esses têm sido os fluxos inevitáveis para milhões de brasileiros. Mais do que o vírus, teme-se a fome, o desemprego, a perda da moradia e, por isso, não se concretiza o isolamento preventivo.
Falta de água, de insumos para a saúde sanitária, ausência de saneamento básico, falta de ambulâncias ou equipamentos institucionais de cuidados. A precariedade conecta-se com a falta de informação (ou, por vezes, com a fake news da “gripezinha”, que convida à exposição ao vírus minimizando-se seus efeitos). O país chega ao fim do ano com um estado da federação sem acesso regular à luz elétrica.
Assim, a precariedade nas várias periferias garante o funcionamento dos supermercados, das farmácias, dos hospitais, do transporte e de tantos outros serviços.
Quando vislumbramos um início
de 2021 em plena “segunda onda”
da pandemia, sabemos que os mais
atingidos pelo aumento exponencial
da infecção e dos óbitos serão os
corpos periféricos.
Periférico não é só o que se encontra territorialmente às margens das grandes cidades, mas também os corpos relegados às políticas de morte. É o caso, por exemplo, dos povos indígenas, segmento especialmente vulnerável diante do vírus. Eles sofrem ainda com o ataque do governo federal aos regramentos de proteção ao meio ambiente e com a destruição ou a desmobilização criminosas dos órgãos destinados à proteção dos direitos dos povos indígenas.
O filósofo camaronês Achille Mbembe, no começo do século 21, lançou o conceito de “necropolítica” para definir uma estrutura fundamental do capitalismo global: a rejeição das vidas classificadas via racismo. A partir dessa experiência fundante o autor discorre sobre o “devir negro”, através do qual os corpos precarizados e descartáveis tendem a sofrer processos de morte. São instituições, conhecimentos, arquiteturas, discursos que conformam regimes de produção de sujeitos – poderíamos mesmo dizer de “corpos” – que devem ser submetidos a controles, incluindo a violência e o abandono.
A adoção do conceito de necropolítica seria fundamental para estruturar as políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. No Brasil, o grupo de risco, além de idosos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, compreende também as mulheres, os negros, os povos indígenas, os periféricos, entre outros segmentos sociais. São os que sentirão os impactos de morte do vírus (perda de emprego, suspensão de ganhos e salários, impossibilidade de efetivar o isolamento social em moradias precárias, violência de Estado etc.).
O que acontece com a atual pandemia é que a tradicional estrutura de morte se alastra para todos, em temporalidade muito rápida, e coloca a necropolítica em potência ainda maior. Por um lado, porque os mecanismos de exceção, autorizados pelas necessidades urgentes oriundas da crise sanitária, autorizam a ampliação dessa forma de governo. Por outro, esse alargamento do necro é possível agora porque cada corpo se encontra suscetível à política de morte, assim como cada corpo pode ele mesmo operar a efetivação da morte ao transmitir o vírus. Agora somos, cada um de nós, portadores de um corpo matável e, ao mesmo tempo, artefato da necropolítica transmitindo o vírus. É como se tivéssemos nos tornado uma pequena máquina de morte do Estado e dos dispositivos que já atuavam. Potência máxima de uma biopolítica de morte e desaparecimento do periférico.
O problema que nos coloca a complexidade da situação atual é: a que custo ou de quantas vidas estamos falando? Sairemos, por um lado, com uma sociedade muito mais vigiada, controlada e governada. A resposta institucional se estrutura com o fortalecimento dos Estados e das redes intranacionais (como a Organização Mundial da Saúde, OMS). Por outro lado, o isolamento social dificulta que respostas se estruturem por outras vias. O próprio Mbembe alerta para uma quebra entre o antes e o pós Covid-19, que será a impossibilidade ou a extrema dificuldade do luto em relação àqueles que estão perdendo a vida. Os aprendizados podem ser mais lentos do que a imposição das medidas institucionais, implicando grave custo às relações sociais.
Quando, anteriormente, refletimos sobre um país sem o direito ao luto, falávamos sobre a gestão dos corpos, o controle da circulação, os investimentos na manutenção dos serviços e de certa economia que produz os novos arranjos fundamentados nas velhas formas da matriz colonial brasileira. A pandemia serviu para pôr em prática políticas de controle legal, institucional e biológico dos corpos. Os artefatos dela são, notadamente, os mecanismos de exceção e a subjetivação produtora de corpos matáveis.
EDSON TELES é professor do Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp e coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense.










