Andara ou a Amazônia num grão de areia
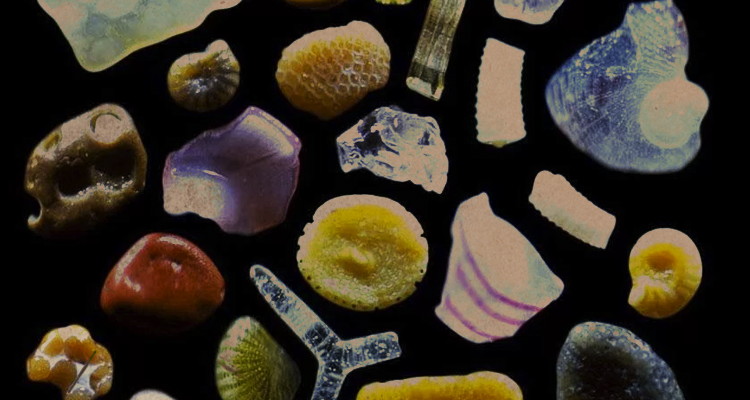
(…) em nós quantos Grãos quantas vozes em nós (…)
Vicente Franz Cecim em oÓ: Desnutrir a Pedra – Viagem a Andara oÓ livro invisível
Uma voz misteriosa sempre me escoltou, desde que li pela primeira vez Vicente Franz Cecim. Andara nunca sai de nós, as suas sombras, a sua música e as suas imagens, que nos assaltam e sequestram, na sua beleza e força poéticas. Foi pela mão do poeta português António Cabrita, que editou em Portugal Ó Serdespanto pela editora Íman, em 2001. Em 2006 foi também publicado K O Escuro da Semente, pela editora Ver-o-Verso. A recepção de Ó Serdespanto em Portugal valeu-lhe a atenção da crítica portuguesa e foi considerado um dos melhores livros do ano, nas listas publicitadas em vários jornais e revistas literárias. Eduardo Prado Coelho referiu-se ao livro, no Jornal Público, como “Uma revelação extraordinária!”. Nesse texto o crítico confessa o seu deslumbramento, referindo-se aos “momentos de arrebatamento que nos podem vir destes textos inclassificáveis”. A minha reação, nessa época, foi exatamente a mesma e o autor mais “próximo” que eu conhecia na literatura portuguesa contemporânea era Maria Gabriela Llansol, tanto quanto à originalidade da escrita como na fusão e hibridismo dos gêneros.
Vicente Franz Cecim foi aclamado pelo notável filósofo paraense Benedito Nunes e o grande crítico Leo Gilson Ribeiro compara a obra de Cecim à de Guimarães Rosa, falando numa ‘peregrinação álmica’ que se apresenta nos seus textos, de uma forma absolutamente singular, transfigurando zona geográfica da Amazônia na mítica Andara, um território onírico. Quando Vicente Franz Cecim fala dos seus livros, designa-os como iconoescritura. Fala também de literatura fantasma, num sentido duplo. Por um lado, a Escritura supõe uma projecção da escrita no futuro, como abertura ou como a “fala onde se cala a literatura”. Cecim retoma assim essa dimensão blanchotiana do texto e da escrita, como abertura ao porvir, característica que o aproxima de um veio místico da linguagem, reconhecendo-se em autores como Angelus Silesius, Maitre Eckhart ou Jacob Böhme, mas também na poética de Hölderlin e de Novalis, no Antigo Testamento ou, ainda, dos contemporâneos Joyce e Kafka, entre outros. Por outro, os livros de Andara são apenas uma parte do real, o visível o vislumbre do enigma.
Se os livros de Andara nos ferram a alma pela sua beleza poética, pela sua densidade metafísica, por outro lado, eles inquietam-nos profundamente pelo desassossego que nos causam, provocando um sismo que abala as nossas referências do que entendemos por literário: a narrativa, o contexto temporal e espacial da ação, o modo de contar uma história, desinstalando o leitor e baralhando as regras a que a narrativa o habituou. Estamos diante de uma autêntica e despojada forma de “contar uma história”, como nos adverte o autor, logo no início: “Era uma vez em Andara”. Todavia, essa forma de nos situar no universo fabuloso de Andara em nada nos garante estarmos diante de acontecimentos ou factos narrativos, de personagens, como os da literatura tradicional. Existe, de facto, uma narração e a escritura inscreve essa narração, mas não constitui um processo linear de narrativa, no seu sentido convencional. Todo a obra é construída numa permanente oscilação entre a forma poética, a narração e a imagem (daí o nome iconoescritura). Porém, não há nela nada de gratuito, pois o mais depurado modo de fazer e o despojamento da escrita convivem com o jogo das formas/imagens, a mistura dos gêneros e a sua fusão, num permanente e subtil jogo com o leitor.
Segundo Walter Benjamin, há um ditado na doutrina hassídica que fala sobre o mundo que há-de vir, dizendo que “tudo será como aqui – só um nadinha diferente. A imaginação trabalha do mesmo modo. Lança apenas um véu sobre a distância. Tudo aí pode ser como era, mas o véu ondeia, e as coisas, imperceptivelmente, deslocam-se debaixo dele”. Andara é tudo isso, transfigurado por esse gesto de lançar um véu, uma “neblina” sobre o que sempre foi, a história e a vida da Amazônia, fazendo ondear o véu e sob o qual os animais e os humanos se deslocam. Assim, a Escritura, tal como Cecim a designa, é a apresentação desse gesto movente, no sentido de um gesto lúdico e constante com as palavras e a composição do texto, deslocando-o do seu sentido original e recompondo-o, exercitando o poder e a musicalidade da linguagem, a partir dos efeitos de uma oralidade, tão cara à cultura ancestral indígena. Utiliza onomatopeias, a repetição, o corte e as aliterações, a (re)disposição das palavras, bem como inúmeros recursos de prosódia que são aqui utilizados de forma irônica e que visam a desconstrução da linearidade do texto. À maneira de um xamã, o autor acredita no poder mágico da linguagem que convoca os espíritos e, tal como ele, aquele que habita Andara compreende a linguagem dos animais e dos pássaros, das árvores, dos rios e das montanhas. Ao conhecer os sons e aprender o canto, ao incorporar a voz da floresta, adquire o poder de convocar os espíritos dos animais e da natureza.
Foi da parte da sua mãe, Yara Bella de Araujo Cecim (também escritora e contista), filha de nativos da Amazônia com portugueses, que Cecim herdou o poder encantatório da língua, bem como cedo devorou o imaginário da Amazônia com as histórias que Yara lhe contava até adormecer. Como diz na entrevista, “eram sempre histórias da Amazônia, do Imaginário da floresta. Era a hora, então, de imergir na Natureza. Mas o natural na minha Floresta Sagrada não é apenas natural, nela se fundem Natural e Sobrenatural. Vinha então essa versão da Vida, que para mim é a Mais Real. A natureza sonhada. Eu novamente fechava os olhos para ver o que minha mãe contava. Cresci também vendo a vida pelos ouvidos. Feita com palavras.”
Não lhe bastaram as palavras, pois cedo se lhe entranhou no olhar e no corpo a paixão pelo cinema, esse “véu movente” das imagens ou, como o próprio Cecim o afirma, “esse viver com os olhos fechados através das palavras se tornando imagens”, pois o seu pai, Miguel Janino Cecim tinha o olhar tão cansado da agonia da Segunda Grande Guerra que “permaneceu neles [nos filmes] toda a vida” e cedo aprendeu a sonhar através do cinema e das imagens cinematográficas. Daí talvez lhe tenha nascido o prazer pela montagem das imagens, mas também das palavras, aplicando a técnica (surrealista) à sua escrita. Não faltarei à verdade se disser que os livros de Andara refletem essa visão onírica/surreal que está mais próxima do cinema e dos seus dispositivos do que da narrativa canônica. E se, tal como ocorreu na revolução surrealista, o gesto artístico e literário era também (e essencialmente) político, no sentido de uma libertação da ordem burguesa e do próprio racionalismo e das cadeias da lógica, abrindo-se à exploração do inconsciente e do sonho, também a poética de Vicente Franz Cecim se cumpre neste desejo de romper com a ordem dominadora, como se pode ler no Manifesto Curau, Flagrados em Delito contra a Noite (publicado em 1983).
Andara, enquanto território mítico, é portador de um significado político profundo, resultado de um veemente protesto contra o olhar do colonizador, em busca de uma identidade da Amazônia e combatendo a destruição da cultura indígena. É num dos Manifestos de Curau, o de 1983, que a reivindicação surge em toda a sua urgência, como um grito de revolta: “Contra o regionalismo e ao mesmo tempo por uma revolução de região, só o mito e o delírio poderão alguma coisa./ E todos os sentidos advertidos contra os engodos de uma História feita contra nós, por dominadores contra dominados.” É justamente da dimensão da oralidade, do poder da fala, da exigência de uma voz e de um gesto de restituição da justiça, como um direito que cabe ao humano, conferindo-lhe a sua integração no coração vivo da floresta, unindo profano e sagrado, e descobrindo o sagrado como a morada ou o sonho que nos cabe cumprir, esse legado. Apenas o sonho permite aceder ao que não é racional nem pode ser medido pela lógica, ligando os mundos através de passagens entre o presente e o que sempre houve, um passado ancestral. Andara é o sonho que é Vida e Tempo, mas que devém também a noite longa, sombra e fantasma, imagem pairante que não cessa de viajar entre os tempos, restaurando na Iconoescritura a memória colectiva de um povo que almeja a sua liberdade. É o sonho de alguém que se escreve vivendo e que vive escrevendo, nesse limbo que nos conduz ao mistério da floresta amazônica, transformando-a em Linguagem e Mundo, em Vida. Essa é a grande literatura, onde o homem é “ponte” e o que se “pode amar no homem é ele ser essa passagem sobre o abismo”, a ponte em que ele dança sobre o abismo, para parafrasear Nietzsche, outra das figuras tutelares que aparecem na Escritura. Tal como disse o próprio autor numa entrevista que deu recentemente, “sem ouvir a Música do Mistério não se pode fazer literatura”. É isso a Iconoescritura, uma escuta do segredo que canta em Andara, essa voz assombrosa que nasce na noite e que percorre a neblina da alvorada, como um canto xamânico.
I
Para lavar o tecido em outras águas
O que veste o homem
para os dias do animal?
As rendas da carne,
elas vestem o homem para os dias do animal
As rendas do nascimento, as rendas da morte,
elas vestem o homem para os dias
e as noites do animal
pastando em campos que se erguem
para o céu, que acima é um outro véu,
que oculta o amor do pai
quando descobre a mãe terra, dilacerada nas sombras
que dão o frio e a luz
para que eu me veja humano
nos meus sonhos de animal
que se despe de ternura, quando se esconde a lua,
que se nutre de aflição
nos crepúsculos da raça
e arrependido deseja ser a pele da serpente
Tudo isso é o tempo fino
que flutua entre essas mãos
que desfiam
nossos panos, com que cubro a nudez da minha casinha de osso
Trabalho a que me dedico ouvindo os sons que não ouço
da catedral invisível que só posso visitar
nesses meus sonos sem sonhos
onde são iguais o filho, a renda e o pai calado do silêncio,
que vai queimando as estrelas
e se desfazendo em cinzas
para chover sobre mim,
aprendizado sereno
de dias que acabam assim
Chama sem nome ou fulgor de lama que os homens chamam:
O fruto do júbilo obscuro
In Ó Serdespanto/Música do sangue das estrelas
II
A lua é o sol
Um homem sorrindo é um Templo,
e os mortos
são os Belos Sagrados
Um homem chorando é um Templo
e ainda por cima da terra
flutua
o cemitério lunar :: A lua cheia de flores guarda
o teu lugar, o teu
lugar
(…)
Fragmento
Maria João Cantinho é poeta, ensaísta e ficcionista. Doutorada em Filosofia Contemporânea, pela Universidade Nova de Lisboa, colabora regularmente com várias revistas literárias, é professora do ensino secundário e Investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Letras. Tem publicados livros de poesia, ficção e ensaio. É membro da direcção do PEN Clube Português, da APE (Associação Portuguesa de Escritores) e APCL (Associação Portuguesa de Críticos Literários). É, igualmente, editora da Caliban; Revista de Letras, Artes e Ideias.











(3) Comentários
Queria corrigir o site da Revista Caliban. É revistacaliban.net
Obrigada!
Boa noite, gostaria de saber qual é o número da revista que o artigo de Maria João Cantinho foi publicado, o artigo cujo título é: Andara ou a Amazônia num grão de areia. Obrigada!
Olá, Danieli, não foi publicada na edição impressa da CULT, apenas no site, dentro da coluna ‘O cuidado da poesia’