Poesia para que te quero
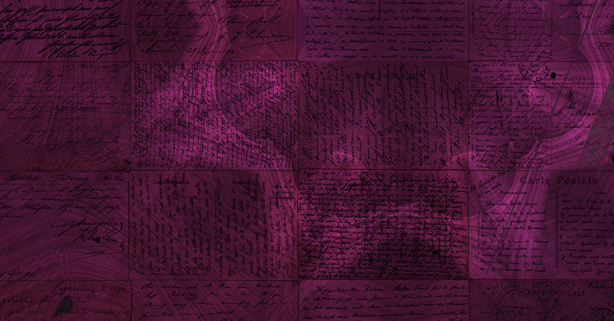
Poetry is unprofessional. Ao ler essa afirmativa de Hopkins, há muitos e muitos anos, creio ter se aclarado em mim um sentimento no qual eu me notava envolvido de maneira imprecisa, embora forte. Na adolescência, quando é comum fazermos planos para desenhar um futuro, os rapazes da minha idade se preparavam confiantes para “abraçar profissões”. Eu lia Manuel Bandeira, perdido em sonhos, e de concreto só abraçava o nada.
Um projeto no entanto roía as unhas da alma, me alimentando e atormentando em segredo: o que fazer para ser poeta, se isso não era uma profissão como as outras, e como ganhar a vida, não tendo eu nascido rico, para levar uma existência centrada em emoções e palavras? Quanto mais poesia eu lia, encontrando em Bandeira, Drummond, Cabral, Murilo Mendes, Joaquim Cardozo, Jorge de Lima e tantos outros a satisfação que buscava para as minhas indagações aflitivas, mais de mim se apoderava contudo a sensação de que apenas aquele estranho caminho, tão diferente dos rumos previsíveis, poderia me dar contentamento e alegria.
Foi por volta dos 30 anos, e então o vício da poesia já havia me contaminado de todo, que conheci a obra e a vida, ambas profundamente sofridas, do poeta inglês Gerard Manley Hopkins (1884-1889). Além de seus poemas, entre os quais se destacam, para meu gosto, os chamados “sonetos terríveis”, muito me interessaram suas anotações dispersas para um conceito curioso formulado por ele: o de inscape.
Cada coisa ou pessoa individualizada no mundo, segundo esse conceito, possui em si uma realidade que é dela, que é única, e que depende da aplicação sistemática de uma energia própria, o instress ou “insforço”, para desabrochar e se afirmar plenamente. Na gemologia, a ciência das gemas ou pedras preciosas, descobri por acaso uma expressão corrente que talvez seja útil para traduzir e tornar ainda atual o conceito antigo de Hopkins. Dentro de muitas pedras se formam, por infiltrações casuais de substâncias, inesperados desenhos ou padrões abstratos que as transformam em coisas sem similares. Nesse processo natural se constitui o que os gemólogos chamam de “paisagem interior” de uma pedra, a realidade que ao lhe dar feição à parte a faz rara e então até mais preciosa.

“A poesia é uma ilusão como as outras”, como o poeta Carlos Lima me ensinou certa vez, “mas pelo menos é uma ilusão boa”. Ainda que seja assim, a ideia de Hopkins me fortaleceu na impressão de que somente me dedicando de corpo e alma à poesia eu conseguiria ser fiel à paisagem que se formava em meu íntimo. Péssimo sempre em matemática, e até hoje um completo estranho à dança rigorosa dos números, fui no entanto desde muito criança fascinado pelo teor das palavras — seus sons, suas formas, as cores e sabores que elas em mim suscitavam, a força da ambiguidade, ou da pluralidade de sentidos, com que explodem e fluem.
Pode-se tomar por verdade que a “paisagem interior” de um poeta seja a aleatoriamente traçada, às vezes com grandes riscos, por uma vocação que se infiltra no leque das profissões. Se etimologicamente uma vocação é um convite, um apelo, um chamamento a participar da vida e seu rol inesgotável de surpresas e espantos, recusá-la em função de interesses mais promissores e socialmente benquistos seria um erro primário. Caso ele se impusesse ao poeta, o contentamento que se busca, e do qual nós dependemos para viver com saúde, jamais seria atingido.
Para safar-se do limbo de sua vida apagada, desregrada ou torturada pela “gratuita corte às palavras” — frase que está entre aspas porque eu mesmo talvez a tenha escrito bem jovem — é necessário que um poeta saia de sua concha ou da toca para fazer, pois é, fazer sucesso ou sentido? A dúvida me foi instilada por algo que li há poucos dias no Diário europeu de Alberto Moravia, livro publicado no Brasil, em tradução de Mario Fondelli, em 1995. Para um escritor, segundo Moravia, há dois tipos de sucesso. O primeiro e mais importante é o que ele pode obter consigo mesmo, se chegar à conclusão de que cumpriu suas metas e realizou o trabalho que tencionava fazer. O segundo é a repercussão junto a um público, sempre instável, mesmo que traga em si benefícios, e cada vez mais dependente de fatores externos ao eixo da criação.
Para me dedicar de corpo e alma à poesia, recolhi-me à vida no campo. Com apenas 24 anos, Hopkins se recolheu a um mosteiro, queimou grande parte dos seus versos e morreu muito novo e ignorado. Sua obra, só publicada em 1918, por iniciativa de um amigo que a salvou do abandono, só por volta de 1930 começou a ser lida e admirada pela originalidade e a força que contém. Muito tempo depois de Hopkins, outro inquieto poeta e memorialista da língua inglesa, o americano Thomas Merton (1915-1968), seguiu o mesmo caminho e também se fez monge, vivendo enclausurado numa zona rural do Kentucky.
Em seu diário, que traduzi com grande proveito, Merton escreveu em 10 de agosto de 1965: “Ao contrário de tudo que é dito a seu respeito, não vejo como a vida realmente solitária possa tolerar ilusão e auto-engano. Parece-me que a solidão arranca todas as máscaras e todos os disfarces. Não tolera mentiras. Tudo, exceto a afirmação direta e categórica, é marcado e julgado pelo silêncio da floresta”.
No campo, a solidão é solidária. Ela se abre para o caleidoscópio fascinante de espécies que dividem conosco essa plenitude de estar num mesmo barco à deriva. Se aqui as máscaras se arrancam, todas, inclusive a de poeta, com a qual tentei me preparar para a festa, novas realidades se formam e vão se processando sem pressa em rotação no eixo da vida. E assim é que, tendo e sendo apenas pouco, posso no entanto me apropriar com prazer daquela fórmula tão rica, sugestiva e bonita de Roland Barthes: “Nenhum poder, um pouco de saber e o máximo de sabor possível”.
Introdução à arte das montanhas
Um animal passeia nas montanhas.
Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego
mas não desiste de chegar ao ponto mais alto.
De tanto andar fazendo esforço se torna
um organismo em movimento reagindo a passadas,
e só. Não sente fome nem saudade nem sede,
confia apenas nos instintos que o destino conduz.
Puxado sempre para cima, o animal é um ímã,
numa escala de formiga, que as montanhas atraem.
Conhece alguma liberdade, quando chega ao cume.
Sente-se disperso entre as nuvens,
acha que reconheceu seus limites. Mas não sabe,
ainda, que agora tem de aprender a descer.
Dia de dilúvio
Quando chove assim tão seguidamente na serra
e começa a pingar água na casa e a goteira
cresce e a pia entope e alaga o chão,
quando não cessa esse barulho insistente
de água penetrando em tudo e rolando,
sinto uma desproteção total violenta
e eu mesmo sendo dissolvido também
nessa casa alagada, não me acho
enquanto solidez: vou flutuando
como onda inconstante na correnteza.
Pastoreando um bruxo urbanizado
Interpele o mato a brotação a seiva
que borda obras custosas de artesão
sob os elos amenos do jardim indague
com que paciente amor foram tecidos
os fios luminosos da manhã
cuja cortina ondeada se biparte nos morros abjure
toda forma suspeita urbanizada
ou transmitida
por imperfeitas formas literárias
de assimilar o mundo espie
essa nudez de coisas que se entregam
à embriaguez da própria criação o lento
crescimento raízes
matizes o intento
imprevisível do capim a ilusão preguiçosa
de nuvens que desandam
e de repente chovem sobre a roça
um frio leque de água clara ouça
essa mensagem muda que o minuto
sopra: viva invoque vislumbre invente
mas não pergunte nada.
Leonardo Fróes é poeta, ensaísta e tradutor. Tem a maior parte de seus livros publicados pela Editora Rocco, entre eles, Chinês com sono (2005), Contos orientais (2003), Argumentos invisíveis (1995) e Vertigens;obra reunida, 1968-1998 (1998). Virginia Woolf, William Faulkner, J.M.G. Le Clezio, Shelley, Swift, Thomas Merton, André Maurois, La Fontaine, George Eliot, Goethe, Malcolm Lowry e Elizabeth Barrett Browning são alguns dos autores que traduziu. Jornalista desde jovem, foi redator do Jornal do Brasil, O Globo e Encyclopaedia Britannica. Nesses dois jornais cariocas, como também nos principais de São Paulo, há quatro décadas tem feito crítica literária. Ganhou o prêmio Jabuti de poesia, em 1996, e os prêmios de tradução da Fundação Biblioteca Nacional, em 1998, da Academia Brasileira de Letras, em 2008, e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2016. Desde a década de 1970 mora em Petrópolis RJ, integrado à vida no campo. Seu livro de poesia mais recente, Trilha; poemas 1968-2015, foi publicado pela Azougue Editorial em agosto de 2015. Também em 2015, seu livro Sibilitz, de 1981, foi reeditado pela Editora Chão da Feira.









