Por uma contra-história da literatura

.
Costuma-se pensar a história segundo os feitos daqueles que muitos consideram serem seus “protagonistas”. Vem de Hegel, para ficar numa versão bem conhecida dessa posição, a intuição de que conhecer acontecimentos históricos seria coextensivo a compreender os afetos e desejos que guiam seus “verdadeiros agentes” – leia-se: aqueles capazes de encarnar não uma história, mas a História. Como se “História” fosse o nome que damos à enciclopédia biográfica que acumula personalidades extraordinárias.
Embora Hegel tenha em mente uma narrativa muito mais megalomaníaca, que englobaria a totalidade dos acontecimentos e comunidades, o filósofo não nos diz algo muito diferente do que alguém como Roberto Bolaño fala sobre a história da literatura. Em entrevista, o escritor certa vez alertara para a impassividade com a qual ela trata seus autores ditos menores.
De fato, o rol seleto dos ditos grandes nomes da literatura parece particularmente ingrato com esforços que, fossem eles aplicados a outras áreas, poderiam muito bem ter conquistado um lugar, se não destacado, ao menos digno.
A literatura parece indiferente a tal senso de justiça. Mesmo diante de denúncias qualificadas acerca da relevância dessa literatura dita menor para apreender virtualidades sociais, invisíveis aos olhos de autores do cânone – seria difícil não lembrar da que fazem Deleuze e Guattari através da busca de Kafka por um povo que falta, por exemplo –, as contradições imanentes à sua historicização crítica parecem trabalhar muito mais pela absorção destes à sua lógica já vigente que propriamente subvertê-la.
Pode-se situar O último dos copistas na série dessas denúncias. Mas ao contrário das disputas pela inserção do menor no Maior, da história na História, o decisivo para entendê-la seria saber situá-la no regime limítrofe à própria construção do que entendemos por literatura: a minoria de França Castro habita não um segundo degrau do rol seleto dos grandes autores, mas sua marginália. Mais especificamente, sua obsessão, que parece permear as personagens do romance, se fixa nos liames que separam literatura e não-literatura. Seu interesse parece ser o tempo todo voltar-se àquelas figuras que, cerradas nessa zona de indecisão, “em um livro, seriam um verbete, não uma biografia. Uma frase curta, mas violenta, numa enciclopédia por vir. O grande livro de personagens que nunca existiram”.
Com engenhosidades estilística e narrativa notáveis, o autor, que agora estreia no romance, percebe que alargar o rol da História não faria jus à escrita dessa “enciclopédia por vir”. Fazê-lo seria insistir nos mesmos vícios de excepcionalidade e coesão biográfica que compõem qualquer História, que não pode ser escrita sem o apagamento de suas margens. Porque excepcionalista, os autores da História dependem sempre dessas “personagens que nunca existiram”, das histórias que são apenas verbetes. Melhor seria tensionar nossa compreensão do que, em primeiro lugar, nos seduz à produção desse tipo de História: quais afetos estão por detrás da obsessão com o protagonismo, com a autorreferencialidade autoral, com a obra como expressão de uma personalidade excepcional?
Essas são perguntas que me parecem centrais para nos aproximar da obra. Elas não à toa aparecem pela voz de Eduardo, revisor de textos que narra o romance, mas que partilha seu protagonismo com ao menos duas outras figuras marginais da produção literária: Lygia, sua colega ilustradora, e Vergécio, o copista ao qual o ensaio de abertura se dedica. Nos enganaríamos, portanto, se víssemos aqui uma mera inversão de papéis, como se finalmente viesse o atrasado, mas justo, reconhecimento desses bons trabalhadores como protagonistas.
Isso seria comprar muito fácil a suposição de que “o revisor é vitima de algum fracasso, que teria vontade e tomar o posto do escritor”. Algo de outra ordem parece acontecer através dessas figuras menores e “fantasmáticas”, como escreve França Castro no ensaio. Elas parecem nos oferecer uma contraimagem da história da literatura como enciclopédia de grandes personalidades. Uma imagem na qual sejamos capazes de reconhecer um desejo “não de invadir o centro da página, mas de assumir de vez o domínio da margem, manter-se nela, aguardando a espera do leitor”. Se França Castro sente a necessidade de chamar nossa atenção à marginália, não é para transformar leitores, ilustradores e revisores em autores. É para desafiar uma maneira de narrar e escrever ainda viciada no personalismo.
Uma maneira que desconsidera como escrever sempre foi um exercício constante de se deixar habitar por vozes heterônomas, por se deixar invadir por aquilo que desconhecemos. Ao contrário do culto à personalidade, e mais do que uma consolação resignada diante da nostalgia dos “velhos tempos”, O último copista parece entender que a história da literatura sempre foi a de uma forma de “contaminação”.
Contaminação que aparece em um momento decisivo do romance, onde revisor e escritor se defrontam: “Um dia, quem sabe, lendo seu próximo romance, encontrarei a descrição de um bar. Você já nem se dará conta de onde veio a cena, de que gaveta surgiu”. Tendo ele oferecido a descrição, que o revisor seja “o único capaz de esclarecer sua gênese” do próximo romance seria uma maneira de nos lembrar que, mais do que expressão intransigente de uma personalidade auto-idêntica, escrever sempre foi uma forma de atravessamento da primeira pessoa do singular por aquilo que nos despossui de nós mesmos.
A história da literatura não poderia ser contada sem fazer jus a tais atravessamentos. Há de se ver algo dessa ordem, por exemplo, no fascínio que os acréscimos e transformações que Vergécio empregava em suas cópias. Os copistas, assim como os demais habitantes das margens, partilhariam dessa “mania incessante de rasurar e citar, de se autoindagar, de converter o autor em personagem e o livro em objeto de ficção”. Maneira diferente de dizer que, assim como nenhum texto seria sagrado, nenhuma autoria seria ensimesmada, pois sempre entremeada pelas “fraudes diminutas” que silenciosamente compõem toda narrativa.
Tornar revisor e copista protagonistas deve ser mais do que mero elogio à nostalgia, como poderíamos ser inicialmente induzidos. Nadaríamos na superfície, caso lêssemos em França Castro um mero apelo ao reconhecimento dessas outras personalidades ou uma espécie de clamor pelo analógico, que se enuncia pela reiterada autoconsciência de Eduardo de seu anacronismo em trechos como: “redes sociais e celular sempre foram uma combinação destrutiva. Tenho dificuldades de lidar com essa intrusão. Minhas palavras misturadas com as de outro, o outro dentro de sua cabeça, pensando com você, por você. A certa altura, já não sei quem escreve, quem lê”.
Tomados pelo medo da intrusão das margens, ainda estamos no terreno da História. Mais do que o ensimesmamento nostálgico dos “velhos tempos”, seria o caso de ver nesse anacronismo a exigência de que a literatura sempre foi mais do que seu engessamento na figura segura porque estática de um autor (ou mesmo de uma língua). Seria o caso de ver na intrusão das margens certa proliferação inventiva, o gesto mesmo pelo qual toda escrita se dá. Pois a literatura sempre foi um regime de escrita que, dos copistas medievais à proliferação de “margens, rodapés, folhas de guarda, colofões”, entendeu que são “nesses cantos não domesticados do livro, onde vozes distintas se misturam sem hierarquia e sem pudor”, que seus acontecimentos mais decisivos acontecem.
França Castro dá nome a esse tipo de acontecimento: acaso. Aparecendo do começo ao fim do romance, bem se pode dizer que ele seja um de seus (não) protagonistas, tecendo a relação entre o corpo do texto e suas margens, a História e seus restos. Seria o acaso que fez sobreviverem os traços de Vergécio, como um vírus que contagia nosso sistema de escrita. Um vírus que o próprio França Castro parece atualizar, ao fazer o livro girar em torno de um ensaio ele mesmo fictício, mas cuja publicação na internet o transforma num artefato digital tangível, disponível para contaminar tanto suas personagens quanto para perturbar a monofonia algorítmica que dita nosso regime contemporâneo de escrita. Como meta-artefato literário, seu ensaio passa a coabitar esses “dois mundos”, analógico e digital, que o romance embaralha, inserindo no engessamento e pureza do digital “o traço embrionário de um sonho, a evidência de que a internet é capaz de sonhar”. E, portanto, de se contaminar com literatura.
Aqui, uma leitura mais generosa daquela mesma intuição hegeliana parece vir a calhar. Seria o caso de ver como lá onde mais nos aproximamos do autoral, lá onde nossos afetos e desejos singulares se realizam, é também onde nossa primeira pessoa estremece. Tornar-se escritor significa mais do que não se amedrontar diante do acaso desse estremecimento. “Para tornar-se escritor, é preciso sempre tornar-se escriba” pois, ao seu modo, escrevemos sempre desde as margens do outro, sincopando-nos à multidão de traços pelos quais aprendemos a grifar aquilo que nos aparece como próprio. Tornar-se escritor significa, sobretudo, reconhecer no acaso que nos escapa o mais próximo que chegamos à verdade, já que “o bom texto é mesmo esse, o que te impele para outros lugares. O bom livro não segura, solta”.
Ao seu modo, se O último dos copistas denuncia um povo que falta, é porque também denuncia que este só pode surgir quando aprendemos a narrar para além de um eu. O livro não se encerra assim em um elogio saudosista aos tempos míticos onde “figuras menores” também tinham seu lugar ao sol, escribas eram funcionários de corte e revisores de algum órgão público. Encerra-se com a recordação de que, de certa maneira, uma maneira outra de narrar sempre esteve entre nós. Ela sempre restou por detrás das ilusões entre original e manuscrito, entre História e história.
Talvez tenhamos nos enrijecido diante do medo de nos contaminar, deixando de perceber que a pureza da monofonia nunca passou de uma forma de silenciamento dos atravessamentos que compõem todo eu. “Arranjos de escuro e sombra, contrastes, rodapés. Tudo o que é traço ou gravura afeta a pontuação, a semântica”; “a função sintática dos fantasmas”, sua capacidade de “corrigir o que a gramática não alcança” – eis como as margens implodem a História. Eis como a literatura faz do acaso uma forma de invenção.
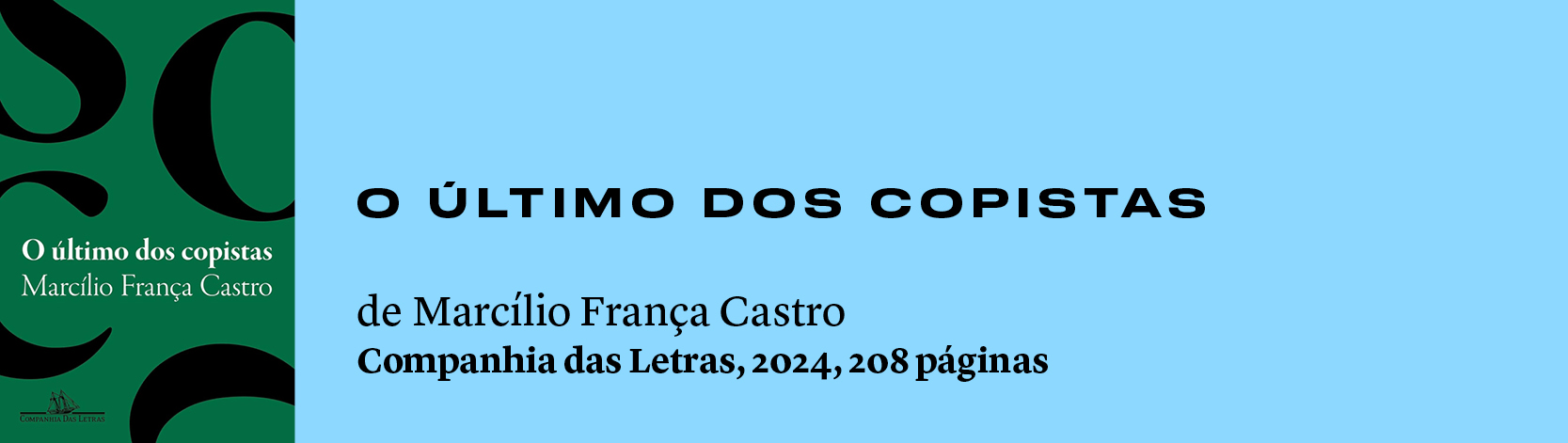
Pedro Pennycook é bacharel em Psicologia e mestrando em Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).










