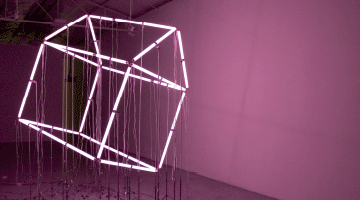Bola da vez


Eduardo Socha
Aí ela cuspiu no meu rosto, no meio do supermercado, na frente da minha mulher.” Christian embarga a voz e olha em direção aos vinhedos secos da região de Stellenbosch para esconder os olhos mareados. Durante o Apartheid, era policial da Cidade do Cabo. Em 1985, quando o regime dava sinais de desgaste, um restaurante do bairro nobre de Constantia havia sido roubado. Christian, branco, e seu colega policial, negro, foram ao restaurante ouvir o depoimento da proprietária. Tocaram a campainha. A proprietária deixou Christian entrar, mas bloqueou a passagem de seu colega. “Ele não”, advertiu a proprietária ao passar o ferrolho na porta, “não no meu restaurante”. Revoltado diante do automatismo brutal do gesto, Christian explicou que seu colega estava a serviço e que, por lei, deveria entrar. “Não importa. Vejo que o senhor não é boer. Permito animais, não negros. Deveria entender… O senhor precisa de alguma cartilha?” Christian multou a proprietária por desacato e voltou à delegacia sem o depoimento. Anos depois, encontraram-se num supermercado, ele já aposentado da polícia. “Eu me lembro do senhor”, disse a dona do restaurante, estreitando os olhos. “Foram pessoas como o senhor que sujaram este país e nossa identidade. Sinto nojo do senhor.”
Hoje, aos 64 anos, Christian vive como guia turístico. É um sujeito alegre, articulado, que não economiza adjetivos para descrever as belezas naturais da província do Cabo nem o provável entusiasmo de dom João II ao renomear a ponta sudoeste da África. Quando o assunto é a história recente, no entanto, recua diante dos adjetivos e fala à meia-voz em um lamento cuja autenticidade se propaga em sua reticente, porém enfática, locução: “Foi uma catástrofe”. Em Stellenbosch, enquanto terminava o almoço com um grupo de turistas mexicanos, contou o caso do restaurante e disse que areação quase bestial da proprietária lhe marcou de maneira particular. Para ele, era uma reação à altura da brutalidade de um regime que, atravessando uma geração inteira, turvou por mais de 40 anos a história da África do Sul.
Certamente, o caso de Christian é irrelevante se comparado à barbárie institucionalizada do Apartheid, às violações humanitárias executadas pela mesma polícia para a qual trabalhava. Mas mostra o tipo de psicopatia coletiva que desde 1948 legitimava a política de segregação racial. Até 1990, a realidade jurídica da África do Sul permitia todos os atos que hoje, de acordo com o artigo 7 do Estatuto de Roma, dão sentido técnico ao termo “crime contra a humanidade”. As ações planejadas pelo governo branco do Partido Nacional incluíam perseguições e torturas aos “terroristas” da ANC (partido político de Mandela), deslocamentos populacionais para bantustans (regiões isoladas dos brancos), massacres como os de Sharpeville e Soweto, censura à expressão jornalística e artística. Se tais ações partiam de uma burocracia governamental sem rosto, a retroalimentação subjetiva do preconceito ocorria nas cenas mais triviais do dia a dia, como na delirante suspeita, codificada de antemão, de um simples “bom dia” entre um branco e um negro.
“Nós” e “eles”
Vinte anos após a libertação de Nelson Mandela, que deu fim ao aparato legal do Apartheid, a fatura social ainda está longe de ser paga. Por um lado, os índices socioeconômicos de 1994 a 2010 não se alteraram de maneira expressiva, e não há cobertor ideológico que cubra a miséria material por muito tempo. A taxa de desemprego oscila na casa dos 25%; o sistema público de saúde está à beira do colapso, potencializado pela pandemia da aids, que atinge 11 milhões de pessoas e abrevia a expectativa de vida para 51 anos; o processo de favelização nos “assentamentos provisórios” continua crescente, assim como a criminalidade, impulsionada pela onda de xenofobia nos centros urbanos e pelos conflitos de terra no meio rural; o índice de Gini – que mede o grau da desigualdade econômica – ainda é pouco superior ao coeficiente brasileiro.
Mas uma mudança bastante significativa no quadro social sul-africano não costuma ser ressaltada na frieza das estatísticas: o corte de classe deixou de ser racial. O fenômeno é recente e não é nem um pouco óbvio. Basta lembrar que o Apartheid social brasileiro, sutilmente velado, presente não de direito, mas de fato, continua marcando a divisão informal dos cidadãos, como comprova o número de negros em cargos administrativos de empresas brasileiras, o número de professores universitários negros ou, ainda, como comprova qualquer batida policial e a tácita “segregação espacial” de qualquer grande cidade.
Ao contrário da nossa morosidade, assentada sobre uma falsa conciliação, os programas de ação afirmativa na África pós-Apartheid formaram em menos de 15 anos uma classe média e uma elite negras. Chamado de Amplo Fortalecimento Econômico Negro (Broad-Based Black Economic Empowerment, ou B-BBEE), o principal conjunto de programas induz, por exemplo, empresas de todos os setores a incluir trabalhadores negros em seus quadros de gestão por meio de um sistema de pontuação, certificação e cotas auditadas. À primeira vista, a compensação histórica parece ter dado resultado. As mesmas estatísticas que confirmam a desigualdade no país mostram, por outro lado, que os negros (80% da população) compõem hoje mais de 60% da classe média, contra menos de 25% em 1994; o surto imobiliário nos melhores bairros de Joanesburgo registrou um aumento de 700% de vendas aos negros; tanto o número de carros vendidos quanto o de correntistas em bancos cresceram 40% na população negra na última década.
Mas, mesmo com crescimento econômico sustentável (a uma taxa média de 4,5% ao ano na última década), o governo não consegue dissipar a névoa crítica ao B-BBEE, e não somente pela aparente ineficácia quanto à redução da desigualdade econômica e dos bolsões de miséria. Em 2008, o B-BBEE passou por reformas estruturais, motivadas pelas acusações de corrupção, segundo as quais somente os happy few próximos ao partido de Mandela teriam se beneficiado com a discriminação positiva. Exigiu-se também a criação de mecanismos específicos para evitar a fuga de “capital humano” branco. A oposição insiste que o “racismo às avessas” forçou o êxodo de profissionais qualificados para outrospaíses. Como a minoria branca ainda ocupa o topo da pirâmide social, a questão permanece controversa: uma pesquisa independente da Universidade de Cornell (EUA) sobre a emigração de sul-africanos com ensino superior sugere que as circunstâncias políticas internas seriam negligenciáveis para explicar a “diáspora branca”. A simples obviedade histórica de que os brancos tiveram acesso às melhores escolas e às melhores oportunidades durante quase três séculos de dominação não sensibiliza os argumentos daqueles que, sob pretensa objetividade, identificam um “racismo às avessas” ou endossam prognósticos reacionários.
Não se trata de sutileza retórica. Vinte anos após o fim do Apartheid, prevalece a divisão entre “nós” e “eles”, e a tensão racial subsiste como trauma não resolvido. Ela aparece tanto no debate político e nas questões econômicas quanto nos conflitos culturais – seja na religião, na arte, no esporte ou no simples “bom dia” enviesado. A “nação arco-íris”, matizada pela campanha de Mandela, ainda pertence a uma utópica geografia.
Uma Copa para redenção?
É nesse contexto, marcado por uma tensão ainda incubada na superfície dos discursos, que se compreende o entusiasmo de quase toda a população pela Copa que aconteceu dois meses atrás. Para quem o futebol é visto não apenas como metáfora de reconciliação, mas antes como símbolo de resistência (em Robben Island, onde Mandela esteve preso, o futebol era uma das poucas atividades toleradas pela administração do presídio), o fato de promover a Copa do Mundo possui uma dimensão simbólica que dificilmente pode ser colocada na ponta do lápis. Em matéria de política externa, o impacto é evidente. De 1961 a 1992, a África do Sul esteve banida de todas as competições internacionais do futebol, na esteira do boicote político e comercial ao Apartheid. Com a Copa, o país parece ter saído em definitivo da condição de pária no “concerto das nações” para se colocar como anfitrião do maior evento do mundo, noticiado por 18 mil jornalistas e, segundo a empresa norte-americana Nielsen, visto por quase 80% da população mundial.
É necessário ter cautela no remate dos prós e contras da Copa na África. Pois não se trata de embarcar no entusiasmo míope e oficial do governo, na onda ufanista muito bem capitalizada pelo marketing da Fifa. Do ponto de vista econômico, a Copa foi viperina para os cofres públicos. Segundo a recente projeção oficial do governo, 33 bilhões de rands (7,8 bilhões de reais) foram gastos com os investimentos em estádios, aeroportos, estradas, transporte municipal, infraestrutura de comunicações, a um custo 11 vezes maior do que o orçamento inicial. A gravidade do ônus amplifica-se quando metade da população vive abaixo da linha de pobreza. Não faltaram também as obrigações impostas pelo “modelo de negócios Fifa”: interferência na política local, a exemplo da exigência de isenção de impostos e de construção de estádios colossais, nenhum repasse dos direitos de transmissão e das cotas de patrocínio, controle irrestrito inclusive sobre o uso comercial da palavra “futebol”. Por fim, os procedimentos suspeitos na contratação e as acusações de enriquecimento ilícito acabaram justificando as vaias a Joseph Blatter, presidente da entidade, que calaram provisoriamente as vuvuzelas quando seu nome era anunciado nos estádios.
Mas, de todo modo, não deixa de ser reducionista a análise que vê apenas a cooptação do espetáculo pelo governo de plantão e pela entidade corrupta da Fifa. Nessa crítica obsessiva, o próprio esporte muitas vezes foi reduzido a mais um instrumente perverso da indústria do entretenimento, ao coroamento alegórico da injustiça global capitalista. Como se o interesse pelo futebol fosse ditado de cima para baixo por organizações destinadas à manipulação ideológica e ao gozo publicitário, como se o interesse popular resultasse de um eficiente aparato montado pela Fifa. Criticando à exaustão os bastidores da Copa e a opressão necessária para sua organização, parte da imprensa parecia enxergar no futebol não mais do que um expediente da estratégia de marketing da Nike ou da Adidas. Acontece que outras variáveis participam do jogo.
O bom-mocismo jornalístico de subjugar o futebol em bloco, pela via da perversão econômica ou política, só é possível quando se observa o esporte “de fora”, e não “de dentro”, ou, como lembra José Miguel Wisnik, quando a análise conspiratória de interesses e interferências da Nike “supõe ser a explicação crítica da realidade global do futebol”. Pouco importa, por exemplo, que um dos traços marcantes do jogo seja sua permanente ruptura com expectativas e contratos. As duas últimas Copas servem de exemplo nesse sentido: as seleções galácticas fracassaram de maneira vigorosa. Na Copa da África, uma equipe modesta como a do Uruguai chegou às semifinais, enquanto Messi, Rooney, Cristiano Ronaldo, Henry, Kaká, heróis matizados nos banners gigantescos das marcas globais, praticamente não existiram nas partidas. Ninguém se espanta com o fato de que o gol de Tshabalala contra o México e a campanha de Gana tenham tido maior repercussão na África do que a final do evento. Essa aparente contradição, pertencendo à autonomia do jogo, fortalece aquela crença de que tecnicamente o desfavorecido pode estar entre os fortes.
É compreensível que a usurpação política, a exemplo daquela que a ditadura brasileira em 1970 realizou com a melhor seleção de todos os tempos, traga a sensação incômoda de que o esporte esteja a serviço de um entorpecimento ideológico. Mas, num país como a África do Sul, o alcance simbólico parece seguir outra direção. Um estudo recente do Centro de Pesquisas Sociológicas da Universidade de Joanesburgo mostrou que o entusiasmo da população pela Copa ocorria, sobretudo, por ressonâncias simbólicas históricas, apesar da Fifa e apesar de escândalos de corrupção ligados ao presidente Jacob Zuma, que não deixaram de ser amplamente divulgados pela imprensa. Não só as camisetas dos Bafana Bafana estavam entre as mais vendidas. Aquelas que saudavam o evento com a inscrição “Fick Fufa” também fizeram sucesso.
Isso porque sediar o maior evento mundial, 20 anos depois do fim de um regime tirânico, talvez tenha produzido uma espécie de soft power de valores intangíveis, como o afastamento de um afropessimismo secular e dos resí-duos ideológicos do Apartheid. Se, meses antes do início da competição, suspeitas ainda eram levantadas tanto pela Fifa, com seu plano B, quanto pela minoria que questionava a capacidade organizacional do governo, durante a Copa, o espírito já havia mudado. Para além da retórica vazia, o senso de coesão social, de fato, nunca foi tão intenso em uma nação construída sobre a intolerância étnica. Em editorial, o principal jornal de oposição, Sunday Times, resumiu que as manifestações de patriotismo não encontraram precedentes na história sul-africana, quando pela primeira vez brancos e negros parecem ter partilhado um único ideal. Encontrar boers nas ruas, vestindo a camisa do “esporte negro” e vibrando com o gol de Tshabalala, seria algo inimaginável 15 anos atrás. “A África do Sul mudou”, ponderou a associação de imprensa sul-africana no mês passado, “virou um lugar diferente, e não era preciso ser fã de futebol para perceber isso”. Embora cético quanto aos benefícios sociais do evento, também o arcebispo Desmond Tutu integrou o coro dos entusiastas: “Quem não se emocionou com a Copa do Mundo precisa visitar o psiquiatra. Mostramos ao mundo e a nós mesmos a nossa capacidade em todos os sentidos. Podemos superar desafios.”
Nada disso relativiza as práticas draconianas da Fifa nem o sangramento das contas públicas para a rentabilidade de uma pequena elite. Mas, no caso da África, onde o futebol está carregado de significado político e simbólico, não seria exagerado dizer que a oposição entre “nós” e “eles” foi suspensa durante pelo menos um mês. Se o esporte vale como representação metonímica do jogo social (e ao mesmo tempo o tenciona), talvez seja o caso de vermos aí o sinal de uma reconciliação democrática, cuja promessa ainda não foi cumprida. Christian, o guia turístico, dizia que esse será o grande saldo da Copa, apesar de todo malogro financeiro. Ao se despedir em Stellenbosch, lamentou a eliminação da África do Sul logo na primeira fase, profetizando em seguida: “Já conseguimos muita coisa. Pode anotar, um dia chegará nossa vez”.