Camila Prando: palavras subterrâneas e os melhores livros do ano

Mas a existência da linguagem é o sim dito ao mundo
para que ele esteja suspenso sobre o nada da linguagem.
Giorgio Agamben
O fato ordinário é que todos os anos aparecem listas, mais ou menos um ou dois meses antes do ano terminar, com “os melhores” livros. Aquilo que aparece em novembro, em dezembro não consta das listas dos selecionadíssimos e selecionadíssimas colaboradores e colaboradas dessa ou daquela publicação. Isto leva também ao tabuleiro marcado dos prêmios, entre os que julgam antes para ser premiados depois e assim sucessivamente numa alternância fisiológica. Lembra até o Congresso e a votação da PEC dos precatórios. Agora, em 2021, numa coincidência ruim às listas, morreu Assis Brasil, no dia 28 de novembro. Quase ninguém sabe, ninguém viu. Nascido em Parnaíba, no Piauí, com uma longa morada no Rio de Janeiro, e falecido em Teresina, numa pequena casa com apenas duas máquinas de datilografia e um copo. Uma vida intensa lançada ao jogo desamparado e infinito do pensamento, uma política daquele que é capaz de andar com pés finos à beira do abismo e também dançar. E pasme-se: nenhuma escritora ou escritor brasileiro vivo e premiado lambe sequer as botas da literatura de espanto, demoníaca, que Assis Brasil inscreveu com o corpo, sempre em torno de personagens de vida operária, precária, sofrida, dura, sem saídas. Bastaria ler, com força, entre tantos livros, coisas como Beira rio, beira vida; Os que bebem como os cães; Sodoma está velha ou O livro de Judas. São oscilações humanas sem nenhuma possibilidade de alteração social, vidas anônimas em corpos nomeados, uma luta de indivíduos com mínimas memórias coletivas, pequenas fímbrias numa genealogia de vazios: um povo que ainda falta ou uma gente que ainda é um povo que falta. O que Raúl Antelo provoca pensar como uma “desregulação regrada” em “nossa” descabida e desigual formação sócio-cultural.
Mas há, como um livro do lado, aquele que vem de uma beira pertinente à sua condição extrema, como uma fome, uma ética, esta “maneira que não nos acontece nem nos funda”, mas nos engendra; e isto se entendemos que estamos o tempo inteiro diante do demônio, esta frágil criatura, afastada de qualquer ideia de deus e que não pode nos fazer nenhum mal, que é também a que mais solicita ajuda e oração; é a possibilidade de não ser que implora por socorro, um “ser que é infinitamente suscetível de ser tentado”. Este livro que vem, como um demônio, tem a ver com a ideia de um “trabalho no subsolo”, como o sugerido por Walter Benjamin, entre o sonho com um terreno deserto, a praça de Weimar, as escavações em curso, o surgimento de um pináculo de igreja e a alegria de um santuário mexicano pré-animista: o Anaquivitzli. E não é nem de longe a ideia fajuta do livro dos livros, nem muito menos a consagração fracassada, menos para o dinheiro, da aparição associada às listas por causa de um desenho narrativo do óbvio, a “agenda da hora”, com mais de 100 ou 200 mil leitores. Não custa lembrar T.S. Eliot quando anotava que “tudo o que a multidão gosta, merece desconfiança”.
Devagar, quando a literatura ainda é algo muito perigoso, uma boca sem dentes, tocando a ideia de Franz Kafka – “Todos os dias tenho que escrever pelo menos uma frase contra mim” –, lendo-se aí que esse contra não é um ataque autodestrutivo, mas um ponto de começo, uma luta: nunca partir de um EU para o mundo, mas partir do mundo para, se possível, numa inversão deliberada e anacrônica, tocar algum EU quando assim se toca também algum OUTRO. O pequeno livro de Camila Prando, Dicionário de palavras subterrâneas (AVÁ Editora) – que pode nos lembrar também W.G. Sebald, em torno da expressiva circunstância de que “estamos na era da destruição natural do mundo” –, é uma imensa construção acósmica de que a vida e sua máquina teológica não podem ser salvas. E nos apresenta, assim, frente a leveza inespecífica da linguagem, a vida na e da terra, ou seja, “simplesmente a vida humana”. Camila, nascida em Telêmaco Borba, no Paraná, mora em Brasília, é professora de Criminologia e Direito penal da UnB, coordena o Centro de Estudos de Desigualdade e Discriminação (CEDD), desenvolve uma pesquisa em torno do desaparecimento forçado nas prisões brasileiras e do quanto isso tem a ver com a construção de um problema social e jurídico sem tamanho.
O que se imaginaria ao abrir o pequeno livro de 65 páginas essenciais, diante de uma fotografia rarefeita de duas crianças brincando na areia frouxa de uma beira de praia ou quintal e, na página ao lado, a epígrafe de Cesare Pavese – “a morte virá e terá teus olhos” –, é que há uma proposição imediata, risco e fúria, como um puzzle indômito, entre a imagem e a frase. A primeira mínima narrativa tem cinco linhas, Urubu: “Ela voava como um urubu. Um voo alto, nublado e oblíquo. Os olhos atentos à caça, em corpo leve e alado, suspenso no ar. A menina farejava o cheiro da morte se preparando para devorar sua carne”. Ao lado da narrativa uma notícia retirada de jornal, com data de 25 de março de 2013: “A jovem foi encontrada por um morador que percebeu o mau cheiro e a presença de urubus no terreno. Após procurar por algum animal morto no local, o homem avistou a vítima seminua em uma vala e acionou a polícia”. Não se sabe de qual jornal, nem de quem se trata de fato a notícia: oscilações humanas entre o desamparo de corpos nomeados e quase nenhuma memória coletiva, porque há uma banalização naturalizada da destruição do mundo, da vida. Tanto que há uma dimensão ordinária que se contempla e se contenta com a ideia de que há vidas, há mundos, assim, no plural, apenas para sobejar e deliciar os fetiches capitalistas de que nada se faça, nada se altere, que toda a catástrofe seja mantida, no único mundo que criamos.
O livro de Camila, num susto, parte de uma invenção narrativa para o encontro com as circunstâncias da notícia, talvez retomando o gesto de Margo Glantz, uma escritora mexicana fabulosa que inicia o livro E por olhar tudo, nada via, com uma pergunta: “Ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante?”. Camila inverte o sentido da notícia, e aí não mais ao modo de Margo, mas numa operação tangente, quando primeiro vem uma ficção-crítica de toda origem para depois, numa busca incessante, encontrar notícias que tratem de algo que possa, de alguma maneira, encontrar-se com aquilo que imagina, inventa, narra e inscreve. E tudo paira num gesto entre estúpido, que é próprio do estudo, da fadiga alegre de estudar, até uma generosidade de partilha que não pede nada em troca, sequer quaisquer leitores ou leitoras. Sabe-se, como um sabor, a quem, num esforço de busca, ou seja, também de estudo, não se contenta com o agotamiento imparável de uma literatura que beira “soluções” e “investidas” de ponta de estoque: comércio de black friday.
O livro de Camila se recarrega na sintomatologia do naufrágio absoluto, é um subterrâneo que roça a superfície daquilo que somos, algozes e vítimas sem inocência alguma. As personagens são meninas e mulheres largadas que tentam, minimamente, segurar-se à borda da vida com toda a força e construção de sentidos que ainda lhes pode ser impossível. Fácil reparar numa composição que advém da imagem de O esmagamento das gotas, de Julio Cortázar, em Histórias de Cronópios e de Famas: a gota que se segura na esquadria da janela “[…] com todas as unhas, não quer cair e se vê que ela se agarra com os dentes enquanto lhe cresce a barriga, já é uma gotona que pende majestosa e de repente zup, lá vai ela, plaf, desmanchada, nada, uma viscosidade no mármore. Mas há as que se suicidam e logo se entregam, brotam na esquadria e de lá mesmo se jogam, parece-me ver a vibração do salto, suas perninhas desprendendo-se e o grito que as embriaga nesse nada do cair e aniquilar-se. […]”. Em Ritmo, ela escreve: “Quando criança, a mãe lhe comprava livros. Os dedos se cortavam na navalha fina do papel. – Esta menina é tão desajeitada. Levavam ao médico para ver se ela pegava ritmo. As folhas do livro tinham marcas de sangue e chocolate. Era uma escrita sutil. Uma tentativa íntima da menina sentir”. E, ao lado, a notícia, jornal, 14 de maio de 2018: “Pacientes com coração batendo fora de ritmo nunca podem parar o tratamento”.
E assim, removendo lentamente este rocio – notícias ordinárias e imaginação fabulosa, fotografias e epígrafes com as pequenas narrativas –, Camila Prando sugere uma reconfiguração, também advinda de Kafka, a de que a “incongruência do mundo é de índole quantitava” ou de que “no mundo há muita esperança, mas não para nós”, e isto porque não conseguimos saltar a história nem provocar uma saliência na história, remexendo mais fundo as mãos na lama, na merda, no abominável estado das coisas todas ao nosso redor. Algumas das narrativas encantadas desse Dicionário de palavras subterrâneas, em palavras que nunca emergem, como Bicicleta, Quintal, Voo ou Milagre, por exemplo, sugerem não um quanto, mas um como, um quando, um por quê?, dessas vidas de subsolo, o lado mais baixo da história, desses encontros de mundo do qual pouco se sabe ou que poucos conhecem. Uma literatura com força, sem negócio, sem concessão, com muito do que propõe também Giorgio Agamben ao indicar que “no momento em que te apercebes do caráter irreparável do mundo, nesse momento ele é transcendente. Como o mundo é – isso é exterior ao mundo”.
Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura, UNIRIO. Publicou O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou recentemente Uma pausa na luta (Mórula, 2020) com a participação de 70 pessoas e juventude, alegria (Mórula, 2021, com Davi Pessoa).
por Redação
 Reunião de dois contos que se centram nas desventuras dos personagens Fettes e Keawe: “O ladrão de corpos” e “O diabrete da garrafa”. O primeiro, originalmente publicado em 1884, baseia-se na vida do cirurgião Robert Knox, que comprava corpos de uma dupla de assassinos para usar em suas aulas de anatomia, na Escócia do século 19. Já o segundo conto, de 1891, aborda o clássico mito do gênio na garrafa, com suas realizações do impossível que, no mais das vezes, convertem-se em desgraças e infelicidade para seus proprietários. A edição é impressa em risografia e serigrafia, com encadernação manual, e conta com algumas opções tradutórias inéditas, como o “diabrete” em vez do mais usual “O diabo na garrafa”.
Reunião de dois contos que se centram nas desventuras dos personagens Fettes e Keawe: “O ladrão de corpos” e “O diabrete da garrafa”. O primeiro, originalmente publicado em 1884, baseia-se na vida do cirurgião Robert Knox, que comprava corpos de uma dupla de assassinos para usar em suas aulas de anatomia, na Escócia do século 19. Já o segundo conto, de 1891, aborda o clássico mito do gênio na garrafa, com suas realizações do impossível que, no mais das vezes, convertem-se em desgraças e infelicidade para seus proprietários. A edição é impressa em risografia e serigrafia, com encadernação manual, e conta com algumas opções tradutórias inéditas, como o “diabrete” em vez do mais usual “O diabo na garrafa”.
 Em uma noite lisboeta de 1938, em pleno regime ditatorial salazarista, um português chamado Pereira aborda o escritor italiano Antonio Tabucchi e solicita-lhe que seja personagem de um livro seu. Esse é o pano de fundo do romance-depoimento de Tabucchi, que também é tradutor da poesia de Fernando Pessoa para o italiano. Pacato e melancólico viúvo de meia idade, Pereira é diretor da seção cultural de um pequeno jornal lisboeta, para o qual traduz contos franceses do século 19. No início definido como apolítico, o crescente clima de tensão da época, com o franquismo, a guerra civil espanhola e a ascensão do nazismo, faz com que Pereira gradualmente descubra em si atos de rebeldia e autoconsciência, impulsionando-lhe para longe da zona de conforto que ocupava.
Em uma noite lisboeta de 1938, em pleno regime ditatorial salazarista, um português chamado Pereira aborda o escritor italiano Antonio Tabucchi e solicita-lhe que seja personagem de um livro seu. Esse é o pano de fundo do romance-depoimento de Tabucchi, que também é tradutor da poesia de Fernando Pessoa para o italiano. Pacato e melancólico viúvo de meia idade, Pereira é diretor da seção cultural de um pequeno jornal lisboeta, para o qual traduz contos franceses do século 19. No início definido como apolítico, o crescente clima de tensão da época, com o franquismo, a guerra civil espanhola e a ascensão do nazismo, faz com que Pereira gradualmente descubra em si atos de rebeldia e autoconsciência, impulsionando-lhe para longe da zona de conforto que ocupava.
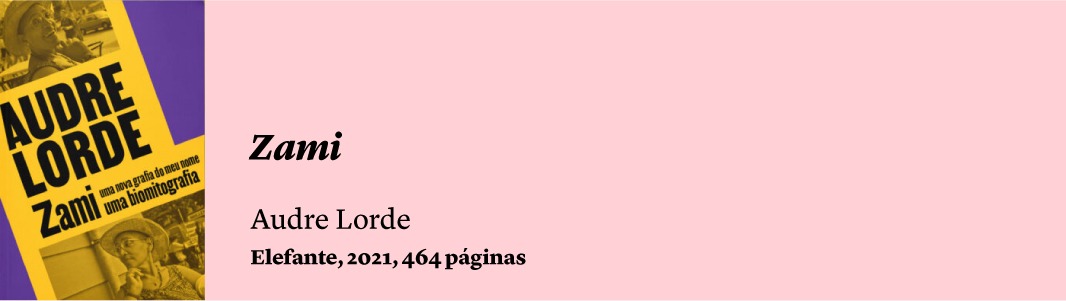 Definida no subtítulo como uma “biomitografia”, a obra traz recordações, misturadas à ficção, dos primeiros 23 anos de vida de Audre Lorde, poeta, ensaísta e ativista negra e lésbica norte-americana. Ao longo dessa trajetória, ressalta-se o papel fundamental que as mulheres exerceram em sua vida, constituindo parte de sua própria identidade. Da infância, marcada pela personalidade grandiosa de sua mãe, à juventude, quando descobre o amor homossexual, figuras de mulheres misturam-se à sua própria constituição subjetiva. “Zami, pensei, ao chegar ao fim de suas páginas já com saudades, é um dos galhos daquelas árvores que a pássara sem pés tanto procurou, pois aqui, no abrigo de suas folhagens, pousamos em segurança como no colo de nossas mães, todas elas”, escreve Cecília Floresta no prefácio à edição brasileira.
Definida no subtítulo como uma “biomitografia”, a obra traz recordações, misturadas à ficção, dos primeiros 23 anos de vida de Audre Lorde, poeta, ensaísta e ativista negra e lésbica norte-americana. Ao longo dessa trajetória, ressalta-se o papel fundamental que as mulheres exerceram em sua vida, constituindo parte de sua própria identidade. Da infância, marcada pela personalidade grandiosa de sua mãe, à juventude, quando descobre o amor homossexual, figuras de mulheres misturam-se à sua própria constituição subjetiva. “Zami, pensei, ao chegar ao fim de suas páginas já com saudades, é um dos galhos daquelas árvores que a pássara sem pés tanto procurou, pois aqui, no abrigo de suas folhagens, pousamos em segurança como no colo de nossas mães, todas elas”, escreve Cecília Floresta no prefácio à edição brasileira.
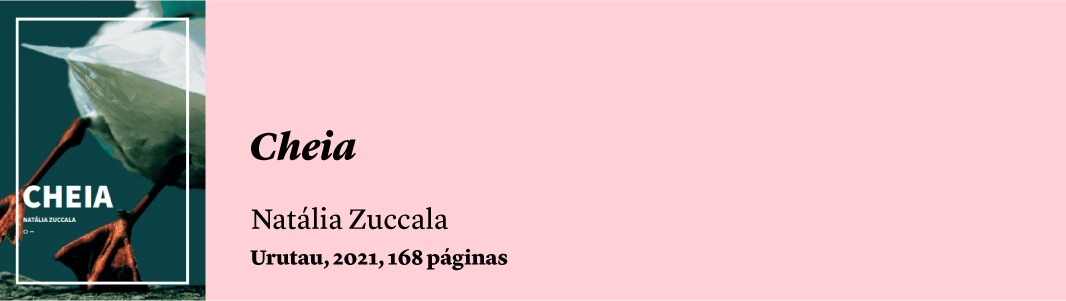 Um casal chega junto a um restaurante. A mulher, esquecendo-se da companhia do marido, pede uma mesa apenas para uma pessoa. Ao sentir a mão do homem em seu ombro, recorda-se de sua presença e emenda o erro. Assim começa o primeiro romance de Natália Zuccala, que se assemelha a um bordado intermitente, que se desfaz no próprio ato de coser, na opinião da escritora Carola Saavedra. “Por trás da desmemória, há algo que precisa não ser dito, algo do âmbito do horror. E de repente, percebemos que Amanda é Amanda [a protagonista], mas também é todas as mulheres, e também somos nós. Não há saída além de acompanhar a personagem nesse mergulho, mesmo que intuamos que, do lado de lá, talvez não haja nada, só o horizonte infinito do silêncio”, escreve Saavedra.
Um casal chega junto a um restaurante. A mulher, esquecendo-se da companhia do marido, pede uma mesa apenas para uma pessoa. Ao sentir a mão do homem em seu ombro, recorda-se de sua presença e emenda o erro. Assim começa o primeiro romance de Natália Zuccala, que se assemelha a um bordado intermitente, que se desfaz no próprio ato de coser, na opinião da escritora Carola Saavedra. “Por trás da desmemória, há algo que precisa não ser dito, algo do âmbito do horror. E de repente, percebemos que Amanda é Amanda [a protagonista], mas também é todas as mulheres, e também somos nós. Não há saída além de acompanhar a personagem nesse mergulho, mesmo que intuamos que, do lado de lá, talvez não haja nada, só o horizonte infinito do silêncio”, escreve Saavedra.










