Torquato Neto: entre o subtendido e o mal-entendido
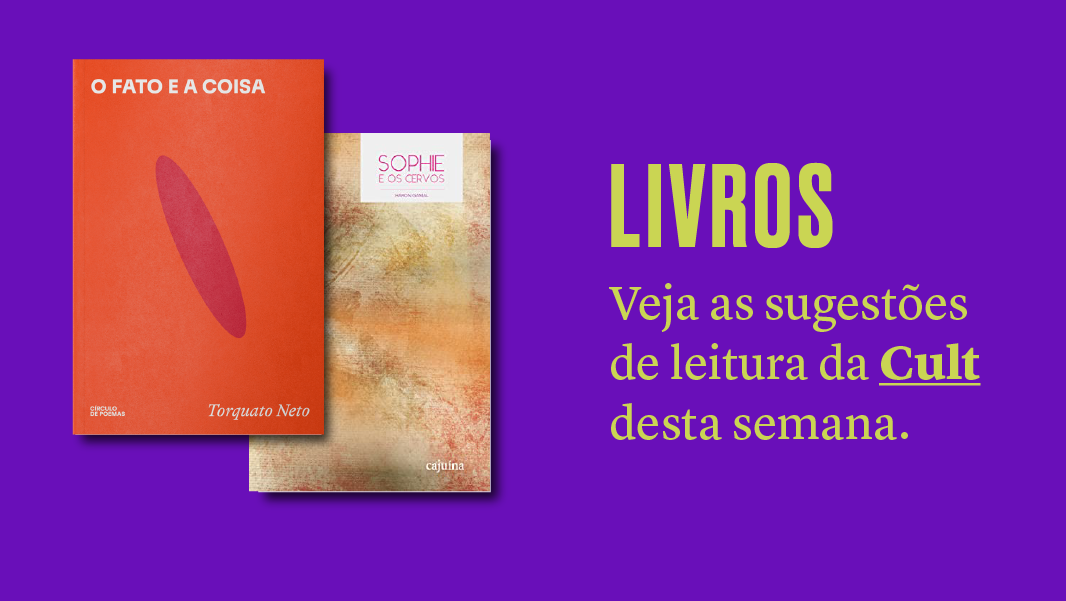
.
“em estado de guerra, eu abraço!”
“punhal cego que sai cortando a porradas.
assim se arrancam falsas promessas.”
Renata Flávia
Entre as efemérides do centenário da Semana de Arte de São Paulo e do nascimento de Pier Paolo Pasolini; depois, a boa morte desejada e assistida de Jean-Luc Godard, o desvario delirante e violento do fascismo espalhado pelo país em meio à candidatura, a campanha e a vitória impressionante e maravilhosa de Lula, nos lembrando que a luta por liberdade sempre foi e é, antes, por dignidade, publica-se O fato e a coisa (Fósforo/Luna Parque), livro que reúne uma produção juvenil de Torquato Neto: poemas para ler com uma só mão.
Basta ver coisas como, por exemplo, no “Poema desesperado”, quando logo no começo o menino anota: “Esta noite abortarei as rosas mais vermelhas/ que em mim geraram a minha angústia”; ou no “Poema conformista”: “Se não componho as sinfonias que escuto/ ninguém o sabe: eu não sou músico”. E, ainda, em “Motivo”:“É difícil escrever uma poesia para nós mesmos?/ Quem foi que disse que é fácil?”. Estas linhas sem beira, entre tantas outras, todas ao contrário do que se imagina ou se sabe, um sabor, do que se podia ler de Torquato até agora, publicamente, são o esboço do que é qualquer exercício no sentido do esgotamento das forças a um começar, como tarefa política de um “por que escrevi”.
Tal pergunta transitiva remete diretamente a uma proposição elaborada por César Aira, escritor argentino, num pequeno ensaio que tem exatamente esse título. Ele lembra a relação da escritura com um conjunto de acasos e conjunções acidentais. E amplia o apontamento ao lembrar do quanto, agora, há “uma escassez extrema de bons escritores” (no caso “brasileiro”, se há um “caso brasileiro”, Paulo Leminski já anunciara esse dano desde 1986, no ensaio História mal contada: uma literatura de máquina fotográfica e sem dimensão inventiva. Basta ver o que se amplia hoje, como modelo, entre exclusividade e banalidade a partir de grandes editoras que publicam “os campeões”).
Aira afirma, categórico, que “um poeta não tem o direito de acreditar que a literatura seja a arte suprema”, algo como reconhecer que na literatura não há nenhum poder, porque o mínimo diante dela é apenas “continuar vivo. Mesmo em más condições, doente, pobre, decrépito, ter sobrevivido aos fatos para dar testemunho”. Seu exemplo é Paul Léautaud, escritor francês que, para ele, era dotado de uma vontade de verdade, obstinação militante e certa radicalidade distribuídas entre escrever, sentar numa poltrona para fumar e falar sozinho. Ou seja, “um prazer improdutivo e não participativo”.
A microscopia do conjunto desses poemas de Torquato Neto, que aparecem com fascínio e como fascinadores no bonito e inteligente posfácio de Thiago E., poeta arejado e expandido, nascido em Teresina, poderia também desaparecer sem nenhuma reconstrução: da figura à letra, da letra ao espectro, porque o mundo só se organiza minimamente se posto em linguagem. Daí, que Aira, pensando em Léautaud, diga que
há uma oscilação entre excessos, sem meios-termos, um jogo entre subtendido e mal-entendido. A linguagem que fala uma comunidade é um balbucio todo feito de subentendidos; e nem bem a linguagem se torna arte, nas mãos de um poeta (o écrivain barthesiano), ela se universaliza, pela radicalidade própria da arte, caindo no campo do mal-entendido, resultado inevitável da mais-valia de sentido, a transcendência etc. A prosa que tenho praticado, a de écrivaint, é mediadora do subtendido e do mal-entendido, e essa negociação é sua razão de ser.
Ora, o genial pensamento de Aira não capitula em busca de uma gênese da literatura como arte suprema, mas sim lança o corpo em direção a um mal de origem para redefinir a ideia de documento; e isto não está longe do que Ana Cristina Cesar elaborou em seus pequenos ensaios reunidos em Literatura não é documento, dissertação de mestrado, e algo dos textos que aparecem em Escritos do Rio e Escritos da Inglaterra.
O jogo infenso entre subtendido e mal-entendido que já está em Charles Baudelaire, Nietzsche e, principalmente, no “caráter destrutivo” sugerido por Walter Benjamin, “como destruir a destruição”, contra toda a fenomenologia burguesa, como a fofoca, por exemplo, não é apenas um sintoma de neurose, mas muito mais o que vem nas perguntas espectrais que deambulam da “por que escrevi”: “por que ler” e “o que ler”.
Desdobrando, César Aira deriva ainda uma terceira, uma ne-uter, “por que leio o que leio”, e a concentra no percurso de uma cosmologia antiga entre as questões eternas do homem com o mundo, ou seja, as contingências históricas. Isto que, segundo ele, é a ausência aflitiva de uma leitura dos passados, nunca como retorno, mas como desvio (voltamos sempre a Walter Benjamin); ausência presente, uma presença da falta, no que se categoriza cronologicamente como “literatura contemporânea”: este fiasco, “este resíduo de eternidade a-histórica”. E conclui que “o escritor, se conseguiu encontrar felicidade escrevendo, ao morrer leva o mundo consigo”. Repare-se no gerúndio que anuncia um movimento (ação e gesto), “escrevendo”, e mais ainda que a morte é um fecho, é quando o mundo acaba.
Pode-se tomar outra lembrança: Hélio Oiticica, numa carta de 11 de novembro de 1968 para a artista visual Lygia Clark, naquele momento em Londres, apresenta-lhe um jovem e amado amigo, Torquato Neto, então com 24 anos, e diz do quanto esse moço é impressionantemente livre, à deriva, severo e estudioso e que vem fazendo uns poemas em que palavras e sinais se desintegram; depois anota: “Uma coisa engraçada: Torquato gosta, em geral, de coisas que ninguém gosta”.
E em abril de 1973, numa temporada em New York, Torquato já morto (10 de novembro de 1972, aos 28 anos), Hélio volta a escrever acerca do quanto a força e a fúria, esses elementos que engendram um estado desintegrado da língua e do pensamento de Torquato, são um projétil em direção a nada, por isso, certamente, lembra de Antonin Artaud: “cura = veneno”. Ainda mais quando há uma discussão inócua de que a literatura pode se lançar a uma facilidade rasa e simplória, galvanizada, de cura (importante lembrar que Gilles Deleuze – que também se matou, e aos 70 anos, num sem saídas da somatização que venceu a guerra do século 20 em torno de uma ideia de “acesso” – já falara na radicalidade de uma saúde, mas nunca de uma cura). Adiante, Hélio, nesse mesmo datiloscrito, lembra que Torquato
não era digno da mesa nem dos “malditos” da nossa paupérrima “casa grande”, ?????, uma espécie de MIDNIGHT RAMBLER atrás da porta e do conforto desconfortável do contentismo suado.
É nessa desintegração, como um significante díspar, que Torquato se desequilibra e, por sua vez, assim, desintegra a linguagem em seus modos de uso e presença. Ele é um assombro que perambula em estado de circunstância política insubmissa, a vagabundagem, ou seja, vida livre e ecológica, sugerindo-a como um jogo de forças contra as inferências sistêmicas e industriais do capitalismo moderno, um ponto de insurgência, uma tomada de posição.
Seu pensamento é uma espécie de imprevisto heteróclito, muito singular, que vai desde vestir-se de Nosferato num filme de Ivan Cardoso (Nosferato no Brasil, 1971), por exemplo, ou em optar por uma fotografia do rosto de Jean-Luc Godard – com a legenda “Poeta. Nunca teve medo de quebrar a cara.” – , quando reclama, em sua coluna Geleia Geral, 14 de setembro, 1971, terça-feira, intitulada Pessoal Intransferível, qual a tarefa política para o poeta: “estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela”, “quem não se arrisca não pode berrar” e, num matadouro, quem berra primeiro é o homem mesmo se for um boi.
O poeta, para Torquato, é Godard, o cineasta francês que jamais aboliu a convulsão da luta de classes ao perceber que, muito mais, numa opressão da história, estamos diante da luta das imagens e com as imagens: recuperar, retratar e restituir exatamente quando a linguagem se inclina a fingir-se de morta imitando um inseto. Godard sempre reage, “faz filmes como quem não tem nada a perder”, disse dele François Truffaut. Tudo o que foi pensado e escrito por Torquato vai num sentido sem direção, um desalinho, no mínimo, mas muito mais, como ele mesmo indicara, ou Hélio, para uma desintegração.
É a poeta Renata Flávia, das mais incríveis que se pode ler neste país, agora, ave raríssima, também nascida em Teresina, quem relata que só consegue ler Torquato como um sentido que se espalha para muito além do texto escrito, e tal e qual, reveja-se, como um assombro. Diz ainda que muito jovem estudava o cinema feito no Piauí influenciada por ele e que ali se cunhara a ideia do “espectro Torquato Neto”, e confirma: “acho interessante demais, é uma existência que escapa à própria existência e se ‘fantasmagoriza’, passa a existir aos pouquinhos nos outros, na cidade”.
Depois, estica e diz que há um bairro de trabalhadores, pessoas pobres, um conjunto de pequenos prédios, muito marginalizado criado pelo programa Minha casa, Minha vida, que se chama Torquato Neto: “é como se o fantasma resmungasse a cidade”. E completa:
Como a entrega dos apartamentos demorou, houve invasões, o bairro só ocupa a manchete dos jornais por ser tomado como perigoso, às escuras, abandonado; ao mesmo tempo Torquato Neto é também o nome do Campus principal da UESPI, onde fica a Reitoria. Duas pontas, paralelas, de uma mesma corda que amarra o espectro.
Este espectro lido e apontado por Renata Flávia aparece nesse O fato e a coisa todo “menino” e se desenha numa leniência excessiva – “a marca do meu eu”, “um menino ri”, “menino veste o teu terno”, “a distância que separa eu menino/ de mim desesperado”, “menino chato” etc. – tal como uma condenação.
Importante mesmo é redefinir o documento, nos lembra César Aira, até porque “o escritor é póstumo por natureza” e “escrever é viver, simplesmente, sob a condição de se acreditar não ter vivido.” E são esses os gestos que expandem Torquato Neto, faca só lâmina, de uma mesma guerra que ainda escorre de seu Piauí, do Nordeste desse país, até uma anulação de uma ideia de centro e, assim, de poder.
Quando, por exemplo, curvados, se agradece a visita do vento que vem do sudeste para retirar o pó de um suposto desamparo, sem memória ou lembrança, numa espécie de instituição do mito, afinal se é pobre e se mora longe porque se mora num Piauí desmilinguido. Mas basta reparar-se em Torquato, lição por sua vez apreendida de Drummond, “melancólico/ e vertical”, impondo-se com toda a força furiosa do corpo e do pensamento para dizer que é um contra movimento ao mapa, ou às avessas ou apagado por completo, que se pode rearmar e rasgar o desenho, um Torres García mais severo e mais perto do infraleve de Marcel Duchamp e as máquinas celibatárias.
“Por que escrevi”, “por que ler”, “o que ler” e “por que leio o que leio” são perguntas ativas que reconfiguram a distância, assim, longe mesmo é o muro sudestino quase sempre preconceituoso e bélico, feito de um protofascismo lânguido em direção aos gabirus que todos poderíamos ser, basta ver agora durante a apuração dos votos da eleição presidencial. De fato, cagam e andam a qual-quer que deste Nordeste venha e não lhes aceite pedir a bênção ou lamber as botas, dar a volta em suas cabeças como moscas famintas. Se em 1963 Torquato anota que “o fato é oco”, vá saber se depois não riscaria essa linha, já que foi um discípulo ancestral de César Aira, para anotar que o único fato é o tempo que não há.
Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura da UNIRIO. Publicou, entre outros, A guerra da água (7Letras, 2022), Xenofonte (Cultura e Barbárie, 2021) e O método da exaustão (Garupa, 2020).
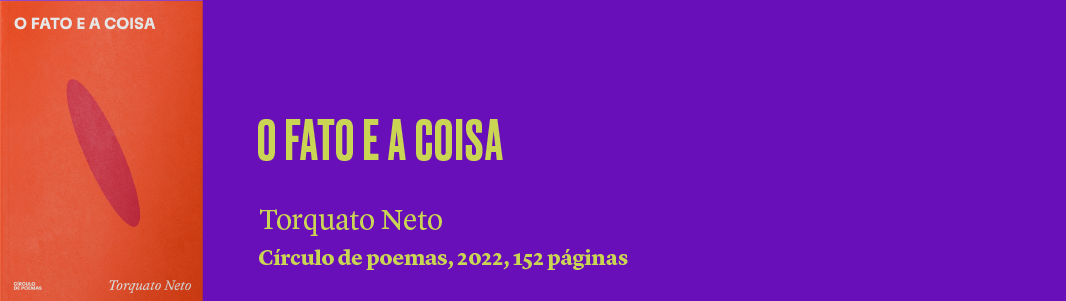
por Redação

Entre as ruas de Paris e do Rio de Janeiro, a literatura e a filosofia, realidade e ficção, leituras do passado, do presente e vivências cotidianas, o narrador de Sophie e os cervos transita indagando sobre a função da arte literária e seus desdobramentos. Às suas deambulações, reflexivas e geográficas, subjaz a busca de ir além, de se aproximar da verdade. “O ser humano constrói-se pelas palavras, mas, às vezes, exige-se delas mais do que podem oferecer”, como escreve o autor no Prólogo, e complementa “Os poetas não escrevem com a intenção de solucionar problema algum, mas são os que mais se aproximam da verdade. A poesia revela o que não se consegue dizer de outro modo”.

Relato do médico francês Fred Sedel, capturado em 1943 por soldados alemães na periferia de Paris e enviado para um campo de concentração na Alta Silésia, na fronteira entre Alemanha e Polônia. Sobrevivente do horror nazista, Sedel retomou sua profissão de médico nos subúrbios parisienses e relatou com precisão as atrocidades nazistas. Como escreve Jean Bernard no Prefácio à edição francesa, incluído nessa edição, além da coragem de sobreviver ao extermínio alemão, Sedel teve outra coragem ao voltar para casa: “juntar suas lembranças, correndo o risco certeiro de avivar feridas malcicatrizadas, a coragem de ordená-las, classificá-las, a coragem de escrever este livro forte e profundo”.










