Sinais de inundação: Safatle e os refugiados da linguagem

arquivo pessoal
.
Nada mais frívolo do que evocar minha emoção, quando se trata de introduzir a futuros leitores/leitoras (ou releitoras) uma obra extraordinária, que faz o pensamento triunfar sobre tantos desabamentos de que presta testemunho – desde logo a ruína da linguagem em que se arma a trama do capitalismo. Capitalismo que se reifica e naturaliza, inscrevendo-se nos sujeitos como medida de realidade, virtude e beleza, confundindo-se – transparente – com a razão, esgotando o campo do possível, abolindo o desejo e a insubmissão revolucionária. Que seja frívolo e impertinente, e desproporcional, considerando-se a magnitude do gesto que deu à luz este alfabeto de colisões, ainda assim ouso convocar aqui essa emoção íntima, fútil, doméstica, tão pequena e débil: a emoção que tantas vezes me impediu de seguir lendo o livro de Vladimir, por um encantamento de que, em meu caso, só a arte fora capaz – um encantamento que é desmesura e perturbação, perturbação que rima com autorização para ousar.
Mas será que eu efetivamente lia? Era leitura, o que o eu-leitor experimentava? Esta é uma obra que se dá a ler? Não sei, e esta foi a primeira hesitação, a primeira oscilação que fez vibrar a corda, estremecer o nervo, imantando seus circuitos e irradiações, a primeira hesitação que entretanto prenunciava o princípio construtivo da obra-fluvial, obra-dilúvio, catástrofe paradoxalmente fecunda, talvez porque a nomeação da catástrofe sem o pudor acadêmico-burguês precipite uma força magnética irresistível.
Hesitação como a ponte que se lança sobre o abismo e se recolhe, não por impotência ou tibieza, não por negar a dimensão da tarefa, não por intimidar-se ante o risco, mas porque a resistência à nomeação – e à metáfora – é também a preservação de espaço para a renomeação do abismo, a renomeação do esforço ponte, do gesto ponte, do cosmos pensado e vivido como ponte e abismo. Hesitar antes de nomear, ou ao nomear, ou como forma de nomeação, nomear e não o fazer – sem esconder o jogo e o que verdadeiramente está em jogo – implica abrir-se para a alteridade radical do que ainda não há, ou seja: o acontecimento. O acontecimento, por exemplo, da reconfiguração do que é pelo desejo político ardente dos oprimidos, aqueles que recusam esta designação (oprimidos), assumem o estatuto de refugiados da linguagem codificada para só assim redescrever o real e seus limites.
Nas palavras de Vladimir: Esperar o acontecimento pode significar “manter-se disponível para o que ainda não existe”. Refere-se ao cineasta italiano Michelangelo Antonioni “falando o que é um acontecimento, a saber, aquilo que não existe, mas que nos faz ficar disponíveis.” E prossegue: “Enquanto todos parecem preocupar-se com o que existe, há quem acredite que o não existente é uma categoria de experiência, na verdade a única categoria que realmente conta”.
Faço aqui uma pausa e tomo a liberdade de citar alguns trechos de meu pequeno livro sobre a Maré – Maré e a longa gestação do novo mundo, People’s Palace Projects, 2021) – que confirmam a tese de Vladimir, a qual, por sua vez, permite que o testemunho popular, pela mediação que proponho, se inscreva num diálogo mais amplo do que aquele em que minha etnografia o situara: no complexo de favelas da Maré (com cerca de 140 mil habitantes e 16 comunidades), a divisa seria a fronteira vigiada entre os territórios sob domínio do Comando Vermelho e do Terceiro Comando (há outro espaço sob domínio da milícia).
Aquilo que soa ambíguo e impreciso em falas vacilantes (sobre a divisa) – ‘é e não é’ − talvez ganhe nitidez e relevância, interpretado sob (novo) prisma. (…) Dizer taxativamente que algo é implica assumir o compromisso com essa existência, que a nomeação consagra e, politicamente, de algum modo, autoriza. Trata-se de um pacto de quem nomeia com o nomeado − nesse caso, com as fontes do medo −, pacto cujo preço é a insensibilidade para a fraqueza dessa demanda de realidade (demanda atendida pelo ato que nomeia), é a insensibilidade para a fraqueza dessa vontade de existência, dessa ambição de mundo. Quem nomeia com o desembaraço da certeza ante evidências furta-se a ver quão débil é o pleito por vir a ser de cada fonte do medo, as máquinas entrelaçadas (que se retroalimentam) do tráfico armado, das milícias e das polícias. Sim, porque o que é precisa vir a ser continuamente, reiterar-se, movimento que comporta o risco de desvio embutido em toda reprodução. O que aparece sob o modo de permanência é insistência reiterada.[…]
Assim, não é necessariamente por medo ou incoerência que tantos entrevistados e tantas entrevistadas oscilam entre admitir o medo e abjurá-lo, confirmá-lo e negá-lo, entre falar da divisa e dos tiroteios e calar […]. O que soa como subestimação da gravidade da violência talvez seja exercício de resistência. Resistência a aderir ao que é como realização plena do que pode ser, como se a versão atual da realidade, tão avara, iníqua e apequenada, esgotasse todas as possibilidades inscritas no real, excluindo potenciais não realizados, mas contidos no que é.
Hesitar talvez corresponda a fazer reverberar os sentidos da realidade, suas implicações e contradições, para além dos recortes e mesmo da censura que os poderes em jogo tentam administrar. […] Não se trata de ser mais ou menos realista ou de adotar o relativismo como abordagem, reduzindo todo enunciado a escolhas legítimas e equivalentes. Trata-se de entender a estética aplicada nessas estratégias de composição das distintas camadas de sentido, conhecimento e afeto, amalgamadas nas percepções e nas experiências que as falas comunicam e silenciam.
Hesitar propõe aos afetos e à imaginação a hipótese de que a realidade seja um continente de possibilidades, entre as quais se incluiriam aquelas incompatíveis com a armadura politicamente consolidada pela modernização conservadora e autoritária de nosso capitalismo periférico. Aqui, vale a redundância: hesitar não designa a indecisão entre dizer e não dizer, mas o movimento ativo que formula uma contradição, atribuindo-a ao real, não a deficiências cognitivas. A coisa é e não é [,] não porque quem enuncia o verbo não sabe se a coisa, efetivamente, é ou não é. A simultaneidade de ser e não ser é aquilo que é, porque o que é traz consigo, nesse caso, para além das evidências positivas, uma alteridade irredutível, que é potencialidade para a ação, que convoca a ação e inscreve a mudança no campo do real. Quando se fala em esperança, é dessa abundância do real, é desse mesmo excesso que se trata. Está aí isso que é e está aí, ao mesmo tempo, a negação disso que é, sendo a segunda realidade aquilo que não se vê porque não se afirmou enquanto prática, e nem por isso deixa de ter presença pela mediação de seus efeitos, por antecipação ou potencialização”.
Volto ao Alfabeto das colisões. Eu citava Vladimir, afirmando que, em suas palavras: “o não existente é uma categoria de experiência, na verdade a única categoria que realmente conta.” Talvez por isso, aí está um livro acontecimento, um livro que funciona como acontecimento, fecundando nossa espera, nos instando a manter nossa disponibilidade para o que ainda não existe, obra cuja arquitetura instável é movimento, e se estende como duração. De alguma maneira, trata-se também de alfabeto musical da fala e do ato de fala, com sua música excessiva, inacabada, vital, que zune, zomba, zoa, aniquila a gramática dos bons modos, as etiquetas, os fetiches, os cânones, exibindo os caninos, os molares, assombrando o respeitável público.
O princípio estrutural do livro, me parece, remete à sua própria e contínua desestabilização. Desde que se dê ouvido à música insidiosa e inaudível desse alfabeto móbile, que subjaz, mas subverte o solo sob os solos, desenraizando-se não por negar-se a admitir seu lugar e sua inscrição histórica em tradições, mas, ao contrário, por admiti-lo, reanimando o universalismo ao denunciar por coloniais as pretensões universalistas.
Recomeço: desde que se dê ouvido a esse rumor de trevas e de sol, rumor que clama pelo coro e apela à sonora desarmonia das coletividades; desde que se dê corda e ouvido, coração e corpo, a essa música tentada, esboçada, ensaiada e abandonada, retomada e interrompida; desde que se ouça esse estranho ressoar de intervalos desastrados em pulsações rítmicas inusitadas; desde que a leitora e o leitor se prestem a escutar o estremecimento do solo, colando os ouvidos na terra, ele, ela e eu perceberemos, enfim, que Vladimir é o médium, o xamã que se deixa atravessar e faz chegar a nós os sinais de uma inundação.
Inundação catastrófica que, a meus ouvidos, ecoou o dilúvio gaúcho, vivido por mim em dupla chave: desastre radical do capitalismo e tragédia particular. Isso porque ambos, livro e cataclismo climático, sintoma da embriaguez do antropoceno, ambos sopram, sussurram, insinuam, infiltrando-se nos pilares de nosso mundo (de pensamento e experiência), ambos minam as ancoragens ontológicas da segurança.
A ilusória segurança ontológica é nossa obsessão porque, suprema hybris, pretendemos exorcizar a instabilidade radical que somos, pretendemos recalcar a irrealização que é o destino do sujeito e da linguagem. O que sussurram o Alfabeto das colisões e o cataclismo gaúcho – esses acontecimentos assombrosos e assombrosamente sincrônicos – é um recado de fato muito simples: não há casa para onde voltar; não há mais origem para reencontrar; não há mais como reconciliar as partes da unidade fraturada numa síntese dialética escatológica; a política está solta no mundo, como a razão e a paixão. Nós perdemos o rumo de casa, sim, não há mais casa para onde retornar – aquela casa que, montando-se como arché, projetava-se como telos, apontando o fim, o alvo, o sentido.
Não é também sobre a errância sem volta que refletem Adorno e Horkheimer na Dialética do esclarecimento? Não é disso que se trata? Viagem negativa, identidade a si fendida, unidade irrecuperável, a Odisseia truncada? Não somos todos desterrados da linguagem, como seremos, mais cedo ou mais tarde, refugiados climáticos?
Não há mais casa para onde voltar, no Rio Grande do Sul, nos domínios do capital, no antropoceno, nem mesmo a casa fissurada de Gordon Matta-Clark, porque nem essas fendas se salvaram da inundação. Se pelo menos fosse possível morrer várias vezes, Vladimir deixa escapar. A catástrofe está sempre além da forma, ainda que ela seja astuciosa o bastante para interpelar seu próprio nome. Não é possível morrer depois do fim; por isso, contrariando o senso comum, autobiografias não existem.
Mas prestem atenção: nem melancolia, nem desespero, não é disso que se trata. O autor agita a linguagem acima de sua cabeça e a faz girar, pondo ali toda energia, como o atleta que prepara o arremesso, até que a velocidade torne indistinguíveis letras, filosofia, literatura, sons, atos, afetos, luta política. Vladimir nos presenteia, a quem o acompanha até o epílogo: imita o gato tecelão, primo dos galos de João Cabral, que tecem, a cada manhã, com os fios de seus gritos, a luz balão: “Ai daqueles que nada querem saber da soberania do que brota no solfejo de nossas filhas. Esses, meus amigos, esses não verão os milagres que, afinal, nunca foram mesmo para os que só conhecem o sol do meio-dia”. Muito bem, esta senha me autoriza a concluir lhes dizendo o seguinte: devolvidos à possibilidade de pensar e agir, individual e coletivamente, entre o dilúvio e o deserto, que tal reaprender a falar?
Luiz Eduardo Soares é escritor, antropólogo e cientista político, professor da pós-graduação em Literatura da UFRJ e ex-professor da UERJ, do IUPERJ e da UNICAMP. Foi visiting scholar nas universidades Harvard, Columbia, Virginia e Pittsburgh. Publicou 26 livros, dos quais os mais recentes são Desmilitarizar; segurança pública e direitos humanos (Boitempo, 2019) e Enquanto anoitece (Todavia, 2023).
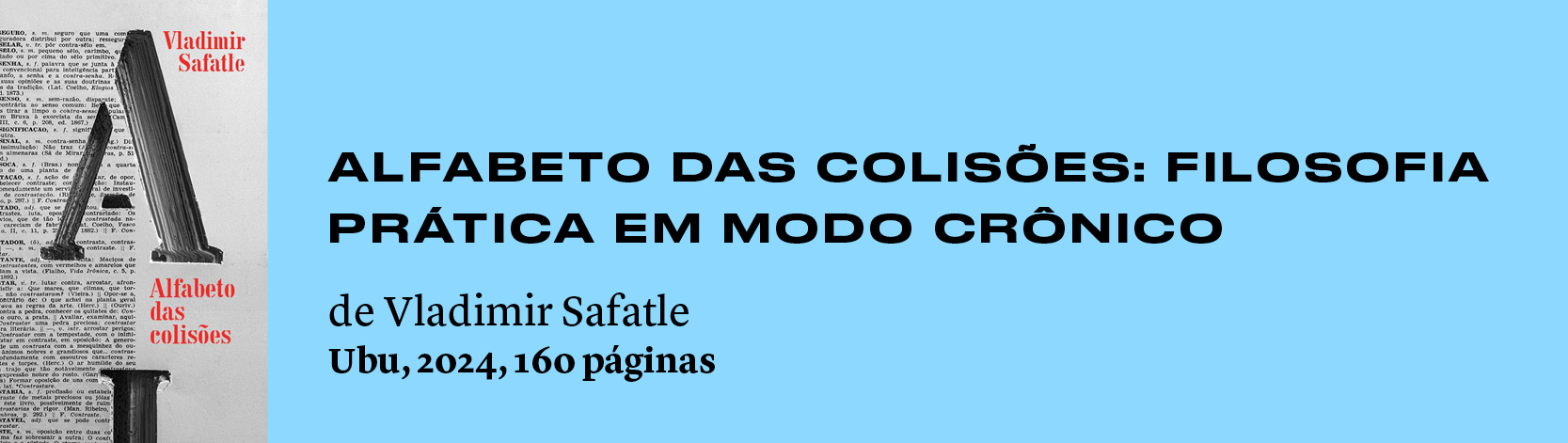
> Assine a Cult. A mais longeva revista de cultura do Brasil precisa de você.










