Literatura e engajamento: “Parque industrial”, de Pagu, e outros lançamentos
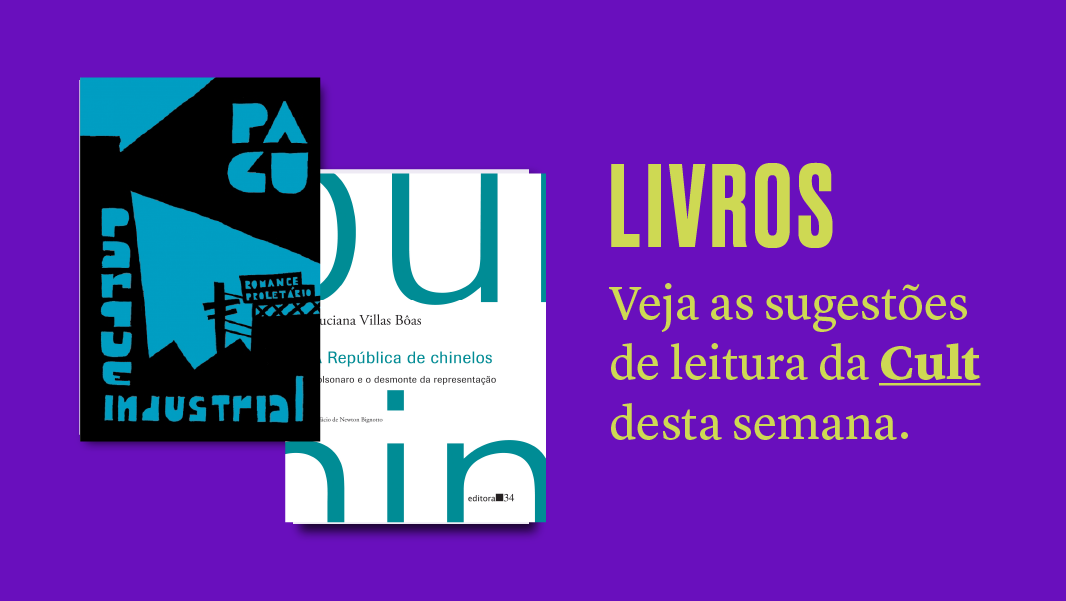
A literatura brasileira é “empenhada” e tem “vocação histórica”, afirma Antonio Candido em Formação da literatura brasileira: momentos decisivos (1959). Em um país jovem e com pouca tradição intelectual como o Brasil, a literatura cumpriu o papel de outras áreas do conhecimento, como a história e a sociologia, e desde cedo os autores e autoras escreveram para a terra, sobre a terra. Mas será que essa característica “prejudica o exercício da fantasia pelo peso do sentimento de missão”? A questão de Candido é particularmente pertinente para os trabalhos de Patrícia Galvão, a Pagu, que dedicou sua vida e obra à causa militante e publicou dois romances.
Em sua juventude, quando ainda era filiada ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), Pagu escreveu o primeiro deles, Parque industrial: romance proletário (1933), que acaba de ser relançado pela Companhia das Letras, no contexto das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A obra retrata a vida de mulheres proletárias no começo do século 20 em São Paulo e traz à luz questões relativas à organização partidária e ao papel dos intelectuais militantes.
Além de sua “vocação histórica”, o romance também é relevante do ponto de vista estético, como destaca Antoine Chareyre em “Uma excelente estreia: a chegada do romance proletário no Brasil” (2018). Colagens, frases telegráficas e diálogos-poema atravessam a obra, assim como outros traços da prosa modernista: o recurso aos flashes e à composição de fragmentos, a linguagem coloquial e as referências sexuais. Com a radicalidade da antropofagia, Pagu constrói um retrato expressivo da realidade urbana de São Paulo no momento de sua industrialização.
Contudo, o tom de Parque industrial incomodou boa parte da crítica e até mesmo a própria Pagu, que anos depois criticou a falta de autonomia do escritor na “literatura social”. Geraldo Galvão Ferraz, filho de Pagu, afirma no prefácio que o valor estético da obra é desigual e talvez seja prejudicado por seu panfletarismo ou pela inexperiência da escritora de 21 anos à época.
Capítulos como “num setor da luta de classes” e “onde se gasta a mais-valia” suscitam esse tipo de crítica, assim como a presença dos personagens Carlos Marx e Frederico Engels na narrativa. O mesmo ocorre em diálogos como aquele em que é explicado “o mecanismo da exploração capitalista”:
– O dono da fábrica rouba de cada operário o maior pedaço do dia de trabalho. É assim que enriquece à nossa custa! […] Mas felizmente existe um partido, o partido dos trabalhadores, que é quem dirige a luta para fazer a revolução social. […] O Partido Comunista.
De fato, o gênero em que se inscreve o livro, o romance proletário, tem claras intenções didáticas. No caso de Pagu, era uma resposta à direção do PCB, que a afastou por tempo indeterminado com a seguinte mensagem: “Espere e prove fora do Partido que continua uma revolucionária. A organização consente que você faça qualquer coisa para provar sua sinceridade, independentemente dela. Trabalhe à margem, intelectualmente”. Pouco tempo depois, apareceu Parque industrial: romance proletário, publicado sob o pseudônimo de Mara Lobo, em edição limitada financiada por Oswald de Andrade, seu companheiro à época.
Muitos aspectos da trajetória pessoal de Pagu estão retratados no romance, como o bairro do Brás, onde cresceu, a Escola Normal, que frequentou como estudante, e a tecelagem Ítalo-Brasileira, onde tomou contato com manifestações operárias de orientação anarquista e socialista. A obra é frequentemente lida como um roman à clef, em que a escritora estaria representada por duas personagens: a normalista Eleonora, que seria uma imagem (crítica) da Patrícia Galvão anterior ao envolvimento político, como uma mulher alienada; e a militante Otávia, que representaria a Pagu engajada politicamente.
É significativa essa autorrepresentação por meio de duas personagens, o que também figura o trânsito de Pagu pelos dois “setores” da luta de classes que aparecem nitidamente contrastados no romance. Criada no “parque industrial” do Brás, a escritora frequentou os salões da burguesia e da intelectualidade paulistana nos primeiros anos de seu contato com o modernismo – cenas que aparecem parodiadas no romance pela personagem Dona Finoca e suas soirées.
A figura masculina mais importante da narrativa, Alfredo, seria Oswald de Andrade. O personagem é caracterizado como “um burguês que oscila” e lê Marx no conforto do Hotel Esplanada. Mais tarde, ele renuncia à burguesia (“este conforto me pesa”) e se proletariza (“finalmente é um proletário. Deixou para sempre a imundície moral da burguesia”). Esse movimento é congruente com aquele que Oswald comenta no prefácio de Serafim Ponte Grande (1933), em que faz uma autocrítica do período em que pensava que o oposto do burguês era o boêmio e não o proletário.
Outra personagem de destaque é Rosinha Lituana, que encarna a militante exemplar e remete a Rosa Luxemburgo. A presença de Rosa no romance, analisada em profundidade por João Carlos Ribeiro Júnior em “Influxos políticos em Parque industrial: a forma literária da dissidência” (2018), pode ser lida como uma crítica à perspectiva leninista, hegemônica no PC. Nessa perspectiva, caberia ao partido e aos intelectuais de vanguarda introduzir a consciência revolucionária no operariado, pois essa consciência dependeria de um conhecimento científico que os trabalhadores não possuiriam.
Rosa Luxemburgo, ao contrário, defendia que a criatividade revolucionária das massas deveria comandar o movimento, em vez de seus dirigentes intelectuais (a intelligentsia, em russo). O verdadeiro sujeito revolucionário seriam as massas que, confrontadas com suas escolhas, erros e acertos, construiriam os caminhos da revolução, rompendo com a separação rígida entre vanguarda e classe.
O “luxemburguismo” também está presente no romance por meio da ênfase na dimensão coletiva do proletariado e da ação política, o que testemunham frases como: “Neste momento todos lutam. Não há indivíduo. São todos proletários!”; “Temos que lutar juntos contra a burguesia”; ou ainda “A multidão torna-se consciente, no atropelo e no sangue”. No trecho em que há uma menção a Luís Carlos Prestes, o proletário Alexandre recusa o “cavaleiro da esperança” como homem providencial e afirma que “Nós os trabalhadores! Os explorados é que precisam fazer a revolução”.
Nesse sentido, ainda que empregue o jargão comunista e tenha clara intenção didática e militante, Parque industrial está longe de ser um livro dogmático, pois se posiciona criticamente em relação às orientações partidárias vigentes. Considerando que o romance era, entre outras coisas, uma tentativa de convencimento da “sinceridade” da autora e de sua adesão às orientações do Partido, a ênfase na figura de Rosa ressalta o traço contestatário de Pagu.
O final do livro também o afasta de uma visão panfletária, na medida em que é anticlimático e distante da apoteose do realismo socialista. A grande manifestação do Largo da Concórdia termina derrotada e o foco narrativo não está em Rosinha Lituana, a mulher-militante exemplar, mas em Corina e Pepe, que compõem a “reserva industrial” (ou o “lumpenproletariado”). A costureira negra é vítima da fome, da pobreza, da exploração e do racismo, e teve que se prostituir para alimentar seu filho. Termina “inconsciente” e “atirada à margem das combinações capitalistas”, em retrato duro da crueldade do altíssimo custo humano da industrialização de São Paulo, que se consolidou por meio da exploração da classe operária, especialmente das mulheres.
Parque industrial é, sem dúvida, um documento precioso para a história da condição feminina e do comunismo no Brasil. Contudo, o enorme interesse histórico não deve ocultar as qualidades literárias da obra. Com ela, Pagu se inscreve no modernismo brasileiro de modo singular: posiciona-se no cruzamento entre a primeira geração – de 1922, que revolucionou a literatura, ao implodir as formas – e a segunda, de 1930, que introduziu na literatura o tema da revolução social. Antecipa, ademais, o próprio Oswald de Andrade, que apenas depois de Pagu passou a incluir o comunismo como tema de sua produção literária.
Jonas Tabacof Waks é graduado em filosofia (USP), mestre em educação (UBA/Argentina) e doutorando em filosofia da educação (USP e Paris 8/França).

por Redação
 Reflexão sobre o lugar do simbólico e do imagético na política, em especial a brasileira. A análise parte das repetidas ações de Bolsonaro, que ignora a liturgia do cargo de presidente da República e quebra seus protocolos. Aparecer de chinelos no Palácio da Alvorada, deixar-se filmar na área de serviço ou fazer pronunciamentos de baixo calão seriam, na leitura da autora, a forma de funcionamento desse governo, em que os próprios políticos repudiam a lógica da representação. No segundo ensaio do livro, “Armas sobre urnas”, Luciana Villas Bôas continua a investigação sobre o lugar da democracia na contemporaneidade, mas focando a relação das armas com a iconografia política recente. Completa a edição um prefácio de Newton Bignotto.
Reflexão sobre o lugar do simbólico e do imagético na política, em especial a brasileira. A análise parte das repetidas ações de Bolsonaro, que ignora a liturgia do cargo de presidente da República e quebra seus protocolos. Aparecer de chinelos no Palácio da Alvorada, deixar-se filmar na área de serviço ou fazer pronunciamentos de baixo calão seriam, na leitura da autora, a forma de funcionamento desse governo, em que os próprios políticos repudiam a lógica da representação. No segundo ensaio do livro, “Armas sobre urnas”, Luciana Villas Bôas continua a investigação sobre o lugar da democracia na contemporaneidade, mas focando a relação das armas com a iconografia política recente. Completa a edição um prefácio de Newton Bignotto.
 Novo livro de poesia do escritor mineiro Adriano Menezes, que reúne poemas inéditos e outros escritos nos últimos anos e publicados em redes sociais, antologias e revistas. São 22 poemas em que, como nota Alexandre Agnolon na apresentação da obra, misturam-se a “leveza dos vapores da memória”, “a vida passada que se incrusta no anacronismo das ladeiras de pedra e […] nas frestas-janelas da Minas histórica” e “o caráter inapreensível do mundo”. Tais características marcam uma certa poesia feita de “elipse” e “inconstância semântica”, ainda nas observações de Agnolon. Com o olhar característico da poesia moderna, Adriano Menezes mistura às ruas e às memórias mineiras a “lira do vinoso Horácio e do satúrnio Cláudio”, finaliza Agnolon.
Novo livro de poesia do escritor mineiro Adriano Menezes, que reúne poemas inéditos e outros escritos nos últimos anos e publicados em redes sociais, antologias e revistas. São 22 poemas em que, como nota Alexandre Agnolon na apresentação da obra, misturam-se a “leveza dos vapores da memória”, “a vida passada que se incrusta no anacronismo das ladeiras de pedra e […] nas frestas-janelas da Minas histórica” e “o caráter inapreensível do mundo”. Tais características marcam uma certa poesia feita de “elipse” e “inconstância semântica”, ainda nas observações de Agnolon. Com o olhar característico da poesia moderna, Adriano Menezes mistura às ruas e às memórias mineiras a “lira do vinoso Horácio e do satúrnio Cláudio”, finaliza Agnolon.
 O fracasso do Ocidente em lidar com questões humanitárias básicas – como saúde, educação, desemprego e pobreza – é o ponto de partida do livro. No enfoque de Ana Mariza Vidal, que é psicóloga, a experiência cristã seria um dos fatores transformadores do mundo e das pessoas. A autora ilustra essa ideia, bem como intitula a obra, a partir da contenda de dois sacerdotes do século 5: Pelágio e Santo Agostinho. Enquanto o primeiro defendia a suficiência da moral cristã para moldar o ser humano, o segundo acreditava mais na proximidade individual com a graça divina do que nos dogmas da Igreja Católica Romana. Para a autora, um dos problemas do mundo contemporâneo seria o desenvolvimento de um cristianismo próximo ao de Pelágio, e não de Santo Agostinho. Outra fonte de inspiração da obra é a pedagogia de Paulo Freire, com quem a autora conviveu na adolescência em Recife.
O fracasso do Ocidente em lidar com questões humanitárias básicas – como saúde, educação, desemprego e pobreza – é o ponto de partida do livro. No enfoque de Ana Mariza Vidal, que é psicóloga, a experiência cristã seria um dos fatores transformadores do mundo e das pessoas. A autora ilustra essa ideia, bem como intitula a obra, a partir da contenda de dois sacerdotes do século 5: Pelágio e Santo Agostinho. Enquanto o primeiro defendia a suficiência da moral cristã para moldar o ser humano, o segundo acreditava mais na proximidade individual com a graça divina do que nos dogmas da Igreja Católica Romana. Para a autora, um dos problemas do mundo contemporâneo seria o desenvolvimento de um cristianismo próximo ao de Pelágio, e não de Santo Agostinho. Outra fonte de inspiração da obra é a pedagogia de Paulo Freire, com quem a autora conviveu na adolescência em Recife.










