Matheus Guménin Barreto: com fúria, a alegria (ainda)
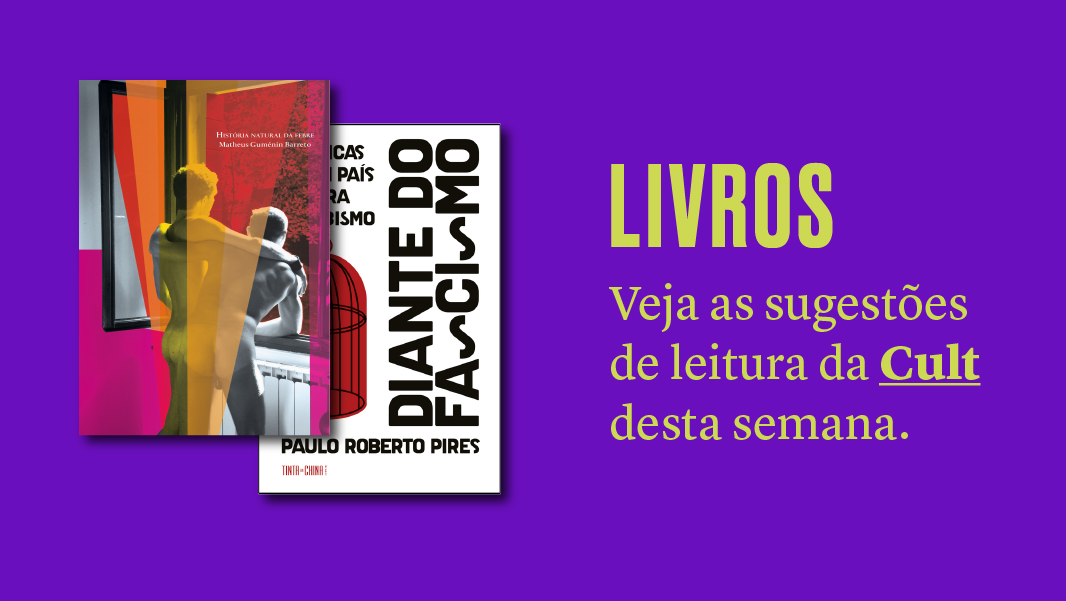
.
Em História natural da febre (Corsário Satã, 2022), Matheus Guménin Barreto nos apresenta uma poesia comovente, na qual o exercício laborioso da escrita e a ancoragem numa formação artística versátil articulam-se em favor do desejo de apreensão da concretude das coisas, dispostas neste momento incerto que chamamos de contemporâneo. Se, desde sua estreia em A máquina de carregar nadas (7Letras, 2017), o autor já explorava com desenvoltura uma ampla gama de procedimentos estilísticos, mapeando diversas formas de nomear (e ser nomeado), parece-me que essa exploração se intensificou em seu novo livro, produzindo uma poética que se quer tangível, rente ao mundo sensível, incluindo a própria linguagem como experiência sensorial:
maçã
palavra melhor do que a fruta maçã
tátil nome
sujo de sol e de manhãs de domingo nome
sujo de expectativas possíveis (ainda) (não mais)
tátil nome sob a língua
A materialidade da palavra “maçã”, com vogais abertas e sonoridade nasal, possui uma força expressiva que ultrapassa a “fruta maçã”, carregando consigo uma sujeira que remete, por sua vez, a pequenos lampejos de alegria: “sol”, “manhãs de domingo”. Se os advérbios entre parênteses no penúltimo verso colocam sob suspeita as “expectativas possíveis” – entre a sobrevida do “ainda” e a desistência do “não mais” –, isso não impede que a palavra afague a memória de quem a saboreia, “tátil nome sob a língua”.
É com esse gesto dúbio, mas recorrente, que Matheus opera seus instrumentos, trazendo consigo o anseio de construir, com palavras, um lugar de aconchego, como em “Só hoje” (“Um poema no qual se possa entrar/ com roupa de estar em casa”). Não à toa, as duas primeiras seções do livro repetem a locução “das alegrias” (“das alegrias: as possíveis” e “das alegrias: manual do homem com o homem”), sugerindo que a poesia continua sendo, apesar de tudo, um espaço para o genuíno:
A mão que arde no arbusto
é a mesma
que arde no sexo do amado e a mesma
que arde na areia e na espuma.
A mão que arde no sexo do amado
é a mesma que faz a cama com vagar
entre paredes altas
mais alto o ardor branco da cama feita, apaziguada.
A mão que arde no branco da cama
é a mesma que limpa o pus e a mesma posta contra a luz de relâmpagos
à noite
a mesma que abre o pão é a mão a mesma.Em cada coisa o vagar, em cada coisa o furor mudo.
Com os sentidos abertos, o sujeito experimenta o mundo, mediado por seu próprio corpo – que sente, reflete e escreve. Afinal, é a metonímica “mão”, atenta ao prazer e ao cuidado, que permite a descoberta do “furor mudo” das coisas, plasmado no movimento conscientemente redundante de composição do poema (“A mão que… é a mesma que… e a mesma que…”). Vale mencionar, aliás, que a redundância é um dos componentes mais fundamentais de História natural da febre, uma vez que sua presença estrutural no livro conjuga as pretensões de “rigor & vertigem” ambicionadas pelo poeta (“o sonho de repente interrompido pelo fruto: o fruto: o fruto:”).
A repetição insistente de sintagmas revela, por vezes, certa irritabilidade com os limites da linguagem, que mortifica a experiência (“adriático –/ chispa/ gelada e azul/ a palavra.”) e, ao mesmo tempo, enfatiza a importância dessa mesma linguagem como recurso vivo, capaz de dar alguma forma aos fenômenos experimentados (“adriático adriático adriático –/ nome de mar, de hotel,/ de mudez?”). E esse aparente paradoxo é a força motriz do livro, que se mantém numa tensão irresoluta entre projeto e realização:
tatear à procura do
chão morno, circular.
tatear a obra só prometida
que talvez não se cumpra.
tatear o espelho
e não achar os olhos com que olha.
Nesse processo deliberadamente instável, a morna delícia de experimentar as palavras – em sentido, sobretudo, erótico – se choca, muitas vezes, contra o “vento frio” do momento presente, engendrando uma má consciência que comparece, por exemplo, em “Elegia tardo-capitalista”:
O corpo morno ainda de certos beijos
enquanto a Muralha da China se aponta ao vento frio
Brumadinho fede a dólares
a Ponte Sérgio Motta sombria é só Ponte Sérgio Motta sombria
e desconhecida.O corpo morno ainda de certos beijos
mais lembrados que feitos, mais pensados que consumados
no ardor roxo e vermelho das quase 18 horas de uma capital brasileira
enquanto em São Paulo uma casa é uma tira de papelão
e molhado
e um tiro é dado e um tiro é recebido em Bangkok ou São Petersburgo ou Huambo ou
Itanhaém.
(…)
Das chispas entre o conforto, quase sempre impossível, e o confronto, quase sempre inevitável, surgem os melhores poemas de História natural da febre. Ora com fúria (“anoto, imbecil, em um poema/ anoto, imbecil, em um livro”), ora com carícia (“Falar-lhe baixo, com carinho/ Salvar salvar o que salva”), Matheus incendeia seus amores e seus rancores, escancarando possíveis nexos entre o mais íntimo e o mais estranho. Em outras palavras, parafraseando uma observação de Patrícia Lino no posfácio do livro, a poesia de Matheus conserva e desfaz, linguisticamente, a si mesma, expondo-se inteira nesse vaidoso sacrifício – formalizado, por sua vez, na ocorrência de diversos fragmentos soltos (“arder de agoras”), estilhaços de poemas, que permeiam as páginas do livro.
Estamos, em suma, diante de uma obra que reconhece, na destruição em curso, aquela famigerada catástrofe única, na qual os espoliados de todos os tempos são espezinhados e cujo saldo, até agora, é apenas a “vitória ambígua do tempo,/ vencedor e coisa vencida,/ cavaleiro e cavalgadura, edifício e ruína:// onda e espuma”. E, no entanto, apesar da reconhecida exaustão (“cansados e feridos/ todos”), as palavras de Matheus ainda palpitam, revirando o armazém das formas poéticas para, quem sabe, “arrancar futuro/ à alegria” – como no singelo arremate de “Domingo de praia”:
A tarde adiante
ainda nem vinda
já morre esbatida
no muro do cais.
………………….(Mas, morta a promessa,
………………….a noite a refaz).
Renan Nuernberger é escritor e professor. Como poeta, publicou Mesmo poemas (Sebastião Grifo, 2010) e Luto (Patuá, 2017).

por Redação

Reunião de 34 crônicas que o jornalista Paulo Roberto Pires publicou em diferentes revistas, entre 2018 e 2022, comentando a ascensão de Bolsonaro à presidência e os diversos desmandos e desgovernos do dia a dia do atual governo à la Ubu Rei. Para isso, o autor passa por diferentes acontecimentos do período, mas com um foco nas “personagens gelatinosas, invertebradas”, que Pires molda “numa feliz, deliciosa alegoria […]: o – ou a – ISP, ‘Intelectual Sem Posição”, como escreve Bob Fernandes na apresentação da obra. Afinal, o papel exercido pela intelligentsia brasileira diante do facismo é um dos temas centrais de suas crônicas, ao mostrarem “o papel de jornalistas, gestores culturais, políticos, professores, colunistas e outros intelectuais que contribuíram para o mergulho no abismo da extrema direita”, como registrado na orelha da obra.

No romance de estreia de Jessica Cardin, acompanhamos a paixão de Heitor, professor de literatura, por sua aluna Heloise, de 25 anos, que narra suas desventuras amorosas e o envolvimento em uma relação que se mostra cada vez mais violenta e opressiva. A obra é dividida em duas partes, “Mãe” e “Fabíola”, melhor amiga da protagonista, que são as mulheres a quem Heloise dirige suas memórias, reflexões e relatos sobre seu relacionamento. Com uma prosa lírica que flerta com a poesia, Para onde atrai o azul “lança os leitores para o que pode haver de mais hostil na paixão”, traçando a “anatomia delicada de um relacionamento abusivo”, nas palavras de Mariana Salomão Carrara, que assina a orelha do livro.









