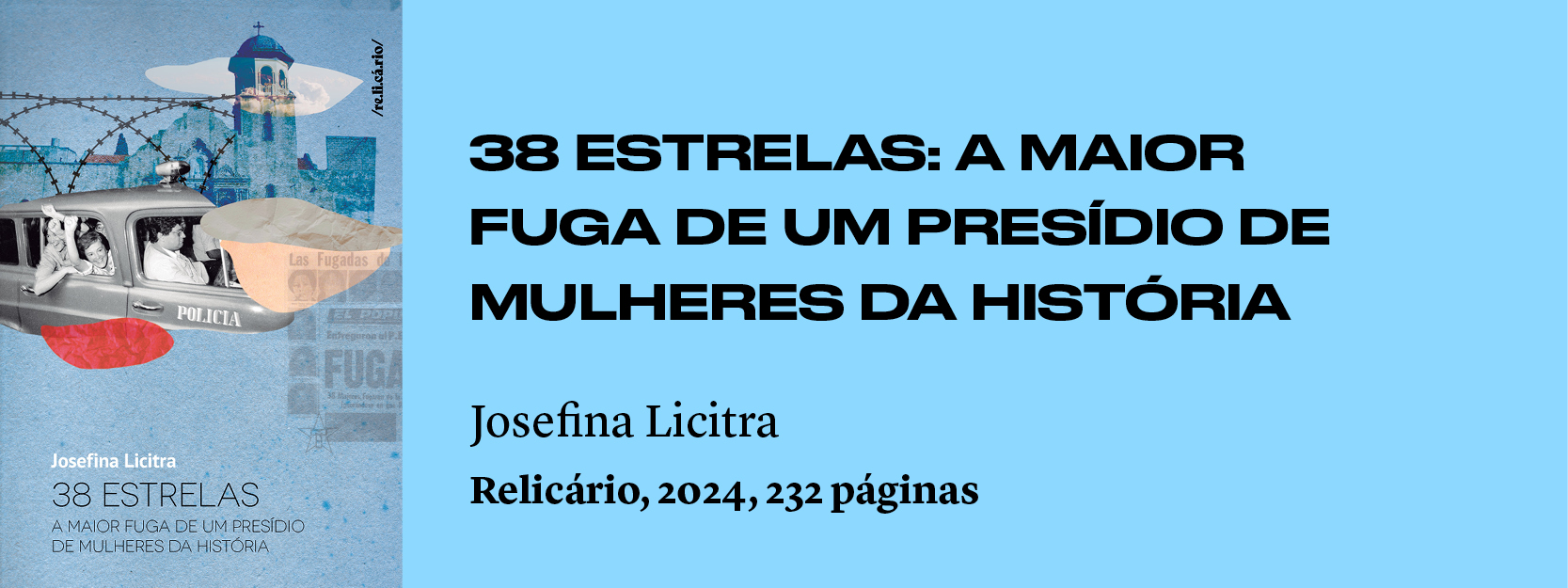Josefina Licitra e o silêncio sintomático sobre o caso das “38 estrelas”

No dia 30 de julho de 1971, um buraco se abriu no centro da cela de presas políticas da prisão de Cabildo, em Montevidéu, dando início à maior fuga planejada em um presídio feminino da história, que libertou 38 mulheres. Preparada por meses, a ação foi executada pelo Movimento de Libertação Nacional Tupamaro, grupo de guerrilha da esquerda uruguaia.
Durante mais de cinquenta anos, esse episódio da história do Uruguai ficou relegado ao esquecimento, até que chegasse aos ouvidos da jornalista argentina Josefina Licitra por meio de Lucía Topolansky, esposa do ex-presidente Pepe Mujica, que havia sido libertada da prisão de Cabildo. Ambos haviam militado no movimento tupamaro na juventude.
Josefina conta que foi ao Uruguai para fazer um perfil de Mujica, quando sua esposa mencionou brevemente o ocorrido “como forma de introduzir um outro assunto”: “Imaginei que talvez ela já tivesse falado tanto sobre o ocorrido que o evitava por tédio ou até cansaço. No entanto, depois da entrevista, comecei a pesquisar na internet sobre essa fuga, porque o tema me parecia muito interessante. Foi aí que percebi que não havia muitas informações disponíveis, o que só aumentou meu interesse”, diz.
A esse episódio, seguiu-se um extenso trabalho de registro dos depoimentos dessas mulheres, que resultou no livro-reportagem 38 estrelas: A maior fuga de um presídio de mulheres da história, lançado pela editora Relicário, com tradução de Elisa Menezes. Josefina acredita que o silêncio no qual o episódio parece estar envolto revela um sintoma de como a memória coletiva e as sociedades funcionam ainda hoje a partir da exclusão e inferiorização das mulheres.
“A trama carcerária me pareceu uma porta de entrada para contar algo muito mais universal e permanente do que a própria fuga, porque nem todas nós fugimos de uma prisão, mas acredito que todas já sentimos, em algum momento, a sensação de não sermos suficientemente reconhecidas”, diz.
Em entrevista à Cult, concedida por telefone no último dia 18, Josefina, no Brasil para o lançamento de seu livro, falou sobre o caso das 38 estrelas, sobre a política de memória em relação à ditadura no Uruguai e sobre o espaço que ocupa o jornalismo literário hoje.
A que você atribui o esquecimento no qual a história das 38 estrelas parece recair até os dias de hoje?
Demorou bastante para eu entender qual era o motivo desse esquecimento. Uma possibilidade era que as próprias mulheres não se lembravam do que haviam feito de forma épica. A outra, na qual passei a acreditar depois de falar com elas e tentar reconstruir esse episódio dentro daquela época, é que essa fuga foi tomada como um evento menor em comparação, porque, dois meses depois, ocorreu uma fuga maior em uma prisão masculina, envolvendo 111 detentos em Punta Carretas. Essa fuga entrou para a história como um recorde Guinness e, no final, acabou apagando a importância da fuga feminina, que também teve um caráter extraordinário. Contudo, não atribuo esse esquecimento apenas a essa questão de tamanho, mas também ao fato de que qualquer ação protagonizada por mulheres naquela época não era considerada tão relevante quanto uma protagonizada por homens.
Parece um clichê, mas, aos poucos, fui chegando a essa conclusão, de que houve razões de gênero para esse apagamento. Isso não necessariamente vinha do movimento Tupamaro ou da esquerda, mas o movimento respondia aos parâmetros da sociedade como um todo. Naquela época não havia uma correspondência igualitária entre homens e mulheres. O movimento poderia ter tido elementos de vanguarda ou não — o que é discutível em termos políticos —, mas, sem dúvida, não era vanguardista em termos sociais. Ele era tão conservador quanto a sociedade da época.
Por esse mesmo motivo, creio que tenha sido importante ouvir os relatos das protagonistas dessa fuga.
Sim, foi fundamental. No começo, eu não sabia se elas queriam falar. Mas, na verdade, não foi assim; elas falaram sem problemas. Contactei as primeiras envolvidas, e, depois, essas primeiras me colocaram em contato com as demais, e consegui entrevistar 15 das 38 mulheres. O restante não foi entrevistado porque, em alguns casos, já haviam falecido — são mulheres que hoje têm entre 65 e 85 anos — ou porque estavam fora do país, e quando fiz a pesquisa, o Zoom ou o Meet ainda não eram populares. Foi uma época pré-pandemia. Então, fiquei com essas 15.
O que me chamou a atenção ao falar com elas foi o relato tão fresco que tinham. Como nunca haviam contado a história publicamente, talvez a tivessem contado apenas no âmbito familiar ou na intimidade, mas não em um espaço público. Por isso, o relato não estava automatizado. Cada uma delas tinha uma lembrança muito vívida, muito fresca, pouco moldada pela repetição. Às vezes, quando alguém conta a mesma história muitas vezes, esse relato começa a se tornar mais rígido e mais confortável como efeito da repetição.
Essas características não estavam presentes nas palavras delas. E, por outro lado, como não haviam dado entrevistas conjuntas ao longo dos anos, também havia divergências na memória entre elas. Os detalhes variavam muito de uma para outra. Algumas, por exemplo, lembravam que a comida servida pelos guardas antes da fuga era arroz à cubana, outras acreditavam que a comida era outra. Havia muitas divergências, a ponto de que, para fugirem, todas formaram uma fila para escapar por dentro do buraco cavado até a cela delas; eu nunca consegui reconstituir completamente a ordem dessa fila, exceto pelos quatro primeiros lugares, que estavam reservados às figuras mais fortes do movimento. Ninguém se lembrava bem do restante dos lugares da fila: quem foi na frente de quem.
Para mim, havia uma hierarquia importante a ser resgatada nessa fila, mas nunca consegui reconstituí-la por completo, porque as lembranças variavam muito entre elas. Esse trabalho de reconstituição foi muito significativo não apenas para a história da fuga, como para entender como o próprio relato era atravessado pelas biografias delas e tudo o que pode ter moldado essa memória ao longo das décadas.
Como viveram as mulheres retratadas no livro após a fuga? E após o fim da ditadura?
Depois da fuga, a maioria delas voltou a ser presa. Algumas, meses depois; outras, anos mais tarde. Algumas poucas escaparam da prisão porque se exilaram. A fuga ocorreu tecnicamente durante uma democracia no Uruguai. Mas era uma democracia muito particular. Seria como uma “democradura” hoje. Entretanto, a prisão em Punta de Rieles, na qual a maioria delas foi encarcerada novamente, já era uma prisão na ditadura. Lá o cárcere foi bem mais árduo. Houve onze mulheres que foram retiradas da prisão e levadas para um sistema onde elas foram mantidas como reféns junto a nove homens, entre eles Pepe Mujica. Elas ficaram nessa condição durante 12 anos.
Essa história é mais conhecida porque foi tema do filme Uma Noite de 12 Anos, que conta esse encarceramento. No caso das mulheres, elas foram levadas em “rondas” por diferentes quartéis, sendo movidas de um para outro. Foram torturadas, violadas, e abusadas sexualmente. Quando a ditadura terminou, em 1985, os reféns foram libertados, junto com outros presos. Os nove homens encarcerados deram uma coletiva de imprensa para a qual as mulheres não foram convidadas. Foi uma coletiva apenas para homens.
Então, o que posso dizer é que as mulheres viveram o pós-fuga de uma maneira tão dolorosa, dura, complexa e perigosa quanto os homens militantes. A única diferença é que a história oficial as deixou de fora. Existe, no entanto, um livro chamado Las Rehenas, que trata justamente da história das 11 mulheres que foram reféns. Algumas delas, como Pepe Mujica, assumiram cargos públicos em nível municipal e nacional.
Como a sociedade uruguaia tem lidado com a memória da ditadura no país?
É difícil para mim falar sobre isso porque sou argentina e sinto que foi uma ousadia contar essa história de um país vizinho como o Uruguai. Tive que aprender muito, ler muito para me aprofundar, e, mesmo assim, sinto que estou falando com uma autorização limitada, porque não é o meu país.
A autocrítica da esquerda uruguaia surgiu nas entrevistas que fiz para este livro, mas também vi isso em Pepe Mujica e Eleuterio Fernández Huidobro, seu ministro do Interior. Eles foram figuras que tentaram recompor a relação da esquerda com as Forças Armadas e fizeram uma revisão crítica de seu movimento. Acho que, nesse sentido, o Uruguai conseguiu curar o passado de uma maneira mais inteligente do que, por exemplo, a Argentina, o que faz com que não tenham governos de extrema-direita como nós temos aqui. Isso aconteceu porque houve uma certa astúcia em assumir os próprios erros.
Pode dar um contexto do que os tupamaros significaram para a história uruguaia?
Acredito que foi um movimento muito inteligente na construção de uma narrativa. Foi um dos primeiros movimentos ou setores políticos que deram à narrativa um papel fundamental. Eles eram muito poucos, cerca de 5.000 militantes ativos, mas conseguiram repercussão mundial porque adotaram uma lógica de “Robin Hood” em suas ações. Essa ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres é uma parábola, um clichê, mas eles a sustentaram o tempo todo enquanto estiveram ativos. Graças a isso, os tupamaros conquistaram a confiança popular, de modo que, eventualmente, se um tupamaro estivesse fugindo pelos telhados durante uma operação policial, os vizinhos abriam as portas e os deixavam entrar.
Havia muita solidariedade e apoio ao movimento. Embora haja pessoas que hoje estejam cansadas da retórica de Pepe Mujica e que o critiquem por má gestão econômica ou por acreditarem que o país poderia estar melhor do que está, creio que o legado da esquerda no Uruguai é uma relação muito coerente entre discurso e o tipo de país a que aspiram. Essa coerência também está na forma como vivem os políticos atuais que um dia foram tupamaros e que, até hoje, de certa maneira, se consideram tupamaros. O estilo de vida daqueles que foram parte do governo Mujica, que militavam nos anos 1970, é profundamente e comoventemente austero. Eu conheci as casas deles, e vivo melhor que eles, sendo uma pessoa de classe média. São pessoas que vivem exatamente o que pregam.
Independentemente de quão eficientes foram no exercício do poder institucional ou na gestão do governo, acredito que é inegável que eles não ficaram com um centavo que não lhes pertencesse. Eles são um exemplo único e aspiracional do que é o progressismo. Insisto que o que deixaram no Uruguai foi essa relação coerente entre palavras e ações. Gostaria que isso fosse imitado em todos os países. Basta ver como vive Pepe Mujica. Não sei se existe outro ex-presidente que viva em uma casa tão simples quanto a dele. O que me importa é que ele acredita no que propõe. Acho que há muito a aprender com isso.
Como eram as condições dessas mulheres na prisão? A ditadura uruguaia aderiu à tortura? -Pode compartilhar um pouco dos detalhes técnicos de como as presas conseguiram fugir?
As mulheres na prisão de Cabildo tinham um modo de vida diferente das prisões de detentas comuns. Era como uma grande casa, com uma circulação interna relativamente livre. Não era como se cada uma tivesse sua cela e precisasse pedir permissão para entrar ou sair. Elas circulavam livremente entre os quartos coletivos, tinham uma área comum onde tinham aulas, faziam refeições, se exercitavam, conversavam ou estudavam, entre outras atividades.
A fuga delas se deu “de fora para dentro”, ou seja, um túnel foi construído começando a cerca de 1.300 metros da prisão, em uma casa alugada, chamada de “casa de cobertura”. Nessa casa, vivia uma família. Era aparentemente uma “família típica” composta por um casal de tupamaros que levava uma vida convencional. Não está claro se eles tinham um filho ou não, mas há a possibilidade de que sim, o que reforçava a imagem de uma família comum.
Em um dos quartos da casa, começou a ser cavado um túnel de aproximadamente 18 metros, que conectava com uma rede de esgoto, que seguia por cerca de um quilômetro até se aproximar da prisão. Dali, foi cavado outro túnel que desembocava diretamente no pavilhão das presas políticas. O plano era que as prisioneiras descessem por esse túnel, caminhassem pelos esgotos e subissem pelo outro túnel para aparecer dentro da casa de cobertura. Lá, elas trocavam de roupa, recebiam documentos falsos, um pouco de dinheiro, uma arma e roupas limpas, e saíam para a rua.
Para que isso fosse possível, foi necessário criar uma planta detalhada do interior da prisão, já que havia o risco de cavarem no local errado e o buraco aparecer, por exemplo, na sala da administração da prisão. Então, com fitas métricas que as presas usavam para costura e outras tarefas consideradas “femininas”, Marta Avella, uma das tupamaras que era arquiteta, fez o mapa interno da prisão. Ela o desenhou em pequenos papéis de seda usados para enrolar cigarros, que foram dobrados repetidamente até se transformarem em pequenas cápsulas. Essas cápsulas eram passadas durante as visitas de familiares, advogados ou, eventualmente, de algum companheiro que estivesse livre.
Isso permitiu que o mapa da prisão fosse construído no lado de fora, fazendo com que, na hora de cavar o buraco, ele fosse feito no local exato, que era um dos quartos do pavilhão das presas políticas. Às dez e meia da noite do dia 30 de julho de 1971, o buraco foi aberto e as prisioneiras fugiram por ali.
Como foi, como jornalista, achar essa história que desperta tanto interesse? Parecia que estava esperando para ser contada.
Eu fui ao Uruguai como jornalista para fazer um perfil de Pepe Mujica. Durante essa tarefa, conversei com várias pessoas que o conheciam muito bem. Uma delas foi Lucía Topolansky, que naquela época era senadora e, de certa forma, uma espécie de “primeira-dama”, mesmo que essa figura não exista oficialmente no Uruguai, pois ela é a parceira de Mujica. Ao entrevistá-la, Lucía mencionou de forma muito breve a fuga da prisão, mas como uma forma de introduzir outro assunto, sem querer se aprofundar muito.
Isso me chamou a atenção, pois imaginei que talvez ela já tivesse falado tanto sobre o assunto, e o evitava por tédio ou até cansaço. Como a entrevista era focada em Pepe Mujica e eu tinha pouco tempo, segui com os temas principais da conversa. No entanto, depois da entrevista, comecei a pesquisar na internet sobre essa fuga, porque o tema me parecia muito interessante. Afinal, era uma fuga da qual havia participado a primeira-dama do Uruguai, uma mulher com uma trajetória política consolidada. Eu queria saber mais sobre isso. Foi aí que percebi que não havia muitas informações disponíveis, o que só aumentou meu interesse.
Meu primeiro aliado nessa busca foi Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, para a qual eu escrevia com bastante frequência. Tenho uma relação muito boa com ele, e ao contar essa história, ele me incentivou: “vamos fazer uma reportagem sobre isso, vá para o Uruguai.” Então, fui ao Uruguai novamente, dessa vez mais focada em descobrir se as mulheres envolvidas na fuga estariam dispostas a falar. Conversei novamente com Lucía, desta vez especificamente sobre a fuga. Foi aí que percebi que esse material não só servia para o artigo da Piauí, mas que poderia se transformar em uma pesquisa muito maior, com potencial para virar um livro.
O que uma história precisa ter para ser uma boa história? Como se encontra uma boa história?
Bem, eu acho que, em primeiro lugar, uma história precisa ter uma boa trama, ou seja, coisas precisam acontecer. No caso dessa história, a trama estava presente na forma de de uma história policial. Fugas geralmente têm muitos pontos de virada, momentos de inflexão que permitem que a narrativa avance, sempre trazendo algum acontecimento novo que muda o curso dos eventos e faz o leitor se questionar se a fuga será bem-sucedida ou não. Enfim, há uma trama que ajuda a sustentar todo o resto que queremos transmitir.
A trama é como uma estrutura robusta que mantém o restante em pé. E o que me parecia interessante além disso era essa questão do silêncio que envolvia essa história — um silêncio que me parecia sintomático, um reflexo social de como as sociedades ainda funcionam hoje, sem uma igualdade plena entre homens e mulheres. A trama carcerária me pareceu uma porta de entrada para contar algo muito mais universal e permanente do que a própria fuga, porque nem todas nós fugimos de uma prisão, mas acredito que todas já sentimos, em algum momento, a sensação de não sermos suficientemente reconhecidas.
Acredito que uma boa história precisa ter isso. Uma boa trama, claro, mas também algo que vá além da anedota e permita refletir sobre um estado de coisas que, de alguma forma, queremos questionar.
Como você situa o jornalismo literário no contexto atual? É possível contar histórias em um mundo de notícias cada vez mais aceleradas e rasas?
Essa é uma grande questão porque, a maior profusão de notícias rápidas e superficiais é uma boa oportunidade para que o jornalismo literário ganhe terreno e modifique a si mesmo como uma forma de jornalismo que pede tempo, análise e uma relação mais responsável com o texto. O momento que estamos vivendo é ideal para esse tipo de jornalismo.
Porém, os jornais dão pouco espaço para esse tipo de jornalismo. Os jornalistas têm liberdade para ir atrás de pautas interessantes, mas frequentemente eles têm de se autofinanciar, porque o pagamento para esse tipo de histórias é muito baixo. Em geral, também não se destina muito espaço para esse tipo de jornalismo. Podem pedir para um jornalista fazer uma matéria profunda sobre qualquer tema, mas depois talvez deem apenas quatro páginas para desenvolvê-la, o que é muito pouco espaço.
O mundo editorial e os livros são um ótimo lugar para fazer esse tipo de trabalho, mas a compensação econômica não é favorável; ninguém consegue viver dos livros que publica ou das crônicas que publica. Hoje, sinto que a profundidade sobre a realidade, que antes era dada pelo jornalismo literário ou pelas crônicas jornalísticas, foi tomada pelas plataformas de streaming, com seus “true crimes” e histórias baseadas em fatos reais. É outra proposta, outro orçamento, outra relação com a realidade, mas, na prática, esse modelo está mais alinhado ao modo como as pessoas consomem informação hoje.
Nem todo mundo está disposto a sentar e ler uma crônica longa; por outro lado, muitos têm tempo para assistir a uma série. É estranho e, se é justo ou injusto, não sei dizer, mas é assim. Acho que o jornalismo literário foi escanteado por dois motivos: um é que as empresas jornalísticas já decidiram, há tempos, parar de apostar nesse tipo de jornalismo, e digo isso com tristeza; o outro é que há um gigante ao lado, que está se alimentando da realidade, que são as plataformas de streaming. Ainda assim, todo esse cenário abre uma porta, porque as plataformas trabalham melhor quando há um livro como base para sustentar os projetos.
Hoje, às vezes, faz sentido apostar em um livro, mesmo que não se ganhe tanto dinheiro com ele, na esperança de que seus direitos sejam vendidos para uma plataforma e o processo se torne mais rentável. Mas, claro, é uma aposta, não há nada garantido. Em resumo, é um momento muito delicado, e é preciso contornar os obstáculos para conseguir publicar uma história que valha a pena ser escrita e lida.