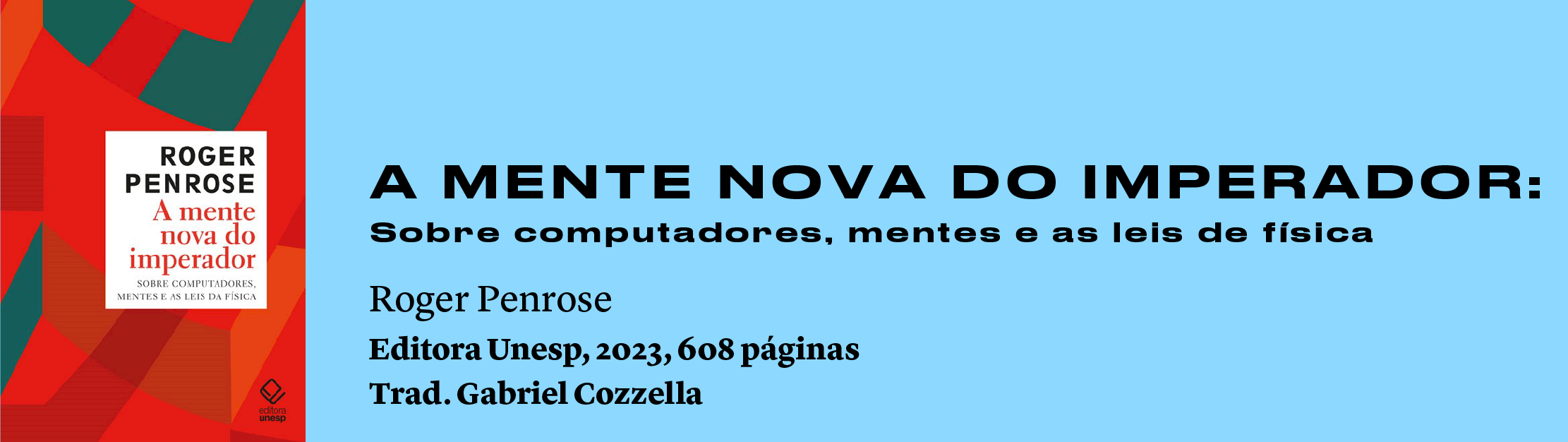Estante Cult | Das palavras que germinam e desatam o colonialismo

Se cada vez mais se torna questionável a pertinência de interpretar as experiências socioculturais de países que foram colonizados a partir de um referencial eurocentrado, a publicação de A terra dá, a terra quer, do mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos, é um ponto de inflexão epistemológica. Lavrador que se alfabetizou para contraditar os desmandos de uma política assentada na escrita, o autor toma as mentes como roças e as palavras como sementes germinantes para relatar os modos de vida no quilombo desde sua infância e suas alterações com a deflagração da modernidade, em uma narrativa orientada pelos saberes geracionais quilombolas e o que eles ensinam sobre uma vida em relação.
Afinal, se o livro abunda em ideias e conceitos vicejantes para os “povos da escritura”, ele não deixa de orbitar o universo da oralidade e de um saber intrincado ao estar no mundo. Uma contradição entre as demais próprias à caatinga, um bioma que “nos ensina a necessidade das contradições”, nas palavras de Nêgo Bispo, nascido em 1959 no vale do rio Berlengas, Piauí, e criado pelos mestres do Quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí.
A essa aparente divergência, somam-se outras ao longo da obra, as quais Bispo enreda em sua narrativa à semelhança de seu modo de viver próximo à mata, onde todos os seres viventes se comunicam e confluem. Trata-se de um movimento ínsito a uma prática contracolonial, que o autor, já no primeiro capítulo, implica em sua forma de falar e entender a língua: para contracolonizar, ele instaura uma “guerra das denominações: o jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las”. Por isso, substitui o desenvolvimento sustentável pela biointeração; a coincidência pela confluência; o saber sintético pelo orgânico; o transporte pela transfluência; a troca pelo compartilhamento; a política pela autogestão; o sonho pelo imaginário.
Essa dinâmica é uma espécie de ética de luta e defesa que, estabelecida de partida, aparece nos próximos cinco capítulos para desestabilizar as práticas normalizadas da vida citadina em contração com os modos quilombolas: a cosmofobia do homem moderno, ou seja, o medo de tudo que está para além do indivíduo; o compartilhamento do quilombo, fundamentado em festanças e banquetes, adverso às relações mercantis da civilização; a organicidade da arquitetura quilombola e a arquitetura sintética humanista, avessa às outras formas viventes; a inversão da lógica agropecuarista pela prática quilombola de “criar solto e plantar cercado”.
Assim, ao longo de A terra dá, a terra quer Nêgo Bispo executa o intento anunciado desde o princípio: torcer as palavras caras ao mundo colonial de forma a semear a potência das palavras. Fundamenta uma poética latente no agir e pensar imbricados, fazendo emergir da pele da palavra falada (e agora escrita) uma filosofia. Mas não como a entendemos nas cidades, pois “nós [quilombolas] não temos cultura, nós temos modos — modos de ver, de sentir, de fazer as coisas, modos de vida”.
Pontuando suas reflexões com exemplos simples da vida roceira, o autor explicita os paradoxos de coisas muito simples pressupostas como necessárias pela forma de organização das cidades (como a substituição de uma trilha, pela qual passam diferentes formas de vida, por uma estrada asfaltada, pela qual só passam carros). Por isso, a certa altura, declara-se contrário ao próprio humanismo, entendido como um sistema que aparta o humano das demais criaturas, preferindo pensar no humano conectado ao reino animal, à semelhança do reino vegetal, no qual “todos os vegetais cabem” e do reino mineral, no qual “todos os minerais cabem”. Nessa inversão de perspectivas, o autor ressalta sempre a aproximação com os povos indígenas e com os moradores das favelas: “No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter!”.
No ocaso da civilização, quando se discute tanto o retorno da barbárie e o declínio de uma cultura civilizada, lembramos de Walter Benjamin, para quem “não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie”. E observamos alumiar distante, mas fulgurante, as falas das funduras de um Brasil que pensa e vive compactuado a todas as esferas da vida, cujos contratos não passam pelos termos civilizados e culturais que, ao cabo, mostram-se ainda comprometidos com uma lógica de vida colonialista.
Antes de A terra dá, a terra quer, Antônio Bispo publicou Colonização, quilombos: modos e significações (UnB/INCTI, 2015), além de coordenar a coleção Quatro cantos (n-1 edições). Também atuou na Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (Cecoq/PI) e na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Na entrevista publicada a seguir, ele desdobra alguns temas de seu último livro e propõe caminhos para uma vida ainda possível. Leia abaixo:
Poderia recuperar um pouco da sua aproximação com a militância e com a escrita como forma de disputa contracolonial, da qual você fala em A terra dá, a terra quer?
Eu nasci em um território no Vale do Rio Berlengas, no estado colonialista chamado Piauí, onde as contradições eram muito efervescentes, muito vivas. Por conta de tantas perguntas que me são feitas, e como as perguntas nos ensinam mais do que as respostas, as perguntas têm me levado cada vez mais à minha infância e à efervescência das contradições da minha criação. Fui criado por um povo que tinha todos os saberes necessários para viver, mas comunicando pela oralidade.
Quando chegaram as escrituras como detentoras de um saber, nosso povo compreendeu que elas não eram detentoras de um saber, mas comunicadoras dele, e aí pensamos em ficar fora das escrituras. Mas percebemos que a escritura também era uma armadilha, pois além de comunicar o saber, ela subjuga os outros saberes que não eram comunicados por ela, como os saberes comunicados pela oralidade, pelos sabores, odores, sonoridades, enfim, os demais saberes que conseguimos aperceber pelos diversos sentidos e sentimentos foram subjugados pelas escrituras.
Isso foi uma grande contradição que nós vivemos, e aí nosso povo resolveu vivenciar o máximo possível essas contradições. E como fazer isso? Compreendendo a comunicação do saber escriturado. Cheguei à escola levado não apenas pela minha família, mas por toda a comunidade, e não para apreender os saberes que as escrituras traziam, mas para compreender como as pessoas comunicadoras desse saber se comportavam e como poderíamos nos defender delas.
Você fala muito de vivenciar e aceitar as contradições, em um momento em que, nas cidades ditas civilizadas, elas são cada vez menos aceitas, com discursos planos e sem espaço para as contradições.
Então imagine se não houvesse as contradições, se na caatinga, o bioma onde moro, não houvesse a diversidade, se ela não tivesse os muitos espinhos que tem, se ela não fosse pedregosa, geograficamente acidentada. Imagine se a caatinga não tivesse a cara da morte. Mas a caatinga tem a cara da morte e a morte na caatinga tem o sorriso da vida. É preciso ser caatingueiro para compreender essas contradições, como o rio que, se hoje está seco, amanhã está corrente. Como a planta que, se hoje não tem folha, amanhã tem flores e frutos.
A caatinga nos oferece relações contraditórias fantásticas, daí dá para se compreender por que na caatinga há mais quilombos que no restante dos biomas brasileiros. A maior parte dos quilombos está na caatinga: Palmares é próximo da caatinga, Canudos é na caatinga, Caldeirão é na caatinga, ou seja, os quilombos que mais assustaram os colonialistas, pelo menos dos que nós temos conhecimento, existem e existiram na caatinga. A caatinga nos ensina a necessidade das contradições. E sem as contradições o mundo seria um deserto. Cada vez mais tenho percebido a necessidade da diversidade, e não há diversidade sem contradição. As contradições são fundamentais, a hegemonia é uma doença.
Para falar dos modos de viver em A terra dá… você utiliza bastante os verbos no passado, dizendo como as coisas eram feitas e como a vida funcionava no quilombo. E como elas são atualmente, como foram se transformando com a chegada dos latifundiários e mesmo com as iniciativas governamentais?
Começo pelo agora para chegar no passado. As pessoas que vivem nesse mundo segmentado e fragmentado têm dificuldade para pensar na circularidade, então quando falo de colonialismo, entendem ele do ponto de vista acadêmico, mas estou falando do ponto de vista existencial, histórico, dos acontecimentos. Quando foi criado o programa Fome Zero, ele foi lançado nos municípios do estado do Piauí chamados Guaribas e Acauã. Nesse tempo eu fazia um programa em uma rádio comunitária e, quando me chegou essa informação, eu disse que, na minha compreensão, era fantástico que Guaribas tivesse sido escolhido, porque guariba é o nome do macaco mais discriminado entre todos os macacos, porque faz muito barulho, grita muito, faz cocô demais, então quase ninguém gosta dele. Escolher um município com o nome do macaco guariba era a parte boa.
O outro município, Acauã, tem o nome de um pássaro que para muitos é do agouro, e para nós da anunciação, então fiquei satisfeito que [o programa Fome Zero] trouxe Acauã para o debate. De tudo que acontece se pode pensar na parte contraditória e favorável, mas o outro lado é que Guaribas foi considerado o município mais pobre porque não tinha restaurante, lanchonete, hotel. Ora, para nós, quem precisa dessas coisas são os pobres, porque nós recebemos as pessoas nas nossas casas. O quilombo não precisa de hotel porque recebe as pessoas em casa, não precisa de restaurante pois as pessoas se alimentam nas nossas cozinhas. Como somos pobres se temos condição de receber as pessoas nas nossas casas? Pobre é o povo da cidade que precisa de hotel e restaurante para receber as pessoas, quem tem uma casa que não cabe uma visita. Isso é uma maneira de contraditar os modos de vida e dizer que os colonialistas é que precisam de restaurantes. São essas contradições que nos fazem refletir e viver de outra maneira.
Levando essa questão para a minha infância, eu fui criado nessa relação de compartilhamento, num mundo de relacionamento, ou seja, nós tínhamos um relacionamento e isso fez com que a gente compreendesse que dentro dos relacionamentos se compreende melhor as contradições. Eu sei que a serpente mata, mas se ela não vier na minha direção, ou mesmo que venha e eu tenha pra onde fugir, ela não precisa ser eliminada, porque sei que ela vai pegar um rato que iria atacar minha plantação, então isso são relacionamentos. Na minha compreensão, cada vez mais precisamos alimentar as contradições existentes ao invés de tentar eliminar, para que a gente amplie os relacionamentos a partir dessas contradições.
Você falou do Fome Zero agora, no seu livro também faz críticas ao programa Minha Casa, Minha Vida como alicerçados em uma lógica colonial, igualando esquerda e direita. Como você avalia os governos de esquerda brasileiros?
A esquerda e a direita são dois membros do mesmo corpo colonialista. Se tanto a esquerda quanto a direita concordam que a democracia é o único sistema viável para se viver em sociedade, onde está a contradição? Ora, se não tem contradição, convenhamos, estão muito próximos. Tanto a esquerda quanto a direita dizem que a educação é a grande saída, mas essa saída não acontece.
Chegou um tempo em que tanto a esquerda quanto a direita concordaram com a reforma agrária, e ela aconteceu, é fato. Só que não aconteceu da maneira que o MST queria, que a esquerda queria, que nós queríamos, aconteceu do jeito que o agronegócio quis. O Brasil definitivamente optou pelo agronegócio, pelas grandes propriedades, pelas grandes mercadorias. O Matopiba, que poucas pessoas no Brasil conhecem, é um Estado transnacional dentro do Estado nacional, compreendendo parte do Maranhão, por isso Ma, parte do estado do Tocantins, por isso To, e parte dos estados do Piauí e da Bahia, por isso Matopiba. Esse Estado transnacional, híbrido, parte formal e parte informal, foi criado no governo Dilma sem contestações amplas de determinados setores da esquerda que concordaram com ele. Agora ele está aí e regularizou as terras para o agronegócio. É fato que não tem mais reforma agrária no Brasil de maneira administrativa, pois o agronegócio se consolidou como o maior instrumento gerador do PIB.
Por outro lado, se você encontrar o grande mestre Joelson, da Teia dos Povos, do Assentamento Terra Vista e do grande movimento agroecológico no sul da Bahia, Joelson vai lhe dizer que se nós apenas beneficiarmos de forma orgânica e interativa tudo o que a Mata Atlântica nos oferece, nós vamos triplicar o PIB do Brasil. Por que não se escuta a voz do Joel? Por que a esquerda que agora ocupa parte do poder não chama o Joel para uma conferência sobre a elevação do PIB através da Mata Atlântica? Por que só chamam a galera da academia?
Temos aqui também o mestre Antônio Máximo, meu vizinho, meu irmão, que, na minha compreensão, entende como poucos a caatinga, ele sabe de cada planta a sua função, sua relação com as outras. Nesse momento que se discute as energias verdes, por que não chamam o mestre Antônio para fazer uma explanação sobre como se relacionar com a caatinga? Nem a direita nem a esquerda chamam, e a esquerda acusa a direita de não ouvir essas vozes, mas por que agora não as escuta?
Mestre Cobra Mansa, da capoeira angola, está tirando a maior onda na Bahia, na região da Mata Atlântica, fazendo algo que está sendo chamado de cosmangola, que é uma mistura da filosofia da capoeira com o cosmograma bakongo, uma cosmovisão africana. Eles pegaram um terreno que há 18 anos só tinha pasto e, hoje, é uma floresta linda, que produz chocolate orgânico a partir dos cacaueiros que ressurgiram e se reinventaram. É tanta coisa bonita, por que a esquerda não vai atrás disso? Se a esquerda quer que a gente diga que são diferentes, que eles se comportem de forma diferente na prática, porque na teoria é fácil. Meus comentários não são de julgamento, de acusação, mas são propositivos, pois fazemos a crítica e apresentamos uma possibilidade.
Não fui eu que comecei essa conversa sobre o Minha Casa, Minha Vida. Eu fui convidado pela favela da Maré para discutir como é o jeito de morar no quilombo e o jeito de morar na favela, e percebemos que eram muito parecidos. E aí nos veio a pergunta fantástica: qual é o lugar mais necessário de uma casa no quilombo? É o quintal e o terreiro, o quintal para começarmos as primeiras práticas de relacionamento com a natureza, de plantio, de colheita, e o terreiro para festejar a vida. E qual a parte mais necessária de uma casa na favela? São as lajes: a primeira para construir a segunda casa e a segunda laje para festejar a vida. O que o Minha Casa, Minha Vida fez? Tirou as lajes das casas da favela e os terreiros e quintais das casas do quilombo. Não há conversa, ele chega e impõe.
O Estado é um trem encarrilhado nos trilhos do colonialismo. Ou você constrói outro trilho, ou vai para o mesmo lugar, seja quem for o maquinista.
Se o Brasil está entregue ao agronegócio, e o Estado está encarrilhado no colonialismo, como pensar nesses focos de pensamento aparentemente restritos aos quilombos em âmbito nacional?
Mexendo nos modos de vida. Alguns equivocados pensam que apenas regularizando nosso território resolve-se a questão, mas não é isso. Um pessoal trabalha na lógica da inclusão, mas não é inclusão, e sim contradição. Eu só estudei até a 8ª série, mas porque eu quis. Na ocasião me convidaram para estudar agropecuária em uma universidade do Piauí, e durante três anos eu ia fazer o curso de técnico agrícola e sair empregado pelo Estado, com uma casa alugada no município e poder equivalente ao de um bancário, que na época eram os que mais ganhavam no município, o bancário, o técnico e o prefeito.
Mas eu não fiz isso, porque sabia trabalhar na roça sem precisar frequentar esse curso, minha geração avó me ensinou. Recentemente, a UFMG me ofereceu o título de notório saber. Alguns amigos receberam o título e eu fui assistir à cerimônia, parabenizei eles, mas eu não quero, porque minha situação não é de inclusão, mas de contra adição, contra aditar, eu não quero ser adicionado nesse sistema. Portanto, o contracolonialismo é um contra-adicionamento, contra-aditado, não querer fazer parte desses termos.
Se a universidade quer que eu dê aula, que seja assim, com os saberes que hoje andam comigo, que são saberes de todo mundo. A terra dá, a terra quer não é um livro meu, tanto que esse título foi Mãe Joana que me ensinou, ela que nasceu em 1905 que dizia “Meu filho, a terra dá, a terra quer”. E aí a galera da edição do livro trouxe o título e eu pensei que, se foi Mãe Joana quem o disse, como eu ia dizer que não? Começo pelo título de Mãe Joana para dizer que consultei muita gente, tive dificuldade com esse livro pois não estava me entendendo muito bem com ele, tive uma briga grande com o livro, e nisso as pessoas me convenceram, então não é um livro meu, apenas com a minha narrativa, minha relatoria. Eu relatei fatos, vivências, sentimentos a partir de como vibram em mim.
Você falou sobre a recusa de receber títulos, de trabalhar na academia mas, ao mesmo tempo, propõe conceitos densos que, não raro, esbarram na filosofia, antropologia e outras áreas do saber acadêmico. Como você percebe essa relação?
O primeiro livro, Colonização, quilombos: modos e significados, traz mais isso que você falou, pois fizemos ele para denominar ou reeditar nomeações que nos incomodavam. Então trouxe de forma mais densa: biointeração como contradição do desenvolvimento sustentável; saber orgânico como contradição do saber sintético.
Nós tratamos de cosmofobia que, isso sim, aproxima-se mais de um conceito, que é a doença que aterroriza a sociedade eurocristã monoteísta. É uma sociedade do terror, que sofre demais, vive aterrorizada, pois é sempre subordinada à sua própria criatura. Como estava pensando outro dia: hoje, o que mais gera violência no imaginário das pessoas é o celular. Lembro que em 1978, quando cheguei no Rio de Janeiro, pois passei cinco anos convivendo com o Rio de Janeiro, era o relógio. Usar um relógio Seiko, ou Orient, um relógio automático, naquele tempo era pedir para ser roubado.
Se o celular é hoje um dos responsáveis pelo maior índice de violência nas cidades, como lidar com o celular, que ao mesmo tempo é uma necessidade? Era fácil para o Estado liberar um celular para cada cidadão, pois um mês de pessoa presa custa mais do que um celular. Se o Estado fizesse isso, acabaria o roubo de celular, mas não se faz isso para não quebrar os fabricantes de celular.
É mais fácil culpar a maconha, uma erva bendita e medicinal, do que o celular, porque nós dominamos as tecnologias de produção da maconha, mas a tecnologia de produção do celular nós não dominamos. Ou seja, criminalizam tudo aquilo que nós dominamos a tecnologia de produção, e liberam aquilo de que possuem as tecnologias de produção.
A cosmofobia trata disso. Ela é a relação entre as pessoas e a natureza sintetizada, pois depois que sintetizam a natureza, sentem-se donas daquilo que foi sintetizado e acham que aqueles que não conseguiram sintetizar vão vir atrás porque ainda são natureza. Em tese, o ladrão de celular seria a natureza indo atrás de sua parte que foi sintetizada para reintegrá-la. É complexo, mas é simples. Parece que é academia? Não somos nós que estamos falando a linguagem da academia, mas a academia que fala a nossa linguagem, pois ela não existiria sem nós, quase tudo que ela sabe pegou com a gente.
O que fazemos agora, portanto, é uma retomada. Nossos livros dizem aos acadêmicos que eles sabem escrever e ler o que escreveram, mas não sabem falar. Nós sabemos falar, mas também sabemos ler e escrever, pois fizemos um esforço. A partir do momento em que tive que vir para a escola para compreender como funcionava o lado deles, passei a pesquisar eles enquanto eles nos pesquisam. Hoje, eu, cacique Babau, Sueli Maxakali, Sonia Guajajara e tantos outros, nós povos quilombolas e povos indígenas, estamos estudando a mente dos colonialistas para nos fortalecer nesse processo contraditório.
A necessidade de uma luta conjunta de quilombolas, indígenas e favelas aparece bastante em suas falas também. Qual a importância de pensar nessas esferas de luta, diversas em suas reivindicações, de forma unificada?
Também escrevi sobre isso no primeiro livro, que é parceiro desse. Na verdade, só vou escrever uma trinca de livros, estou no terceiro e depois paro, pois tem muito mais gente para escrever e que escreve mais necessariamente do que eu. Mas aí vai ser necessário ler a trinca, pois vai ser começo, meio e começo. A vida é começo, meio e começo, não tem fim. A terra dá, a terra quer é o meio, exatamente o intermediário, por isso tem uma abrangência grande, pois fala a linguagem dos outros dois, que têm linguagens mais específicas. No final, era um livro muito necessário.
Mas, o que dizia no primeiro livro é que houve uma grande confluência de indígenas e africanos no início do colonialismo, nós nos unimos através das linguagens cosmológicas e criamos os quilombos com a ajuda dos indígenas. Não teríamos criado sem eles, que eram desse lugar e conheciam a região, nos ensinaram muita coisa, e nós também fomos generosos, nunca atacamos indígenas e nunca houve disputa entre quilombolas e indígenas por territórios alheios. São os colonialistas que tiram territórios e nós tiramos deles, como um processo de retomada.
Na Constituição de 1988, temos uma outra grande confluência: fomos tratados como povos de direito. Porém, o que está escrito lá é uma farsa, aquele direito que estão nos oferecendo não é o nosso direito, que é a capoeira, o quilombo, o terreiro, a favela, nosso direito é o que nós construímos em toda essa trajetória. Mas eles não reconhecem isso.
Então, nossa confluência dentro da Constituição foi apenas de diálogo, mas a nossa maior confluência é agora, na retomada, quando os indígenas estão escrevendo na e para a academia, assim como os quilombolas. Nós estamos falando e ensinando vocês a falar. A gente também não sabia ler, e hoje já tem gente que sabia ler e aprendeu a falar e gente que sabia falar e aprendeu a ler. Essa é também a fronteira das contradições necessárias.
A grande fronteira entre quem sabe ler e quem sabe falar é um instrumento de quebra do colonialismo a partir do fortalecimento das contradições, o que vai ser bom para todo mundo. A aldeia, a favela e o terreiro são muito parecidos. A favela da Maré me premiou, junto com Marielle Franco, Ailton Krenak e Conceição Evaristo, como mestre das periferias, o mais belo prêmio que recebi até hoje. Imagine então um quilombola da caatinga, no Piauí, considerado o estado mais pobre e atrasado da União, ser considerado mestre das periferias pela favela da Maré?
Você falou agora do cosmograma bakongo, também marcado por uma cosmovisão circular, assim como a concepção de vida quilombola de começo, meio e começo. Como a experiência quilombola se relaciona com as perspectivas dos povos afrodiaspóricos?
A capoeira acontece rodando, na circularidade, na amplitude e na diversidade. O capoeirista não precisa cantar afinado, mas precisa cantar animado. Não é a afinação, mas a alegria da cantiga do capoeirista. Ele não precisa ser o melhor, mas precisa ajudar a fazer a melhor roda. Ele não precisa ser o melhor tocador de berimbau, mas precisa saber tocar berimbau, e por aí vai. Ele precisa saber tudo o que a capoeira precisa, porque a capoeira precisa de tudo que o capoeirista sabe, isso é circularidade.
O nosso samba, de cumbuca, de batuque, é da mesma forma, todo mundo canta e todo mundo dança. O colonialismo mercantilizou isso, o que tira a circularidade e coloca a linearidade, a verticalidade. E aí aparece o fim, pois tudo que é linear tem um fim. E isso tem uma base cosmológica, que é a base da criação: Deus tem um filho chamado Jesus, mas ele não tem um filho, então Deus não é avó, não tem neto. A sociedade eurocristã monoteísta, ou colonialista, não tem geração avó, porque, mesmo que a tenha biologicamente, não gosta dela, tanto é que boa parte dos avôs e das avós da sociedade colonialista estão no asilo.
Os colonialistas colocam sua geração avó no asilo e a geração neta na creche, porque vivem a partir de uma sociedade de pai, filho e divino espírito santo, dois vivos e um morto. Para nós não, é geração avó, geração mãe e geração neta, começo, meio, começo, seguindo a mesma circularidade do cosmograma bakongo.
Mas não aprendemos isso, já sabíamos isso, viemos de África para cá com esses conhecimentos, senão não teríamos nem feito os quilombos. E encontramos algo parecido com os indígenas, pois somos todos de cosmovisão politeísta. Se temos várias divindades, a terra, a água, a mata, o ar, os astros, então não temos limites, temos fronteiras. Isso é fantástico na organização das nossas vidas.
Não queremos matar os colonialistas, a única coisa que eu faria, se tivesse muito dinheiro, era pagar a passagem para todos eles de volta para a Europa, para pararem de mexer com a gente aqui. Mas, se eles se comportarem direitinho, podem ficar quietos por aí, mas precisam se comportar, porque estamos chegando e dando uma assustada, estamos colocando pautas para funcionar e não estamos de brincadeira. Se não se comportarem direitinho, damos uns conselhos mais duros.
Ainda que movediças, as fronteiras demarcam limites. Como pensar, então, em um para-além das fronteiras, na vida fundamentada no compartilhamento e na confluência?
Tenho dito que nem tudo que se ajunta se mistura e nem tudo que se mistura se ajunta. Ou seja, através da cosmovisão estamos misturados com os povos indígenas. Quando a gente se encontra, percebe que há muito em comum. Uma vez saí do Brasil e encontrei um africano e, depois de eu falar cinco minutos, ele saiu gritando na língua dele, que eu não entendia, traduziram para mim e disseram que ele estava me chamando de grande avô. Na primeira vez que encontro um africano fora do Brasil, em território alheio, ele me chama de avô, pois a gente continua misturado, mesmo não estando juntos.
Mas com os colonialistas a gente se ajunta, mas não se mistura. Tenho dito que, quando vemos uma pessoa de pele clara, não significa que estou vendo uma onça, mas vou olhar pra ela como se fosse uma onça, pois quando olho para uma onça a vejo como se fosse uma predadora, e aí vou observar se ela está com fome ou não. São assim que as relações se estabelecem na mata. Se perceber que ela não está com muita fome, posso me aproximar mais um pouco, mas, se perceber que ela está com fome, vou me distanciar o máximo possível, pois sou uma presa pra ela, mesmo que seja adestrada.
Então por mais progressista que seja uma pessoa de pele clara, por mais de esquerda que seja, ela é uma onça, preciso saber se foi adestrada ou não, se está com fome, mas não preciso eliminá-la, dá para conviver. Por exemplo, o povo da academia gosta de ler e de escrever, eu gosto de falar, então quando encontro eles vou tentar fazer com que me escutem, mas também fazer com que pensem que vou ler o que eles escreveram, e assim a gente estabelece uma relação. Ou mesmo deixo eles escreverem junto comigo, ofereço um livro para eles, já que se alimentam das escrituras. É preciso que a gente tenha relações, pois elas determinam os espaços, como nos deslocamos no espaço e no tempo.
No seu último livro, você faz um duplo movimento de expor o desenraizamento do homem contemporâneo ao mesmo tempo em que desconstrói ideias e conceitos há muito enraizados em seu imaginário, como as próprias ideias de cultura e política. Como você percebe esse movimento?
O território não é só o lugar onde eu vivo, mas é um lugar com todos os relacionamentos que esse lugar permite que aconteçam. Há relacionamentos que são muito maiores, com os astros. Na caatinga tem sol, na cidade tem sol, então através do sol estamos no mesmo território. Por essas coisas mais amplas podemos de certa forma nos comunicar.
Mas precisamos também usar essa possibilidade de comunicação para quebrar conceitos abstratos, que não têm força, para que as pessoas comecem a cair mais na organicidade, por isso é preciso quebrar o sintético. Ou, ao menos, mostrar que dá para encontrar o orgânico próximo do sintético. É preciso ter coragem de sentar na calçada. Se em um final de tarde, de forma orquestrada, todas as famílias sentarem na calçada, ninguém vai assaltar aquela rua no final da tarde. Isso é compartilhamento.
O medo do outro é o medo da natureza, o medo de si, isso é cosmofobia, é uma doença. Quando você olha para uma outra pessoa, se arrepia e fica com medo, você está doente de cosmofobia, uma doença que não tem cura mas tem tratamento, que é a relação com a natureza.
Muitos dos exemplos que você traz de práticas contracoloniais estão diretamente relacionados à vida em comunhão com a mata, nas roças. Como pensá-las no contexto citadino?
É necessário pelos menos se aproximar das outras pessoas, se você não pode se aproximar do cabrito, do boi, ter um pássaro cantando. Não sei por que as pessoas têm dificuldade de fazer amizade nas cidades. Se todo mundo se esforçar para ter um pouquinho de relacionamento, a violência diminui e muito.
Recentemente estive em Belém e me levaram um celular. Não denunciei ninguém para a polícia, assim como nunca fiz um boletim de ocorrência, pois não vou dar o privilégio para esse Estado colonialista de prender o preto meu por conta de um bem material. Um preto não vai apanhar por causa de um celular, de um carro, um bem material não é melhor do que uma pessoa.
O sistema judiciário que nos promete segurança e não nos oferece segurança é pior do que o bandido. É preciso ter coragem para dizer isso e perguntar onde está a esquerda diante disso. Quem está preso, esquerda, os pretos ou os não pretos? É preciso trabalhar as contradições e compreender que um jovem que roubou um celular um dia pode me encontrar acidentado na beira de uma estrada e me levar para o hospital, mesmo que pegue o dinheiro que eu tenho no bolso. Está na hora de a gente colar nisso que tem de ruim.
Por suas falas, percebemos que o pensamento sempre acompanha uma ação concreta, parece uma prática intrínseca a um modo de pensar poético. Assim, pela própria forma como estrutura os modos de pensar e agir quilombolas, você acha que está a questionar o binarismo ocidental?
Então, meu bisavô dizia que, se você quer preservar um objeto, pede para um ladrão o guardar. Mesmo que ele suma, você sabe quem sumiu com ele e pode negociar.
Uma das coisas mais lindas que vi em uma feira daqui: uma artesã quilombola trouxe seus potes para vender; um moço queria comprar um pote que coubesse 60 litros de água, que custava 20 reais; ele só tinha 10, e a artesão pediu para ele levar o pote e trazer os outros 10 reais na outra feira. Ele recusou, não queria ficar devendo, pois da mesma forma como ele estava precisando do pote, ela estava precisando vender. Então, ela disse que estava vendendo os potes, pois estava devendo 16 reais na cidade; já tinha vendido um pequeno por 6 e, se vendesse aquele por 10, fechava os 16, ele resolvia o problema e ela também.
Isso é lindo, é resolutivo, orgânico, resolveu dois problemas. Para isso quero que o dinheirinho desse livro sirva, para atuar de forma orgânica, resolver problemas, questões e para explicitar isso que você falou, vários modos de vida, várias possibilidades, para mexer com a mente das pessoas. O que nós queremos é semear modos de vida nas mais diversas mentes que estiverem férteis para isso. E as que não estiverem férteis é como dizia minha geração avó, a gente planta tudo que a gente quer, e a terra dá o que a gente merece e o que ela pode.

ESTANTE CULT | NOTAS
Welington Andrade
“E.T.A. Hoffmann é o inigualável mestre do infamiliar na literatura.” A conhecida asseveração de Sigmund Freud, proferida em 1919, ano da publicação do ensaio Das Unheimliche, iria marcar desde então as edições de um dos contos mais famosos da história da literatura, “O homem da areia”, lançado originalmente em 1816-1817 na coletânea Peças noturnas. A interpretação que o pai da psicanálise dedicou à obra há pouco mais de cem anos tem orientado em larga medida a recepção da narrativa, sobretudo no ambiente acadêmico, constituindo uma espécie de duplo do texto literário – nada mais apropriado no caso, aliás. A edição de O homem da areia que a Ubu Editora ora está lançado procura, senão afastar-se totalmente da tutela psicanalítica, ao menos garantir ao conto condições mais autônomas de fruição por parte do leitor. O volume, cujo projeto gráfico prima por uma eloquência visual marcada pelo misto de estranhamento e beleza, é fartamente ilustrado pelo artista visual Eduardo Berliner, que, além de expor seus trabalhos individual (Museu Lasar Segall, 2022) e coletivamente (Tools for Utopia, Kunst Museum Bern, Suíça, 2019), também ilustrou as Fábulas completas de Esopo para a Cosac Naify e uma série de livros de Valter Hugo Mãe para a Biblioteca Azul. A união entre texto e imagem reitera a natureza metalinguística da obra, pois, conforme afirma o professor de estética da USP Márcio Suzuki no posfácio, todo o êxito do conto depende “do ponto de vista, palavra essencial no vocabulário do pintor, assim como no léxico do narrador”.
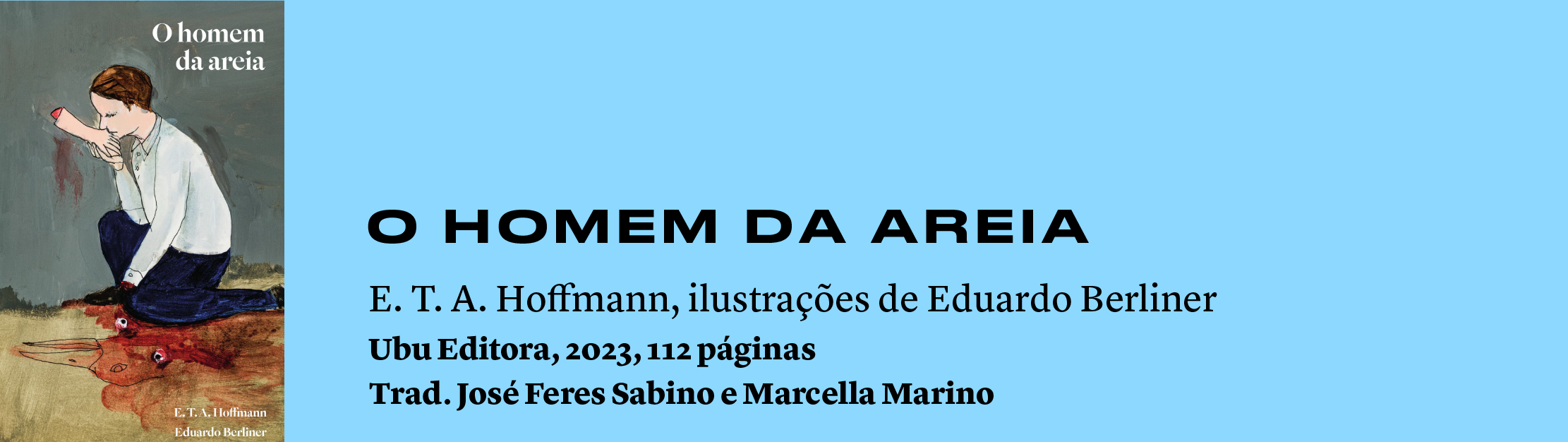
“Tenho trinta anos, mas sou negra há dez. Antes, era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, coleguinhas – que talvez não tomassem tanto sol – e para toda a família, que nunca gostou do assunto. ‘Mas a vó não é descendente de pessoas escravizadas’, eu insistia em perguntar. ‘E de indígena e português também’, era o máximo que respondiam sobre as origens da avó negra. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa.” Com esse olhar apurado – em que criticidade, ironia e sensibilidade procuram juntas compreender uma questão complexa, antes de simplesmente reduzi-la ao senso comum ou a um exercício de retórica vazia –, a jornalista e escritora Bianca Santana dá início à narrativa de Quando me descobri negra (que chega ao mercado editorial brasileiro em nova edição, revista e ampliada), um dos mais importantes relatos de si sobre a negritude já escritos no Brasil, não somente pelo registro do processo de letramento racial pelo qual passou a autora, mas também pelo potencial que a obra tem diante da luta antirracista na qual todo e qualquer cidadão brasileiro precisa se engajar diária e incansavelmente, para além das belas frases proferidas nas redes sociais em apoio ao jogador Vini Jr. “Você se lembra quando foi racista com uma negra ou negro? Não precisa contar para ninguém. Só tenta não repetir”, conclui Bianca, antes de se despedir – na forma de um pacto – de suas leitoras e leitores.

Roger Penrose é Rouse Ball Professor of Mathematics na Universidade de Oxford. Em 1988, recebeu o Prêmio Wolf de Física, compartilhado com Stephen Hawking, por sua contribuição conjunta para a compreensão do Universo, e em 2020 foi laureado com o Prêmio Nobel de Física. Em A nova mente do imperador: sobre computadores, mentes e as leis da física, o eminente cientista inglês conduz o leitor a uma intricada, e por isso mesmo fascinante, teia de princípios básicos da física, da cosmologia, da computação, da matemática e da filosofia para demonstrar que as máquinas jamais serão capazes de reproduzir o pensamento e o sentimento humanos. A partir de perguntas essenciais – O que significa pensar e sentir? O que é a consciência? O que são as leis da física? Pode a mente humana ser explicada por tais leis? –, o autor empreende aquilo que Martin Gardner chama no prefácio de “a investida mais poderosa já escrita contra a Inteligência Artificial” – o que, diante dos mais surpreendentes avanços das tecnologias de IA no mundo contemporâneo, que tanto têm assombrado artistas, escritores, profissionais da comunicação e educadores, constitui uma tentativa, racional e sóbria, de compreensão e contextualização do problema. “Eu faço o melhor que posso para, de forma fria e desapaixonada, expressar minhas razões científicas para não crer nessa percepção [todos os aspectos da mentalidade (incluindo a existência consciente) são simplesmente características da atividade computacional do cérebro], argumentando que os aspectos conscientes das nossas mentes não são explicáveis em termos computacionais”, afirma o autor no texto de apresentação. Talvez nós é que estejamos querendo emular o automatismo e a consciência rasa dos computadores e não o contrário.