Em busca de uma poética da performance
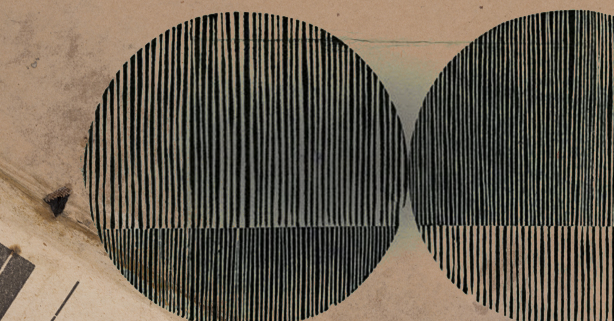
Empenhado, a partir dos primeiros anos da década de 1990, em estudar o problema da circulação da palavra para além da oposição dicotômica código impresso/canção, com o fim de desenvolver e aprimorar o meu próprio projeto de “poesia expandida”, peço licença para discorrer um pouco sobre o modo como me relaciono com a chamada performance poética. Faço-o não só por vaidade mas por entender que o depoimento dos/as artistas, neste país em que os donos do poder têm na produção da desmemória uma de suas mais eficazes armas de destruição em massa, pode contribuir para a ampliação e a qualificação de um debate que ainda não faz jus à diversidade e à qualidade do que se processa, entre nós, em termos dessa arte gerada nas zonas de passagem possíveis entre a palavra escrita, a voz, a respiração, o gesto, o movimento, o espaço, a vídeo-projeção, os instrumentos musicais e os objetos sonoros e/ou visuais, a roupa dos performadores e a escuta ativa dos espectadores.
Chamo atenção, de saída, para dois pontos: 1) a despeito de apenas na década de 90 eu ter entrado em contato com o conceito de “poesia expandida”, central para as pesquisas que dali em diante definiriam o tom e a dinâmica da minha errância linguageira, já nos meus primeiros experimentos, por volta dos 17 anos, em 1977, dava-se a ler, ver e ouvir um grande interesse pela hipótese de entrecruzar signos dos diferentes códigos; 2) adoto o termo “performance poética” para designar um tipo de obra artística híbrida, ou intermídia, que, tendo origem na transposição da palavra escrita para os âmbitos vocal e corporal, tanto abre-se para o diálogo criativo com outros sistemas semióticos (o vídeo, a dança, o teatro, a radioarte etc.) quanto atualiza e tensiona procedimentos técnico-formais consolidados pela tradição, como a declamação, a recitação, o jogral, a “leitura branca”, o canto popular e outros. Fique claro que o vocábulo “poética”, que não deixa de apontar para a poesia enquanto “gênero”, antes sinaliza o pertencimento da performance que tem como ponto de partida o signo verbal (independentemente de ter sido concebida e realizada por poetas) a um campo bem mais amplo, o qual envolve outras “poéticas da performance”, como aquelas geradas em disciplinas artísticas que lidam com questões de estrutura, forma e composição em incerta medida análogas às da arte da palavra, em suas vertentes experimentais.
Dito assim, algo esquematicamente, parece simples. Mas não é. Não foi. Basta que se tenha em mente o fato de que o tempo a que faço menção – o final dos 70s e toda a década seguinte – é anterior ao computador pessoal e à internet, a uma maior abertura dos cursos de Letras à poesia contemporânea, às leis de incentivo à cultura e à realização, em Belo Horizonte, minha cidade natal, dos grandes festivais internacionais (de vídeo, teatro, arte negra, dança, poesia, HQ, cinema, arte eletrônica e outros) que tanto contribuíram, nos anos 90, para provocar alguns curtos-circuitos no então acanhado e autorreferente ambiente artístico da capital mineira. Eu era só mais um garoto negro e pobre da periferia que amava concretos & Jimi Hendrix (& Luiz Melodia & Clementina de Jesus & Hélio Oiticica & Affonso Ávila & John Cage & Milton Nascimento & Lygia Pape & Jards Macalé & Paulo Leminski & Walter Franco & Itamar Assumpção &), sem nem mesmo saber se existiam, na “Velhorizonte” da época – vivíamos uma espécie de apartheid não declarado –, outros garotos negros e pobres, talvez criativos, com quem valeria a pena puxar prosa, já que, por ter abandonado a escola para dispor de mais tempo para estudar, não passei pelas experiências estético-culturais e políticas típicas da juventude universitária.
Esse isolamento a que fui forçado, também, por uma grave enfermidade num dos olhos, me ajudou a ter disciplina e a manter o foco aberto, ou melhor, descentrado, “permeável a tudo”, como digo num poema escrito durante uma deambulação pelas ruas de Berlim. Pouco a pouco, os interlocutores começaram a aparecer e a se tornar parceiros: gente da música, do teatro, da dança, das artes visuais, com preocupações semelhantes às minhas quanto ao uso criativo do signo verbal e da voz. Conheci e convivi nesse período inicial de formação com muitos poetas e escritores, é claro, mas seus interesses, em geral, não ultrapassavam as possibilidades de espacialização da palavra na página, e eu queria aquele impreciso algo mais que se enunciaria no subtítulo do meu primeiro livro, Festim, de 1992: “um desconcerto de música plástica”. Não que o pretensioso candidato a artista soubesse declinar com clareza os fundamentos da arte que aspirava fazer um dia, mas era certo que já pulsava nele, em suas tentativas iniciais, um desejo de desvio tão radical quanto possível em relação ao que predominava na poesia e na arte brasileiras daquele momento imediatamente posterior ao fim da ditadura civil militar que medusou o País entre 1964 e 1985.
O ano de 1993, nesse sentido, foi decisivo para mim: comecei a estudar sistematicamente a obra de Paul Zumthor, que eu só conhecia por meio de artigos e entrevistas publicadas em revistas especializadas; montei minhas primeiras performances; tive a felicidade de assistir a duas performances extraordinárias em Belo Horizonte (Ouver, com Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Cid Campos, Arnaldo Antunes, Livio Tragtenberg e outros e “Conferência sobre o nada“, texto-partitura de John Cage levado à cena por Jards Macalé, Tato e Márcia Taborda e Eladio Pérez-Gonzáles); fiz os cursos de “Iniciação à técnica vocal” e “Expressão corporal” com o acima citado Eladio Pérez-González, barítono, primeiro cantor lírico a interpretar o repertório composto pelos integrantes do movimento Música Nova, de São Paulo. Os anos seguintes foram igualmente fecundos: estudei com afinco as explorações teóricas do espanhol-brasileiro Julio Plaza e do estadunidense Dick Higgins em torno do conceito de intermídia, fiz minha primeira exposição individual de objetos tridimensionais e videopoemas, participei de oficina sobre “música de cena” com o compositor e instrumentista Livio Tragtenberg e de workshop de “palavra/imagem” com a artista visual Lygia Pape, ajudei a realizar a primeira e única edição da Bienal Internacional de Poesia de Belo Horizonte (oportunidade em que trouxemos à cidade o impactante espetáculo Poesia é risco, de Augusto de Campos e Cid Campos, além de performances como a do francês Julien Blaine e memoráveis debates com Philadelpho Menezes, Paulo Bruscky, Clemente Padín, André Vallias e outros). Também é nesse período que travo os primeiros contatos com a visada “etnopoética” dos poetas estadunidenses Jerome Rothenberg, Gary Snider e outros (como o alemão Hubert Fichte), fato que refletirá na composição dos orikis que ocupam a parte a mim reservada do livro A roda do mundo, que publiquei, há exatos 20 anos, com o poeta e ensaísta Edmilson de Almeida Pereira.
Embora continuasse a predominar, em Belo Horizonte, a velha prática dos diálogos delimitados por fronteiras artísticas, ainda hoje verificáveis, já não me sentia isolado. Em 1999, passo a integrar a Cia. SeráQuê, de dança, ao mesmo tempo em que, junto com o músico e ator Gil Amâncio, dou os pimeiros passos para a criação, no ano seguinte, da Sociedade Lira Eletrônica Black Maria (técnicas vocais inortodoxas + dança + vídeo + radioarte + cena pós-dramática + ruidagem eletrônica + edição de áudio em tempo real + percussão africana e afro-brasileira + e uso não convencional de instrumentos musicais e de objetos do cotidiano). Foram anos de intensa atividade, inclusive no plano do debate público sobre práticas intermídia, o que se refletiu em um número cada vez maior de convites para eventos– por todo o Brasil e no exterior – e no início de um projeto de sistematização dos procedimentos técnico-formais que caracterizam o meu trabalho como performador, palavra que adotei, no início da década passada, para definir as vocografias e corpografias que desenvolvo no espaço-tempo da performance.
Com seu quê de paradoxal, por remeter à ideia de uma escrita produzida pela voz, vocografias é no entanto palavra que possui dois antecedentes facilmente demarcáveis: a) o conceito de verbivocovisualidade, elaborado pelo irlandês James Joyce nos anos 20s e posto em circulação no Brasil, na década de 1950, pelos poetas-teóricos reunidos programaticamente em torno da poesia concreta; b) a noção de vocalidade, que se relaciona, segundo o medievalista e estudioso das poéticas da oralidade Paul Zumthor, à “historicidade da voz: seu uso”, consoante sua condição de “portadora da linguagem, já que na voz e pela voz se articulam as sonoridades significantes”. Corpografias, por seu turno, é a palavra de que me valho para falar de um procedimento criativo que implica o agenciamento de todo o corpo pela voz, melhor dizendo, pelas “grafias da voz”, num jogo que leva a sempre novas reconfigurações do espaço e do tempo performativos.
E aí chegamos a 2006, ano em que sou convidado a ministrar a disciplina Design Sonoro, no âmbito do curso de Design Gráfico da universidade Fumec, com total liberdade para montar o programa de ensino, no qual dei ênfase às poéticas experimentais da voz: dos poemas sonoros dadaístas (Kurt Schwitters, Hugo Ball) ao teatro de Robert Wilson e às performances de Laurie Anderson, das radiopeças alemãs da década de 60 às gravações mais radicais dos tropicalistas ou de Walter Franco, das peças eletroacústicas desenvolvidas a partir de timbres vocais por Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen e às explorações fônicas de experimentalistas do canto como Demetrio Stratos e Phil Minton aos sons captados nas ruas do centro de Belo Horizonte e à polifonia dos pigmeus Aka, pude fruir junto com as minhas turmas de um rol incalculável de possibilidades criativas ao mesmo tempo em que produzíamos reflexão densa e investíamos na concretização de projetos coletivos. Simultaneamente a essa experiência ímpar, que se estendeu até 2011, montei, pela primeira vez, em 2007, na “clubedaesquínica” rua Divinópolis, em Santa Tereza, um espaço pessoal de investigação, criação, guarda de acervo e formação/qualificação, o LIRA/Laboratório Interartes Ricardo Aleixo – desde 2009 localizado na casa onde dei meus primeiros passos artísticos, no bairro Campo Alegre.
Do LIRA, mantido com meus próprios (parcos) recursos financeiros, têm saído projetos de design sonoro para espetáculos, performances e instalações intermídia, cursos, aulas, residências e acompanhamento crítico-criativo de propostas que envolvem a inter-relação voz/corpo, concepção e coordenação de eventos dedicados à performance e/ou à leitura em voz alta e intercâmbio com outros profissionais voltados para os mesmos interesses. Cultivo especial carinho pelos projetos de formação/qualificação e pelos trabalhos em colaboração, que têm atraído até este lugar meio perdido no mundo chamado Campo Alegre pessoas de diversas regiões brasileiras, porque me permitem compartilhar um desejo de conhecimento – acerca dos refinadíssimos dispositivos tecnológicos que são o corpo e a voz humanos, nossas “mídias primárias” – que ainda está longe de se satisfazer, uma vez que é movido pela busca de autoconhecimento, de crescimento espiritual e humano e de abertura da escuta ativa em relação ao outro. Os desafios são os mesmos de sempre: pensar a performance como um “saber ser no tempo” (Paul Zumthor), tentar “não assustar os animais” (Rilke via Augusto de Campos) e, como nos ensina um velho canto recriado por nossa rainha mãe, Clementina, manter a “atividade no abano/ antes que o fogo se apague”.
Ricardo Aleixo é poeta, artista sonoro e visual, performador, ensaísta e curador de eventos de “poesia expandida”. É autor, entre outros livros, de Impossível como nunca ter tido um rosto” (2015) e Modelos vivos (2010). Já realizou performances na Alemanha, na Argentina, na França, em Portugal, nos EUA e no México.










(1) Comentário
bom demais