Coisas que o primeiro cachorro na rua pode dizer sobre a poesia de Caio Meira
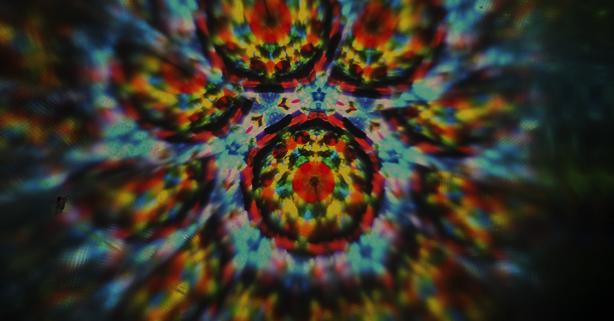
Quem aceita o desafio de escrever sobre a poesia de Caio Meira precisa transformar o impacto desse “esbarro” do que nela ganha corpo a cada verso, a cada poema, a cada livro na própria exigência que orienta essa poesia: “tirar os sapatos para ficar da altura da vida”, acabar sempre “tropeçando numa pessoa ou numa pedra”, descobrir um lugar “onde colocar o coração” ou, não o descobrindo, ao menos encontrar um lugar para colocar o pau, celebrar “o nascimento da palavra no oco da mão”. Para escrever sobre sua poesia, temos que estar prontos para o instante, o “abrigo da hora”, a “hora instável da madrugada” e, como o filósofo, aprender esse modo ativo e passivo de quem espera o inesperado: “esses cachorros equívocos que atravessam a cidade e voltam para casa”.
E aqui começo a me impor um limite para o caleidoscópio desses versos e fragmentos de versos “peripatéticos, citadinos, vagabundos”, sempre à procura de novos arranjos, porque precisamos de uma configuração, “de um mundo sempre local, parcial, limitado”, pois são sempre “coisas demais” vindas “de um ponto vazio, onde não se pode sentar-se, nem mesmo calar”.
Em “Teologia”, poema que abre seu primeiro livro, o anúncio de uma espécie de profissão de fé (“Celebramos o nascimento da palavra/justa no espaço/do oco da mão”) é antecedido por uma série de negações que recaem sobre o fazer do poeta nele identificado com um nós. Entre elas, a imediatamente anterior aos versos citados é aquela que se expressa como “Não diremos metáforas”, parecendo assim, nesta proximidade, que metáforas podem obstruir esse espaço que existe na medida exata para o nascimento da palavra, justa no espaço, a palavra numa medida que não pode ser perdida de vista por uma poesia que, se invoca o transbordamento, a “veia inflamada”, também procura o lugar que não seja nem mais nem menos.
A metáfora pode ser o médium da travessia sobre o abismo, pode ser o médium que, se nos lança a um solo, não deixa num só momento que percamos de vista esse abismo, que nos obriga a carregá-lo conosco para a terra que ampara nossos pés. Mas em algum momento a própria travessia pode cobrir por completo aquilo que ela permite atravessar, a própria metáfora pode se desviar da sua origem, pode-se continuar a usá-la no desconhecimento absoluto de sua necessidade.
A poesia de Caio Meira é nesse sentido uma poesia de escavação, que escava despojos, os seus próprios despojos, porque se tornou necessário então trazer o abismo para o lugar mais próximo, descobri-lo como um pré, um fundamento, como esse que trazemos já em nós, junto a nós “close to the bone”. Mas esse “junto ao osso, ao tutano” é o princípio da permeabilidade, porque põe fim a um sujeito fechado em si mesmo, porque nos expõe como seres já invadidos por aquilo com que apenas muito tardiamente cremos estabelecer de fora o contato, esquecendo que já somos atravessados pelo mundo, já somos de dentro do mundo, mundanos, como esses cachorros largados no mundo, ou como as putas com as quais um dos personagens que surgem ao longo dos poemas quer dividir a riqueza de um possível, entre tantos possíveis, prêmio da Mega Sena.
Na poesia de Caio Meira, nosso lugar no mundo, “o sentido da vida”, só pode ser soprado em nossos ouvidos por esses que foram colocados à margem do mundo, esses cujo equilíbrio no mundo se torna tão precário, uma “estirpe bastarda” que aos poucos vai ganhar, como podemos ler num poema recente publicado pela revista CULT, a invisibilidade dos espectros, dos fantasmas.
Na entrevista concedida em 2002 a Rodrigo de Souza Leão, Caio Meira define Corpo solo, livro que vem a seguir, como um “solo de corpo”, um corpo a corpo com o mundo que, no primeiro livro, é ainda um projeto sem efetivação. Mas chegar ao Oco da mão depois da travessia dos três livros publicados que lhe antecedem em Romance (e poesia anterior: 1993-2003), nos permite fazer uma experiência paradoxal: constatar essa radicalização que deixa o livro para trás e ao mesmo tempo descobri-lo como o lugar em que os livros publicados apenas aguardam, ainda sempre aguardam, endereçando a nós esse enigma de ser e não ser ainda, da perfeição e da imperfeição, do caminho pela metade, pelo meio.
Em “Limbo I”, o poeta nos diz: “O que orla em mim/nasce limbo no quintal/ brota franja no jardim – germinal/O sêmen original/seiva/em lacre translúcido/e forma semente – verso em leito/ seminal”. Quando o lacre translúcido se rompe, já não há mais o projeto de estar junto à cidade, ao mar, aos outros, mas o descobrir-se já junto ao mundo, não saber onde começa o homem e onde começa o mundo, o que implica não um projetar-se para frente, em direção a, mas justamente para um passado, um passado muito remoto, que está sempre voltando em seus poemas, como em “Mar antigo”, um dos poemas da belíssima série “Solo para o corpo e mar” de Corpo solo, ou como no extraordinário “Pelos e cabelos” do último livro (Para ler no escuro). Ou, para ainda nos manter na entrevista de 2002, na compreensão de que o poeta não está feito, que sua poesia vem, não do que ele tem a mais, e sim do que ele tem a menos, que implica o jamais compreender-se como perfeito, sempre localizar em si mesmo a falha, a fissura ou a fratura, palavras que frequentam, em arranjos diversos, essa poesia.
Em Coisas que o primeiro cachorro na rua pode dizer (2003),essa zona indeterminada continua a ser habitada, ali também o acontecimento homem e o acontecimento mundo são um único e mesmo acontecimento, acontecimento que exige o espaço ínfimo, a camada ou a lâmina tênue da pele, de uma espada ou de um vidro: “nem sei que tipo de limite representa a pele, se me separa da/madrugada ou me une a ela//se o frio que sinto nesse vidro me pertence ou sou eu que pertenço/ao frio ou ao vidro, ou se o ponto em que tudo se entrelaça surge/apenas para desaparecer”.
Mas o poeta que sabe a cada passo o quanto todo sujeito depende de uma conjuntura, o quanto somos tantos quanto as possibilidades que temos a coragem de conquistar num mundo, o poeta que se dá conta de que é “tão transitório e real quanto o empuxo que/mantém no ar essa tonelada de placas de metal, plásticos e parafusos” do avião em que embarca em voo doméstico (grifo nosso), vai caminhando para indiscernibilidade de real e ficção anunciada em versos de um poema de Corpo solo: “pela escuridão, no acaso de um ponto em meio à claridade elétrica/da página/ infinitas vidas podem passar”.
É partir dessa radicalização que pode surgir a segunda parte de Romance, “Entre outros: fotografias”, em que não sabemos mais qual voz é de quem, em que não há mais importância em saber o que pertence ao poeta e o que pertence aos personagens por ele criados.
Mas como tudo nos poemas de Caio Meira nos convida ao pensamento, à necessidade de uma apropriação em meio às possibilidades, ao desejo de não ser apenas uma “quimera entre quimeras”, à necessidade de quem precisa dar “um certo alívio, embora temporário, na pressão do sistema”, o último poema dessa segunda parte nos reenvia à primeira, “Um romance”, em que é no “ser com” (os amigos e os amores), no espaço em comum que se abre sempre que há “Um abraço”, “Um sorriso”, “Um beijo”, “Um amor”, que descobrimos um espaço narrativo e entendemos, finalmente, por que o livro das obras reunidas de Caio Meira pode chamar-se Romance.
Não poderíamos, contudo, concluir sem chamar a atenção para uma promessa feita ainda no livro anterior quando, em “De como e quando se descobre uma falcatrua”, o poeta nos diz que “um dia ele vai ter de escrever uma carta pai que, apesar de morto, ainda o assombra”. Essa prometida carta ao pai se chama “My hero” e foi publicada recentemente no último livro Para ler no escuro. Ele é um dos poemas que reproduzimos aqui, pois se alguma coisa pode nos dizer,para o nosso arrepio, o primeiro cachorro que passar na rua é que Caio Meira é hoje o poeta que já pode cumprir todas as suas promessas.
super-heróis
“hewasmyhero” disse o comediante
norte-americano ao saber que seu
filho tinha sido assassinado, essa
frase, ele era meu herói, dita por
um pai diante da perda de seu filho
tanto me emocionou por seu eu, na
época, um pai recente, meus filhos
não tinham ainda completado nem
um ano, eram bebês que dormiam
nos meus braços, eu queria mais do que
protegê-los, confortá-los, amá-los,
queria ser para eles um herói, como herói
é ser híbrido de deus e humano,
mortal, mas divino, eu, um pai, encontrei
na filiação, na capacidade de
gerar vida, como faz um deus, um ato
heroico e via, por outro lado, um pai
que perdera seu filho localizar
nele, na cria, o heroísmo, então,
para mim eu descobria naqueles
pequenos caras os heróis que me
resgatavam do que morria em mim,
eu que por tanto tempo odiei meu pai,
que não soube como amá-lo, que não
pude amá-lo, que via nele, um vilão,
meu super-vilão, pelas surras e
humilhações, por ele tanto ter
me rebaixado, espancado, pisado,
castigado, me tendo dado o nome
de um herói, general e político
romano, mas que, numa manhã de
domingo, diante de toda a família
ele disse que eu não chegava nem
na unha dele, eu não tinha mais
do que seis, sete anos, e não chegava
nem na unha do grande general romano,
que eu era um bola-murcha, então eu nunca
tive força para ser para ele
um herói, algum herói, não pude
salvá-lo de seu alcoolismo, de
sua decadência, da morte que o corroía e o
levou tão cedo para o hades, não pude
resgatá-lo de sua morte tão
solitária, quando soube que ele
estava em coma ainda assim eu peguei
um avião e fui vê-lo, mas ele não
recuperou a consciência, então eu
nada pude fazer, confirmei minha
impotência, a incapacidade de
qualquer heroísmo, assim como de qualquer
amor, e diante disso, depois de
vários dias de um estado inalterado
de coma, eu voltei ao rio, e ele faleceu
exatamente neste dia, e eu
decidi que não iria a seu enterro,
não tendo feito portanto o devido
luto, big mistake, pois ele permaneceu
sendo meu vilão já que não pude
ser seu herói, vilão a quem reiteradamente
culpei por meus fracassos, impotências,
medos, temores, repetindo, de
certa forma, talvez, sua própria
trajetória, de alguém que se afastou
de sua família, repetindo a vilania
transmitida há quantas gerações,
que se expressava numa incapacidade
de amar ou de demonstrar amor ao
próprio filho, como ele talvez não
tenha sido amado por seu próprio
pai, não tendo sido ele quem sabe
capaz de ser herói para o pai, e assim
por diante (ou para trás), perpetuando a
vilania entre pais e filhos, a mortificação
herdada e repercutida pelas fibras
dogenos, o genos em cujos vetores
trágicos me vi envolvido, por isso, mais
do que ser herói para meu filhos, eu
quis ver neles meus heróis, para que eles
pudessem, a seu modo, salvar o
genos, interromper o ódio, a punição
retransmitida de pai para filho,
dar fim à violência que possivelmente
vinha mortificando geração
após geração, ou pelo menos
não deixar que a raiva fosse o único elo
de ligação entre pai e filho, claro
que não posso dizer que fui salvo,
mas sei o quanto posso amá-los, agora
já adultos, ou quase, e sei também quantas
vezes eles já me resgataram de
momentos de raiva, de bile negra,
de pequenas (ou grandes) hamartías,
não permitindo, de algum modo,
que a força preponderante entre nós
fosse negativa, por isso, a herança
maior que gostaria deixar para eles,
meus super-heróis sem capa ou espada, é
que, caso queiram ter filhos, que os
amem o quanto for possível
amá-los
um abraço
quando nos encontramos e nos abraçamos por apenas
alguns segundos, quando coloquei minha cabeça ao lado
da sua e o seu tronco por poucos instantes se colou
ao meu tronco, com minha mão pousada nas suas
costas, sobre sua pele, sobre sua coluna
vertebral, nisso que se define normalmente como um abraço
de cumprimento, de duas pessoas que não se veem há
algum tempo e por algum tempo se abraçam
para celebrar a alegria do encontro, do reconhecimento
do rosto, do corpo, da vida mútua, esse abraço
comemora, numa pequena intimidade, um encontro, ainda que
de modo furtivo, um pequeno lapso de tempo, dois
ou três segundos, pouca coisa mais ou menos do que
isso, esse abraço que envolve meu tronco no seu tronco, de
onde brota o seu corpo, de onde nascem os seus membros
e por onde circulam fluidos e voltagens elétricas em
rajadas ínfimas regulando o tônus que dá integridade ao
seu corpo, que faz com que seu corpo esteja de pé,
na minha frente, comandando seus braços a se entrelaçarem
nos meus nessa configuração que caracteriza o abraço, esse e
qualquer outro, nesse abraço em que nossos corpos se tocaram
e que por parcos segundos senti sob a minha mão
suas costas, sua espinha dorsal e suas costelas sob meus dedos,
em que senti ou intuí que seu coração batia ali dentro
comandando a maquinaria do seu corpo, impulsionando
sua vida, pensamentos, sonhos, memórias, a prosseguir
no dia, no tempo, sob a minha mão espalmada em
suas costas, sob a pressão delicada (ou dedicada) dos
meus dedos, o arcabouço que protege sua vida,
a vida que circula em seu tronco, por míseros instantes
colados ao meu tronco, quando seus seios se
colaram ao meu peito, quando seu coração
se aproximou do meu pelo tempo que costuma
durar o abraço, na duração dos braços e do tronco,
na duração do corpo, da mão espalmada sobre suas costas,
no tempo nem imenso nem ínfimo que perdurou
nesse abraço em que se abraçaram as vidas, os sonhos,
os pensamentos, os sorrisos entrelaçados, como os braços,
como os troncos aproximados, unos quem sabe, durante
um espaço de tempo incomensurável, eu diria, mas
efetivamente sentido pelo corpo e transmitido pelos meios
elétricos e químicos ao lugar em que se dá
a geração destas palavras, em que brotam as ideias
que se armazenam e perduram no meu corpo, que se abraçam
à minha vida a partir daquele abraço que pouco
ou quase nada durou em matéria de tempo cronológico,
mas que insiste ainda agora, aqui, quando me invade
a forma do seu tronco colado ao meu naquele dia em que nos
encontramos
Simone Brantes é mestre em filosofia e cursa atualmente doutorado em Ciência da literatura (Letras/UFRJ). É poeta e tradutora de poesia. Publicou três livros de poemas (Pastilhas brancas, No caminho de Suam e Quase todas as noites) e teve poemas e traduções publicados em antologias e revistas como Inimigo Rumor, Polichinello, Poesia sempre, Lyrikvännen e Action poétique. Seus ensaios sobre filosofia e literatura foram publicados em revistas como Revista Viso. Cadernos de estética aplicada, Ítaca e Sophia.









