Amora Pêra, Thiago E.: botes, gatos e outros modos

Y arriba tapadas de nubes se iban abriendo las largas playas
Raúl Zurita
O filósofo argelino Jacques Derrida, nascido em El Biar, anota a partir da ideia de uma memória de cegos que uma inscrição da memória vem como um evento para dar graças. Diz ele que “observar a lei para além da vista, ordenar a verdade à dívida, dar graças ao dom e à falta, ao devido, à falha do é preciso (il faut): do é preciso ver (il faut voir), de um resta ver (il reste à voir) conota ao mesmo tempo a superabundância e a fraqueza do visível, o demasiado e o demasiado pouco, o excesso e a falência”. O poema, assim, passa a ser uma observação e uma ética: aquilo que é para “tomar uma satisfação” (como está num pequeno poema de Horácio Dídimo, “O pássaro”), porque toda ética é também uma falta, e é porque ela está sempre em falta que ela é exatamente justa. O poeta Michel Deguy reelabora esta questão, de outros modos, ao comentar uma tradução de uma linha de Hölderlin, de 1808, no poema Andenken [Memória]: “Was Bleibet aber, stiften die Dichter” [Mas o que permanece, os poetas o fundam]. Ao preferir, numa virtualização da linha, “Os restos, a arte os reexpõe” e, ainda, “Aquilo, os poetas o reexpõem”.
O poema é uma “experiência compatível” porque vem como “uma arqueologia incansável do pensamento”: DIZER. Para Michel Deguy só nos resta dizer, o poema é um Dichtung (tal como apresenta Heidegger): um dizer, um ter a dizer, um dizer aquilo que resta, dizer o nosso horror porque toda obra de arte é feita de horror. Como preferia Joaquim Cardozo, engenheiro calculista e poeta assombroso, exatamente numa justa, numa luta ética, sempre em perspectiva oscilante e ambivalente, bipolar, quando escrever não tem importância alguma: DIZER é compor um volume vazio, tocar o ponto furo da imagem em seu volume no vazio intangível, dizer é não abrir mão da responsabilidade ética de dizer, tomar posição, uma existência. O que se pode tomar do poema, como uma emergência e uma exigência, é que se equilibre entre um pensamento radical, se impossível, ou que ele parta pra porrada, de vez. E aí, essa raspa maneirista dedicada à vivência, sem o rasgo insano da experiência dos dias – corte, ferida aberta e sem cicatrização – e que se banha de lirismo pessoalizado, anotações da biografia do umbigo, esta fadiga, não passa de mera indiferença e frieza ao mundo que, moribundo, não cessa de morrer. Tal como anota Catherine Malabou: um novo ser, o de agora, é, patologicamente, apenas plasticidade destrutiva, vala aberta pela biografia, figura inédita de vazio e sem tragédia. Espécie de Gregor Samsa, inseto bosteiro, sem fome de vida, sem raiva, sem desejo de nada.
Nesse espaço genealogicamente vazio, quando a esperança é quase uma peste psíquica, um modo e outros modos, como pensava Spinoza, entre consciência e sensibilidade, persiga-se o poema de Amora Pêra, como está em seu livro recente, Bote (Dantes), e o de Thiago E., os gatos quando os dias passam (7 Letras), por exemplo. Amora e Thiago também vêm do plano da canção: ela com seu disco Adúpé, que é um “muito obrigado” plural em iorubá, Thiago com suas participações na banda Validuaté, da qual fez parte durante um tempo. Ela com uma pequena série de livros que conversam também com as figurações do animal, como Quando a cavala deita (Cartoneira Caraatapa, 2013) e Como tombar um paquiderme (Bem-te-li, 2019); ele com poemas enfiados no seu Cabeça de sol em cima do trem (Corsário, 2013), como o impressionante e breve “Peixe francês”, um vórtice espiralado que monta e remonta uma pergunta sem saídas: “será que existem maiores máguas”. Ler, ao mesmo tempo, poetas que se aproximam em certos sentidos, mas que, de fato, são imensamente díspares, pode provocar uma saliência às noções de linha, plano, corpo, política etc.
Thiago E., nascido em Teresina, no Piauí, monta este livro em torno da figura felina do gato numa experiência de observação construída, inventada, toda artificial. Importante lembrar de Charles Bernstein, poeta norte-americano que, a certa altura, disse que é muito importante que se possa, ainda, nesses instantes de agora, tocar alguma poesia, mesmo que artificial. E é a partir dessa natureza repensada, entre fome de vida e gozo, que a presença supostamente humana diverge da delicadeza dos gatos, que nunca se deixam domesticar e que habitam uma metafísica surpreendente como a de que têm 7 ou 9 vidas. Há um reconhecimento amoroso nesse convívio, vínculo e fúria, nos poemas e fotografias que Thiago fez questão de imaginar como uma composição: imagens de ânsia, medo, nervo, tristeza, calma, caminho, planta, baba, rachadura, parede, cheiro etc. que nunca estão nos gatos, porque nunca sabemos do que um gato é capaz quando nos olhos profundamente os olhos, apenas, cretinos que somos, passamos a delirar um código de enlace e comunicação que não há, nem haverá nunca: “somente loucos falam com paredes / ninguém escuta a dor das rachaduras”.
Thiago E. é um poeta que conhece a forma, como ninguém (rejeite-se aí a ignorância poética de boa parte da produção que se dilata como “contemporânea”, logo, instintivamente conservadora e tola), e é com esta pequena ciência imprestável que ele joga (leia-se aí o poema “Jogo”, uma quadratura desenhada que lembra a intuição de Joaquim Cardozo em “Poema para uma voz e quatro microfones”), para indicar o “animal comum que sou”. Tanto que há uma série encantada de haicais espalhados pelo livro, traçando o percurso de um Bashô com gatos e sem perder de vista o que se fez com esse brinquedo – como Paulo Leminski ou Wilson Bueno – na poesia brasileira mais inteligente: “sem conhecer a árvore / a criança diz que a gata / subiu no pé-de-pau” e “três gatos na rua / bebem do cano quebrado: / bê-erre-ó bró”. Além da habilidade com esta pequena forma e com a construção das imagens, há aí também o uso de expressões que são o gesto de um “onde está”, arqueologia de terra e mundo que imprimem noções de região, território, paisagem, lugar. E poemas mais longos, como “elurofilia”, este carinho intenso e extremo por gatos, que só sabe quem se lança ao vínculo do animal para que, como um res a missa, quiçá, possa tocar a retratação de nossa animalidade perdida e engolida por um caráter civilizatório recheado de medo: o medo do bicho é, certamente, a nossa maior falência. E o belíssimo e forte “a casa construída com maíra” que recupera desde o papa Gregório IX que associou felinos às bruxas até os cultos pagãos e a invasão violenta das cidades que construímos à revelia de tudo e que deixaram os gatos à míngua, sem selva: “quanta gente enganada pela fuligem / repete não gostar de gatos, sem ciência?” e “dormindo sob as plantas o que as gatas sonham? / a folha do imbé é um coração comprido”.
Na outra ponta, sem ata, o livro de Amora Pêra remete ao empenho da vida, desde a epígrafe de João Cabral, de Morte e vida severina – “é difícil defender, / só com palavras, a vida, / ainda mais quando ela é / esta que se vê, Severina…” – e das gravuras de Guga Ferraz, além de nos lembrar que estamos, habitamos e moramos em território indígena que nunca nos foi cedido, mas sim arrancado desses cosmogônicos primitivos. Bote pode ser lido como uma embarcação, heterotopia incansável, salva vidas etc., mas também como um verbo que tem muito mais uso na região nordeste do Brasil, tanto como transitividade que faz perder o fio, a ponta; quanto arrombar, abrir com força e, ainda, colocar, deixar ao lado, dispor. Essa abertura de intensidades do livro de Amora, uma disposição, nunca uma exposição, tem a ver com uma tomada de posição, um caráter, muito forte em direção às perspectivas que, em todos os poemas, se desenham página a página. Num salto, em “parêntesis para zurita”, dedicado ao poeta chileno Raúl Zurita, preso e torturado pelo regime totalitário de Pinochet, ela diz da inscrição da coragem na carne, do esforço da areia até a memória, “hasta que explote / el poder”. E aí está todo o movimento não só deste livro de Amora, agora, mas de todo o seu trabalho: explodir com qualquer ideia de poder, venha de onde vier, venha como vier, porque sabe que o poder é um só. Algumas canções de Adúpé já removem esta pertinência, como “Belong”, que é talvez a mais bonita do disco, ou “Canto cigano de uma longa noite de trabalho”, uma inferência expandida entre povo, língua, terra e despossessão.
Amora é carioca, mas carrega consigo laços impetuosos da região nordeste, e isto aparece no canto, na música, nos poemas. Principalmente, numa memória de quem carrega no corpo a cigania do corpo que é, livre e por dentro, sem meia palavra, sem meio espaço, sem meio tempo, sem desconfiança ou desconversa. A impressão, texto impresso, tinta e mancha, é a de que não está para brincadeira, todo o gesto de seu trabalho é muito à sério. E aí está o lance: diante do trabalho de Amora Pêra estamos diante da porrada. Como ela mesma anota, não à toa, num poema que se intitula, ironicamente, “à meia tarde”: “rumo avesso à experiência babélica / corro pra janela e grito:”. Daí, as imagens que giram e se engendram em torno da mulher, dos quilombos, da liberdade, da dignidade etc., como está no lindo e longo poema “tia netinha”: “desde toda a sua liberdade”. Mas é praticamente no meio do livro que está um poema de página, bilíngue, em espanhol e português, que lacera o jogo de Amora entre encanto e aniquilamento, mar e mãe, orixás, tambor e errância e tantas outras imagens que vêm, quando “el corazón es un perro”, “y con dientes / late”. No poema, na versão em espanhol, ela inscreve: “el hijo de la puta / sabe de donde há brotado / y en su inolvidable ruta / conoce el caminho del venir / ve desde adentro su primero cielo / moldurado / conoce regado la linda carretera infinita / y no temerá / la concha de su madre // no hay fuerza más grande que de la embocadura / liberal de mamá / la goma roja / y sus muelas blanco amarilleadas / de maxilar elástico // el hijo de la dada / por paso drástico inaugural / pasa los labios / que no les regalará eufemismos / que no sea puerto o puerta / y toda la vida volverá pallí // el placer es placer / pero puede ser trabajo / y también duele mucho / pero también hace nascer carajo”.
O poema – se um animal que ri, àqueles que dispõem de coragem e se dispõem a reexpor o que resta, como um dizer, e dizer no talo quando dizer não é meramente falar (“verás el hambre / verás un país de sed / verás cielos en fuga”, anota Raúl Zurita) e quando não há medo para enfrentar o bicho, o animal, este espectro que imaginamos domesticar, obrigados que somos a partir da violência da lei e por causa das imposições da única e absoluta ideia civilizatória que criamos – talvez acolha nossa ignorância de que tudo sabemos, Teseu resgatado. Ou, noutro impasse, Perithous, que Hércules não conseguiu resgatar, e ficou lá, no subterrâneo profundo, esquecido de si mesmo. Amora Pêra e Thiago E., outros modos, outros modos, nos lembram que o debate, cada vez mais, se com o corpo disposto e reexposto, neste país e nestes tempos de agora, tem a ver com dignidade.
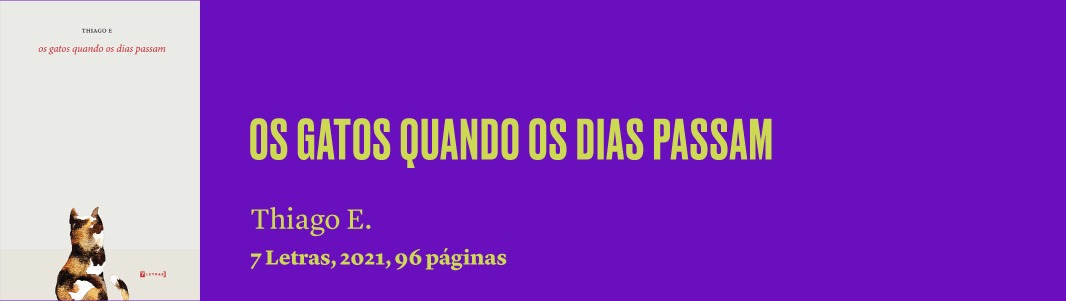

Manoel Ricardo de Lima é professor de literatura, UNIRIO. Publicou O método da exaustão (Garupa, 2020), Avião de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart e Mayra Redin), Falas Inacabadas (Tomo, 2000, com Elida Tessler), entre outros. Organizou recentemente Uma pausa na luta (Mórula, 2020) com a participação de 70 pessoas e juventude, alegria (Mórula, 2021, com Davi Pessoa).
[por Redação]
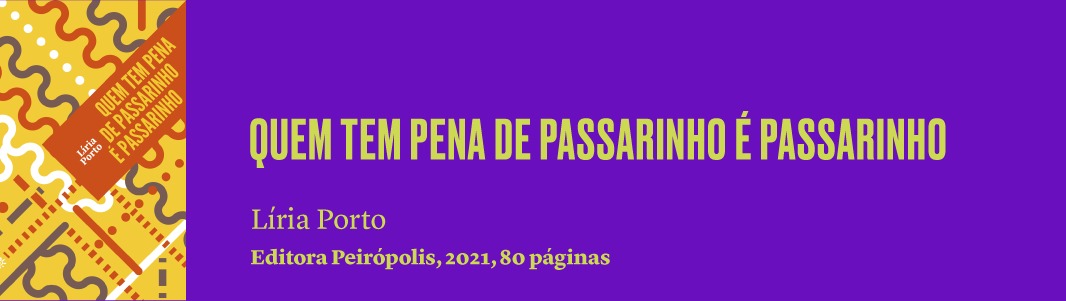 “Tentativa de reagir a um mundo em que a natureza é explorada à exaustação pela utilidade ao ser humano”, com uma natureza que foge ao individualismo romântico “para o resgate de uma espiritualidade não num plano celeste, mas em nível terrestre”. Assim a escritora Marilia Kubota define Quem tem pena de passarinho é passarinho, novo livro da poeta mineira Líria Porto. No haikai ou em versos livros, é a natureza, efetivamente, que ocupa as preocupações da escritora. Como comenta Ana Elisa Ribeiro, que assina o posfácio, “se fosse possível ver a poesia da Líria Porto, seria talvez por meio de traços finos, mas enérgicos, firmes em seu voo planado; uma expectativa de vir algo leve, mas vem uma pedra, depois o contrário, e vem uma pluma”.
“Tentativa de reagir a um mundo em que a natureza é explorada à exaustação pela utilidade ao ser humano”, com uma natureza que foge ao individualismo romântico “para o resgate de uma espiritualidade não num plano celeste, mas em nível terrestre”. Assim a escritora Marilia Kubota define Quem tem pena de passarinho é passarinho, novo livro da poeta mineira Líria Porto. No haikai ou em versos livros, é a natureza, efetivamente, que ocupa as preocupações da escritora. Como comenta Ana Elisa Ribeiro, que assina o posfácio, “se fosse possível ver a poesia da Líria Porto, seria talvez por meio de traços finos, mas enérgicos, firmes em seu voo planado; uma expectativa de vir algo leve, mas vem uma pedra, depois o contrário, e vem uma pluma”.
 O desejo no título do livro (bem como seu título original, The Playstation Dreamworld) aponta para uma das principais facetas da obra do professor inglês Alfie Bown: a psicanálise. A partir dos games e da análise dos sonhos, o autor investiga as novas tecnologias digitais e sua relação com as configurações humanas e sociais. Como o autor argumenta na introdução do livro, “o século 19 costuma ser descrito como a era da intoxicação, mas é agora, por meio de nossos telefones, consoles, óculos de realidade virtual e computadores, que a vida realmente parece, mais do que nunca, um sonho”.
O desejo no título do livro (bem como seu título original, The Playstation Dreamworld) aponta para uma das principais facetas da obra do professor inglês Alfie Bown: a psicanálise. A partir dos games e da análise dos sonhos, o autor investiga as novas tecnologias digitais e sua relação com as configurações humanas e sociais. Como o autor argumenta na introdução do livro, “o século 19 costuma ser descrito como a era da intoxicação, mas é agora, por meio de nossos telefones, consoles, óculos de realidade virtual e computadores, que a vida realmente parece, mais do que nunca, um sonho”.
 No primeiro romance da escritora catalã publicado no Brasil, acompanhamos a trajetória de Paula, médica neonatologista que, casada há 15 anos e com uma carreira consolidada, vê sua estabilidade ruir de uma hora à outra: seu companheiro confessa ter uma amante e, horas depois, morre em um acidente. Luto, rancor e inaptidão são alguns sentimentos que enfrenta enquanto processa os últimos acontecimentos de sua vida em um apartamento repleto de plantas, que são contraditoriamente os seres que representam-lhe os laços humanos mais próximos.
No primeiro romance da escritora catalã publicado no Brasil, acompanhamos a trajetória de Paula, médica neonatologista que, casada há 15 anos e com uma carreira consolidada, vê sua estabilidade ruir de uma hora à outra: seu companheiro confessa ter uma amante e, horas depois, morre em um acidente. Luto, rancor e inaptidão são alguns sentimentos que enfrenta enquanto processa os últimos acontecimentos de sua vida em um apartamento repleto de plantas, que são contraditoriamente os seres que representam-lhe os laços humanos mais próximos.










