As Benevolentes: da literatura ao teatro

FOTOS Bob Sousa
Sociopatologia da vida cotidiana
Flávio Ricardo Vassoler
1) A dialética do senhor escravo
Ucrânia, 1941. Conheçam Maximilien Aue, oficial da temível SS nazista (Shutzstaffel, “Tropa de Proteção”) e protagonista do romance As Benevolentes (Editora Objetiva, 2007), do escritor franco-americano Jonathan Littell.
Cínico, erudito e mórbido, eis que Aue, do alto de seu púlpito narrativo, nos apresenta a dialética do extermínio a enredar o ápice do sadismo à compaixão:
Eu agora creio que consigo entender melhor as reações dos homens e dos oficiais durante as execuções. Se eles sofreram, não foi apenas por causa do cheiro putre e da visão do sangue, mas por causa do terror e do sofrimento moral das pessoas contra quem eles atiravam; da mesma forma, suas vítimas frequentemente sofriam mais por causa do sofrimento e da morte, diante de seus olhos, daqueles a quem elas amavam – esposas, pais e filhos queridos – do que por suas próprias mortes, as quais chegavam até eles, ao fim e ao cabo, como uma redenção. Em muitos casos, assim dizia de mim para mim, o que eu tomava por sadismo gratuito, a brutalidade incomensurável com a qual alguns homens tratavam os condenados antes de executá-los, não era senão uma consequência da piedade monstruosa que eles sentiam e que, incapaz de se expressar de outra maneira, se transformava em raiva, uma raiva impotente e sem objeto, uma raiva que, assim, de forma quase inevitável, tinha que se voltar contra aqueles que originalmente a provocavam. Se os terríveis massacres do Leste Europeu provam alguma coisa, ora, é que, paradoxalmente, nós chegamos à terrível e inalterável solidariedade humana. Ainda que nossos homens tenham se brutalizado; ainda que eles tenham se acostumado com o horror, nenhum de nossos homens poderia matar uma judia sem pensar em sua própria esposa, em sua irmã, em sua mãe, ou matar uma criança judia sem ver diante de si mesmos seus próprios filhos. Suas reações, sua violência, seu alcoolismo, as depressões nervosas, os suicídios, minha própria tristeza, tudo isso demonstrava que o “outro” existe, que ele existe como um outro, como um ser humano, e que nenhuma vontade, nenhuma ideologia e nenhum punhado de estupidez ou álcool podem quebrar esse vínculo, que é tênue, porém indestrutível. Isso é um fato, não uma opinião
(em tradução livre feita a partir da edição inglesa).
Para além da ironia letal de Aue a reconhecer a dignidade ontológica da alteridade quando o “outro”, em meio às valas e charcos, já não tem rosto e pulsação, há elementos em sua fala que, potencialmente, nos permitiriam entrever que a mão que fere é a mesma mão que pode curar.
Os membros dos pelotões de fuzilamento e os carrascos a brandir suas clavas e punhos não ouvem apenas o horror dos disparos e pancadas. Eles ouvem o desespero das súplicas e o último refúgio das orações, eles inalam o ar viscoso do Não matarás, eles veem os rostos dilacerados dos mortos e de seus entes amados – a mãe ordena ao carrasco que a mate sem mais após assistir à execução de seu bebê, ela arremete contra o fuzil e luta, encarniçadamente, contra a própria sobrevivência.
O sofrimento físico escatológico turva a dialética do senhor e do escravo.
Maximilien Aue fulmina suas vítimas com mais e mais sofreguidão, a prática dolosa já lhe permite distinguir, entre os múltiplos guinchos e ganidos, a ruptura do esterno do esfacelamento de mais uma costela, ele evita dar bicudas com o coturno – o inchaço de seus punhos chega a excitá-lo: é quando o carrasco sente o exercício da violência, o eriçamento de seu corpo e a descarga adrenalínica como a ejaculação da vontade de poder. Mas, ao mesmo tempo, a torrente presencial de sadismo começa a inocular no verdugo a projeção reversa da dor – “E se fosse minha mãe, e se fossem os meus? Eu também tenho um corpo que dói!” Neste momento, o legista Maximilien Aue, a dissecar os paroxismos humanos, transforma a faca do assassino em bisturi, de modo a descobrir, sob o sadismo doloso, um veio paradoxal de ódio por si mesmo e compaixão pela vítima que ainda não morreu. Assim, é preciso bater mais e melhor, é preciso disparar o tiro de misericórdia.
Ao alcançar o ápice, o sadismo se reverte em masoquismo e dor conjunta. O oficial da SS nos diz que pode haver compaixão no assassínio. Com o tempo, as explosões de náusea e vômito, os pesadelos, o espancamento da esposa e da amante, dos filhos e dos subordinados, o alcoolismo e o suicídio, tudo isso irrompe como a impotência do senhor que se vê aguilhoado à prática senhorial do extermínio sem poder exterminá-la. Eis que Maximilien Aue, do alto e do charco de seus assassínios, nos revela a dinâmica da dialética do senhor escravo.
2) Na natureza (humana), nada se cria, nada se perde, tudo se transforma
O sofrimento físico escatológico turva a dialética do senhor e do escravo quando é compartilhado, quando é presencial.
Poucas páginas depois de Maximilien Aue ter esboçado a dialética do senhor escravo, ficamos sabendo que outro oficial da SS – ninguém menos que Adolf Eichmann – teria ido à Ucrânia para otimizar a logística de extermínio.
Quer dizer que os carrascos estão recobrando sua humanidade em face do paredón?
Quer dizer que altos índices de alcoolismo e suicídio vêm reduzindo a produtividade letal?
Assim determinou Adolf Eichmann:
– Ora, caro oficial Aue, coloquemos em prática a oração que Nosso Senhor, o judeu Jesus Cristo, nos ensinou: “Deixa que os mortos enterrem seus mortos” (Mateus, 8-22). Selecionemos a dedo os judeus de nossa confiança que substituirão os alemães no ofício do extermínio dos próprios judeus. [Tais judeus, é claro, logo serão substituídos e exterminados, mas a esperança da sobrevivência bem poderá ensiná-los a ser efetivamente pró-ativos em suas tarefas. (Verdadeiros funcionários do mês.)] Nossos oficiais arianos apenas supervisionarão a devida execução dos serviços e se postarão ao redor das valas segundo os parâmetros de salubridade determinados pelas normas de segurança do trabalho. Até que o programa de extermínio de débeis mentais por meio da asfixia com monóxido de carbono na carroceria de furgões e em hospitais de nossa rede credenciada, em Berlim, seja inteiramente expandido pela rede multinacional de câmaras de gás de nossa Endlösung (“Solução Final”), os oficiais da SS postados a uma distância moralmente segura das fossas de extermínio e guarnecidos por protetores auriculares só deverão disparar contra os elementos judaicos – vítimas e/ou carrascos – se eles exorbitarem de suas funções em meio à nossa dinâmica de produção. Quando o gás Zyklon B transformar os antigos carrascos em meros operadores das câmaras de gás, a morte industrialmente administrada não passará de uma antinomia físico-química. As portas e paredes espessas vedarão o choro e o ranger de dentes. Todas e cada uma das etapas serão executadas com os mais apurados profissionalismo e impessoalidade. A partir da triagem a discernir entre aqueles destinados a trabalhos forçados e aqueles destinados à cremação final, não deve haver nada fora do script. Nada de diálogos supérfluos, soslaios e contatos. Nossos oficiais devem ser equivalentes a placas de direção e instruções. Dos trens de gado para a triagem; da triagem para a lida e/ou para as câmaras de gás; nas câmaras de gás, remoção de dentes de ouro e últimos resquícios que, eventualmente, não tenham sido removidos pelas etapas prévias de triagem; das câmaras de gás aos fornos crematórios; dos fornos crematórios à terra, como adubo, e ao ar, como fuligem – e como prenúncio para os que ainda respiram. Na natureza humana, caro oficial Aue, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
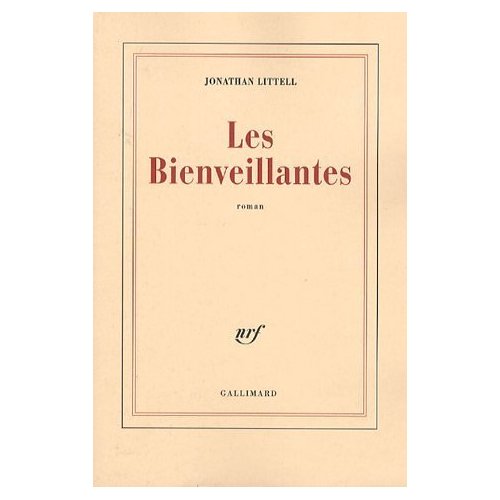
3) A mão que já não fere é a mesma mão que pode curar?
E se nosso capitalismo tardio estiver parindo, cotidianamente, o aborto de Maximilien Aue e Adolf Eichmann?
No documentário Sob a névoa da guerra (2003), direção de Errol Morris, Paul Warfield Tibbets Jr., brigadeiro-general da Força Aérea dos Estados Unidos e comandante do avião que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, revela que havia muita curiosidade entre os militares, cientistas e políticos a respeito das consequências da explosão do Little Boy. Testes haviam sido realizados em locais ermos e desérticos dos EUA, mas todos estavam muito instigados para ver quais seriam os efeitos da liberação do cogumelo atômico em uma cidade real – ou melhor, em um laboratório a céu aberto.
Quando perguntam a Tibbets se ele sente algum tipo de culpa pelo aumento de temperatura da ordem de 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) graus centígrados e pela pulverização instântanea de 200.000 (duzentas mil) pessoas em Hiroshima – isso sem contabilizarmos as vítimas do collateral damage por causa da contaminação nuclear por anos e anos a fio –, o brigadeiro-general é categórico:
– Hiroshima e, posteriormente, Nagasaki salvaram a população japonesa da extinção. Quantos milhões de mortos ainda não haveria se o Little Boy e o Fat Man não coagissem o imperador Hirohito à capitulação incondicional?
Vale frisar, ademais, que o filho dileto Paul Warfield Tibbets Jr. batizou o avião que ejaculou o menininho Caim sobre Hiroshima com o nome de sua mãe, Enola Gay.
O oficial da SS Maximilien Aue espanca suas vítimas com sofreguidão e, no limite da selvageria em meio à lama, ao sangue e aos ganidos, redescobre o ímpeto pela compaixão diante do “outro” que se contorce, diante do mero corpo que, ao contrapor a mão como derradeiro escudo, mimetiza o animal trêmulo em sua sanha por sobrevivência. A mão que fere é a mesma mão que pode curar.
O brigadeiro-general da Força Aérea dos Estados Unidos Paul Warfield Tibbets Jr. está a quilômetros de distância de suas vítimas. Ele não precisa golpear, ele não precisa se sujar, ele não precisa (fazer) sofrer. Após o cumpra-se do presidente Harry Truman, o piloto do Enola Gay só precisa apertar um botão. E agora: a mão que já não fere é a mesma mão que pode curar?

4) A mão que brinca é a mesma mão que pode curar?
São Paulo, 19 de março de 2003. Canais de televisão aberta apresentam, ao vivo, a invasão promovida pelas tropas norte-americanas ao Iraque. Com a mesma visão noturna dos soldados, os telespectadores da CNN assistimos ao brilho verde-fosforescente dos foguetes que rasgam a noite de Bagdá enquanto o comentarista militar – e a canhestra tradução simultânea – disseca(m) o incomparável poderio bélico dos EUA. As tomadas cinematográficas panorâmicas não dissecam, no entanto, o choro e o ranger de dentes dos civis, os corpos retalhados entre e sob os escombros, os corpos cubistas a se confundirem com os escombros. (O ex-presidente Bill Clinton já sentenciara que, em tais circunstâncias, as mortes, ou, em termos precisos, as baixas civis constituem um collateral damage. Sendo assim, o show business transforma o suspiro cúmplice e impotente do telespectador na sublimação dos punhos inchados de Maximilien Aue.)
Ao meu lado no sofá e sumamente desapontado com o espetáculo da guerra, Vitinho, 9 anos, filho da dona da república de estudantes onde eu moro, só faz balançar a cabeça de lado a lado.
– Tsc-tsc-tsc, mas que droga! Então isso é que é a guerra? Então isso é que é a guerra de verdade? Mas que droga, tsc-tsc-tsc!
Sumamente curioso, interpelo o Little Boy sem mais:
– Ué, Vitinho, mas o que é que você esperava? O que que é uma droga aí?
Vitinho, verdadeiro comentarista militar mirim, começa a discorrer sobre a pouca realidade da guerra televisionada em comparação com seus jogos de video game. “Lá eu escolho a arma que eu quero – tem 12, Uzi, AK-47, taco de baseball, soco inglês, tem de tudo. Lá eu explodo escolas, creches e hospitais. Lá dá pra simular fuzilamentos e torturas. Lá dá pra simular estrupos – ‘Estupros, Vitinho!’, corrige a tempo a mãe/dona da república – e atropelamentos. Daí que essa guerra aí na televisão não é de nada. Lá no video game é que a coisa é real”.
Consta que, em uma entrevista concedida anos após o atentado de 11 de setembro, o cineasta Steven Spielberg teria opinado sobre a razão pela qual o ataque às Torres Gêmeas não teria dado à luz um grande clássico de Hollywood:
– Quando a realidade supera a ficção, já não é possível representá-la.
Qual seria a versão de Vitinho, nosso Little Boy, para a opinião de Steven Spielberg?
– Quando a ficção supera a realidade, já não é preciso reapresentá-la.
Após o Game Over, Vitinho só precisa apertar continue para reiniciar a guerra.
E agora: a mão que brinca é a mesma mão que pode curar?
5) Faroeste caboclo
São Paulo, 23 de junho de 2015.
A partir de imagens captadas junto ao helicóptero da PM, programas policiais da TV aberta mostram, ao vivo, a perseguição a dois suspeitos a bordo de uma moto pelas imediações da Marginal Pinheiros.
A retórica inflamada dos apresentadores eleva a tensão dos telespectadores – e os índices de audiência.
Súbito, o suspeito na garupa da moto arremessa um capacete contra a moto do policial, “que balança, mas não cai!”
Estamos, vale frisar, ao vivo e em cadeia nacional.
Após uma curva sinuosa, a moto dos suspeitos se desequilibra e acaba caindo junto a uma calçada – o policial vem logo atrás.
A cena a seguir poderia fazer parte de um filme de Quentin Tarantino. Mas, como já nos ensinou o Little Boy Vitinho, quando a ficção supera a realidade, basta transmiti-la ao vivo e em cadeia nacional.
A câmera junto ao helicóptero da PM nos mostra, quase em slow motion – e para deleite dos apresentadores e dos milhões de telespectadores –, a aproximação da moto policial em relação aos suspeitos estirados na calçada.
Assim que a moto policial pára, o close da câmera brasileira de Tarantino nos mostra a sequência vertiginosa de quatro – um, dois, três, quatro – tiros à queima-roupa.
– Bang, bang, bang, bang! – disparam os apresentadores e os telespectadores conjuntamente.
Quiçá atordoado pelo desenlace do faroeste caboclo ao vivo e em cadeia nacional, um dos apresentadores, conhecido por sua retórica de repúdio aos direitos humanos, tem uma atitude inusitada:
– Olha lá, olha lá, olha lá, eu não sei, não, mas pode até ter havido desproporção aí, talvez a gente tenha visto uma execução – é verdade que os bandidos estavam agitando os braços, talvez eles estivessem armados, mas parecia que eles estavam com as mãos para o alto, que estavam se entregando… Olha lá, olha lá, olha lá, eu não sei, não, mas a gente pode ter visto uma execução!
Quando um defensor contumaz da pena de morte e dos “direitos humanos para humanos direitos” (i) atribui aos dois suspeitos estirados sobre a calçada o princípio de presunção da inocência e (ii) levanta a possibilidade de que tenha ocorrido uma execução, realidade e ficção se entrelaçam para transmitir, ao vivo e em cadeia nacional, a realidade ficcional de nossa sociopatologia.
Imediatamente após as declarações inusitadamente democráticas do apresentador do programa policial, seus seguidores e discípulos – entre os quais Vitinho, nosso outrora Little Boy – assim começam a se pronunciar no Twitter e nas demais redes sociais:
“Tá com peninha de bandido?! Leva pra casa, então!”
“Ficou mole agora!? Cadê a cadeia nacional?!”
“Agora é só oficializar a pena de morte. Larga o aço na vagabundagem – e em quem tem dó de bandido!”
O maestro já não precisa reger a orquestra.
A clava de Maximilien Aue, o botão de Paul Warfield Tibbets Jr. e o joystick do Little Boy Vitinho já se transformaram em nosso controle remoto.
Flávio Ricardo Vassoler é escritor e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP.

Os impasses de uma transgressão
Welington Andrade
“Senti de repente todo o peso do passado, do sofrimento da vida e da memória inalterável e fiquei sozinho com o hipopótamo agonizante, alguns avestruzes e os cadáveres, sozinho com o tempo e a tristeza e a dor da lembrança, a crueldade da minha existência e a minha morte ainda por vir. As Benevolentes haviam encontrado meu rastro”. Jonathan Littell
O nome com que o escritor norte-americano educado na França Jonathan Littell batizou seu primeiro romance – Les bienveillantes [As benevolentes] –, publicado em 2006, mesmo ano em que a obra foi agraciada com o prestigiado prêmio Goncourt, remete diretamente ao teatro. Benfazejas ou benevolentes são os eufemismos que as línguas latinas usam para tratar da forma grega, aqui transliterada, Eumênides, pela qual o tragediógrafo Ésquilo (525/4-456 a.C.) nomeou a última peça de sua Oresteia – trilogia constituída também por Agamêmnon e As coéforas (“portadoras de oferendas”) –, que trata dos eventos funestos que se abateram sobre a geração dos Atridas.

Após Clitemnestra ter chacinado o marido Agamêmnon para vingar a morte da filha de ambos, Ifigênia, perpetrada pelo próprio pai, e de ter sido morta, por sua vez, pelas mãos de seu outro filho, Orestes, as fúrias vingadoras da mãe assassinada começam a perseguir o filho maldito, com o intuito de levá-lo à loucura. Orestes, então, suplica a Atena que o ajude, sendo prontamente atendido pela deusa, que institui um tribunal – o primeiro a julgar um crime de homicídio – responsável por declarar se o réu é culpado ou inocente. Como ocorre um empate entre os juízes, e Atena já havia declarado que, caso isso viesse a acontecer, seu voto de desempate (o famigerado “voto de Minerva”) seria contado a favor de Orestes (“in dubio pro reo”), as Erínias, deusas que na mitologia greco-latina representam a fúria com que se devem punir os crimes cometidos entre consanguíneos, anunciam que irão amaldiçoar a cidade de Atenas e trazer toda a sorte de infortúnios para a região. É o momento em que Atena promete àquelas entidades ancestrais que os atenienses passarão a prestar, a partir de então, eternas honrarias às Erínias (cujo étimo grego alude à ideia de “perseguir com furor” ou “estar furioso”) – convertidas, assim, por meio do processo de apaziguamento tão bem conduzido pela deusa da justiça, em divindades benfazejas, isto é, benevolentes.
Inúmeras são as possibilidades de leitura para o nome do romance de Littell, adaptado para teatro por Valderez Cardoso Gomes e transformado em um espetáculo-solo no qual o ator Thiago Fragoso é dirigido por Ulysses Cruz. Os campos semânticos instaurados em torno do título do romance – no qual o ex-oficial da SS nazista Maximilien Aue narra com frieza e distanciamento estarrecedores os principais acontecimentos que marcaram a ascensão e queda do Terceiro Reich, misturando suas memórias da guerra a fatos muito íntimos, ligados a reminiscências familiares e pessoais – são os da matéria trágica, da consciência mórbida e do sentimento de culpa.

Se não há tragédia sem conflito, mais assertiva ainda é a ideia de que o embate trágico alterna momentos de angústia, esperança, sabedoria e triunfo dirigidos sempre diretamente a nós. A ação trágica, lembra o helenista francês André Bonnard, “nos deixa ofegantes, porque nela participamos, nós, espectadores, suspensos entre o temor e a esperança, como se se tratasse de nossa própria sorte”. Não à toa, a parte, intitulada “Toccata”, com a qual Littell abre seu romance, sob a forma de uma longa apóstrofe cujo objetivo é envolver desde muito cedo o leitor (apóstrofe esta que dá o tom da adaptação teatral) termina com uma fala de acento trágico: “… sou um homem como os outros, sou um homem como vocês”, enfaticamente repetida: “Vamos, estou dizendo que sou um homem como vocês!” (Impossível não pensar na afirmação que Ulisses faz à deusa Atena sobre o infortúnio de Ájax na peça que Sófocles dedicou ao mais forte e valente guerreiro grego depois de Aquiles: “Em seu destino, entrevejo meu próprio destino”).
Em relação à morbidez que exala o tempo todo do romance, é preciso indagar a serviço do que está a razão esclarecida empregada por Maximilien Aue, cujo grande feito narrativo parece ser o de apaziguar sua consciência mórbida por meio da avaliação moderada que faz dos terríveis eventos que narra, muitos dos quais contaram, inclusive, com sua ativa participação. O mesmo se dá em relação à culpa que o narrador-protagonista não demonstra em momento algum. Segundo a tradição mitológica, as Erínias estão identificadas com a consciência, encarnando o remorso e o sentimento de culpa, que, uma vez interiorizados, conduzem à autodestruição os indivíduos que se deixam dominar pela obsessão por um erro, uma falha, um miasma considerado inexpiável. De maneira estarrecedora, as Fúrias de todos aqueles indivíduos que Aue trucidou no âmbito da matéria narrada já aparecem na esfera da enunciação narrativa como entidades benevolentes, que fracassam na condução da experiência da expiação e do remorso, mas triunfam na apreciação tranquila que o ex-carrasco faz de atos humanos abomináveis, sejam os seus mesmos, sejam os de outrem.
Ainda pensando na filiação ancestral da obra de Littell e em como ela acaba por se afastar da tradição trágico-mítica, o destino – seria mais apropriado falar somente em trajetória? – aqui não se converte em justiça, como é mister na tragédia, confundindo-se mais propriamente com a emanação mesma do Mal. O aspecto monstruoso da natureza humana penetra-se de transigência, que não contente de se traduzir por impiedade, inclina-se para a concupiscência e se torna o próprio Mal.

Desde a Medeia de Eurípides, passando pelo Macbeth de Shakespeare e pelo Fausto de Goethe, o teatro discute o problema do Mal, deixando-se atravessar pelo sentido ou ausência de sentido nele implícitos. Distanciando-se, dialeticamente, de sua origem sagrada, o palco constitui um espaço privilegiado para a profanação de todas as virtudes, para a destituição do bem do lugar onde o discurso religioso o coloca de maneira sobre-humana, totalizante, incompreensível. Seja em Ibsen, Artaud ou Genet, o teatro está sempre disposto a mostrar como a razão normativa fracassa ao se encontrar com o desejo do homem de ser demasiadamente humano. Tendo em média somente um par de horas para comunicarem alguma coisa de autêntico à plateia, as personagens teatrais estão sempre correndo riscos e perigos, andando sobre o fio de uma lâmina afiada, buscando não a vida que se preserva a todo custo, vida idealizada e, por isso, não vivida, e sim “a aprovação da vida até na morte”, que, antes de prescrever “a ausência de moral”, exige em seu lugar uma “hipermoral”, conforme postula Georges Bataille em A literatura e o mal, de onde retiramos também o título do presente texto.
À crítica contemporânea não cabe emitir sanções sobre a criação teatral, monitorando, por meio de argumentos nascidos da percepção, mas fundados na teoria, procedimentos puramente práticos. Qualquer ato teatral é sempre superior ao discurso que dele vai a reboque. Diante da encenação de As benevolentes, uma anatomia do mal, por Ulysses Cruz, com Thiago Fragoso desafiando-se a viver em cena essa figura fascinante e tenebrosa que é o Maximilien Aue de Jonathan Littell, impossível não reconhecer os méritos imediatos da empreitada: o interesse pela transposição de um romance perturbador, de ação caudalosa e ininterrupta, para o palco; a direção de um encenador experiente que se atraiu por um material dramatúrgico e cênico tão espinhoso como esse; a interpretação aplicada de um jovem ator que não se furtou ao risco; uma bela cenografia e uma bela iluminação.

Entretanto, à crítica também compete formular questões cujo grande desafio é sair da esfera da pessoalidade por parte de quem exerce o ofício e pensar o teatro para além de afetos e paixões. Há na encenação de As benevolentes, uma anatomia do mal a ausência de dois movimentos que, parece, não permite à experiência potencializar todos os sentidos que ela anuncia. Primeiramente, a adaptação – em sua extensão, vale notar, por demais a capela para obra tão catedralesca – privilegia os momentos da auto-apresentação do protagonista e da descrição de um pequeno conjunto de eventos que ilustram a barbárie por onde ele transita, optando pela clássica mediação narrador/personagem, que desse modo não franqueia ao espectador o aspecto da neutralidade de que se reveste essa voz narrativa cujo grande intento é singularizar sua ficção, fundada perversamente em material histórico. Há um aspecto de coralidade estruturante na enunciação do oficial Aue que é negligenciada pela adaptação. Mais terrível talvez do que somente ouvir ao final da montagem que o oficial nazista é muito parecido conosco, seja perceber que tudo o que ele fala está disseminado na série de vozes acusmáticas que se enunciam automaticamente nos mecanismos discursivos de nossa vida social contemporânea. À esquizo-oralidade proposta por Paul Zumthor vem se somar no romance de Littell uma espécie de nazi-discursividade presente nos rumores, sibilos e murmúrios que, advindos de fontes não determinadas, nos cercam ativamente, mas não nos chocam mais.
Em segundo lugar, há uma tendência da encenação a transformar o problema do Mal em informação, em discurso, mais do que a investigar algumas formas teatrais que pudessem radicalizar o tratamento da figuração do Mal em cena. As “formas do falso” (na feliz expressão de Walnice Nogueira Galvão), espreitadas constantemente pela natureza do mal, por exemplo, seja no Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, seja n’As criadas, de Jean Genet, aqui estão ausentes, dando lugar a um conjunto de concretudes inegavelmente belo, e por essa razão insípido. Tal operação altera o modo de percepção pelo qual o espectador se relaciona com o que vê e sente. O grotesco e o nauseante não aparecem em cena. No romance, cumpre notar, a partir de certa altura, o tom médio da narrativa é invadido pelas constantes descrições das diarreias que acometem o personagem, cujas fezes líquidas mal dissimulam a figuração da moléstia, do holocausto, da escatologia.

Tudo leva a crer ser inverídica a história (lembrada pelo helenista inglês H. D. F. Kitto) de que, quando o Coro das Eumênides aparecia em cena para aterrorizar Orestes, nas encenações da peça ocorridas durante os festivais trágicos do século V a.C., na plateia, alguns rapazes desmaiavam e algumas mulheres grávidas abortavam, dada a extrema habilidade com que os espetáculos lidavam com os efeitos cênicos criados no palco, destinados a atuar sobre o estado de espírito da audiência. Mesmo assim havemos de concordar com o fato de a ação de As Eumênides ser vigorosa do começo ao fim da peça, mantendo os espectadores sob espanto constante. O mesmo efeito se dá na condução narrativa do romance de Littell por cujas 900 páginas passamos os olhos com redobrado interesse e estranha estupefação.
A atitude contemplativa que temos diante da obra vertida para o teatro, talvez, de um lado, aponte para a frágil cumplicidade que ela é capaz de estabelecer no conhecimento do Mal (uma vez mais, Bataille); de outro, somente indique o grau de embotamento com que vimos lidando com toda a sorte de sadismo e sordidez. Entretanto, se as Benevolentes, ao final do romance de Littell, despertam do torpor e acabam por se meter no encalço de um genocida, invocando a velha fúria de que se alimentam, na encenação sobre a qual ora nos debruçamos, elas jamais abandonam a posição de benfazejas, fazendo conteúdos réprobos se precipitarem em alvos de intelecção bem pensante. Ao teatro talvez não coubesse esterilizar feridas por demais abertas.
As benevolentes – uma anatomia do Mal
Onde: Clube Hebraica – Teatro Arthur Rubinstein – Rua Hungria, 1000 – Pinheiros
Quando: Até 28 de fevereiro; sextas, às 21h30; sábados, às 21h; domingos, às 18h
Quanto: de R$ 80,00 a R$ 60,00
Info: (11) 3018-8888








