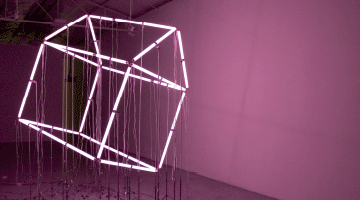Ilusão de ser «única» e outros desejos de mulheres

As psicanalistas Anna Freud, Virginia Bicudo, Sabrina Spielrein, Neusa Santos Souza, Melanie Klein e Collete Soler
Ainda que possa parecer um lisonjeiro galanteio de alguém sensível, ou que sirva como tal, a intenção, quando dizem que cada mulher é única, não é exatamente expressar o repentino vislumbre de características especiais que a ela pertençam. De fato, cada mulher dispõe de um estilo ou de uma beleza singular, o que não é virtude de mulheres, ainda menos de determinadas mulheres. A rigor, todos os seres existentes são únicos e ao mesmo tempo comuns. Há uma fisionomia que envolve cada uma das características que nos constituem enquanto humanos. Belas ou não, seria toda outra discussão sobre padrões estéticos culturalmente estabelecidos e condições materiais para mantê-los.
É certo que a paixão é capaz de destacar qualidades ou transformar defeitos em atrativos. Mas isso não faz do apaixonado alguém perspicaz e nem do alvo alguém sobrenatural. Aliás, em casos de paixão seria melhor confiar no ditado popular: “a paixão é cega”. Demandaria pouco esforço, então, deduzir o embuste da elocução repetida e inclusive reiterada em algumas complexas formulações psicanalíticas de lacanianos. “Se é como única que a mulher quer ser reconhecida […], mesmo que se satisfaça a exigência de amor, o gozo que se tem da mulher a divide, fazendo-a parceira de sua solidão”, afirma Lacan em “O aturdito”. Para notar a cilada de vestir-se pelo olhar do Outro como única, contudo, bastaria refletir sobre a quantidade de vezes em que única serviu como epíteto de mulheres.
A alguém em nítida desvantagem simbólica no campo da linguagem ratificada, é verdade que seduz pensar-se única e sentir-se notada pelo ponto diferencial. Agarrada à ilusória excepcionalidade, a mulher molda seu desejo ao desejo do Outro e ao seu reconhecimento. Quer crer na conquista de sua validação no interior do conjunto semântico mais corrente. Amada e eleita teria livre acesso e circulação no reino discursivo fálico. Quase sempre, todavia, ela se insere em tal universo marcada por uma dívida, adquirida na concessão para seu ingresso. Não é à toa, pois, que acata trabalhos invisíveis, mal pagos ou não remunerados nesse território. Logo se dá conta de que, mesmo pagando o preço, o Outro condiciona sua permanência a certas condições que a manterão, na maior parte dos casos, escravizada na eterna demanda por reconhecimento. Dificilmente a “generosidade” na concessão da chave a tal portal simbólico implicará igualdade. Se almeja ainda algum poder ou liberdade ali, corre o risco de ser difamada ou destruída – nesse mesmo campo de linguagem, não faltam etiquetas de depreciação da mulher “ousada”.
Não caberia culpabilizar quem quer que seja por tal dinâmica. O que a mulher que anseia participar da linguagem fálica não percebe é que os significantes que a encadeiam não se amarrarão pelas condições concretas e materiais de sua experiência social e política. O que não percebe é que justamente estas exigiriam outras articulações simbólicas. Cumpre, por isso, perguntar-se: ainda que reste alguma beleza no enlace que resulta dessa montagem, convém às mulheres manterem-se nela?
Talvez o bordão da mulher única encubra outra natureza de questões e signifique algo menos glorioso pelo qual devesse se orgulhar. A psicanálise ensina que a repetição insistente resguarda o teor de verdade de um sintoma. Se considerada sintoma, qual verdade latente pulsaria da expressão mulher única?
Exaltar para dominar é um velho truque que não perde sua eficácia. Amaina tensões, desarma ou amansa resistências, dissolve a raiva, conquista áreas. Em resumo: o cortejo sedutor arrefece impulsos revolucionários. Única pode não revelar a qualidade apreciada e que encaixa perfeitamente uma determinada mulher no desejo do Outro. Por estar no registro fálico, ao Outro pode de fato soar estranha e atraente a voz da mulher que se faz escutar. Dito de outro modo: não é incomum a surpresa diante de articulações inusitadas em meio aos arranjos da lógica fálica. O Outro não a engana por completo ao chamá-la de única – a mulher não deixa de ser estrangeira na composição daquele léxico. Seu discurso assume ali ritmos descompassados. O problema ocorre quando a marca que distingue sua voz e quer-se reconhecida é colonizada pelo Outro, que dela se apossa para convertê-la em valor de troca nesse mesmo território. Ou seja, de certa perspectiva, a mulher, cuja voz quer fazer-se ouvir, notará que suas palavras frequentemente cairão no vazio ou terão valor exótico e venal no quadro fálico. Sublinhar sua diferença no interior daquela articulação como algo único pode ser convite para que ela se sinta reconhecida e ali se estabeleça. Neste lugar, supostamente conquistado como exclusivo, não raro estará destinada a uma posição secundária, servindo a seus mestres ou dando-lhes de presente suas preciosas contribuições para que eles delas se utilizem.
Em outro campo simbólico, mais escondido, ela encontrará vozes que ressoam na dela. Daí o equívoco da frase de Lacan anteriormente citada. Aquelas que, de alguma maneira, alçam a voz não estão isoladas ou lançadas à solidão. Pode ser que cada uma sinta-se assim se não olhar para os lados, se não escutar vozes que abrem outros conjuntos semânticos e outras esferas simbólicas. Talvez ela só observe a existência de outros terrenos linguísticos e simbólicos quando tomar coragem de torcer sua língua. Só então descobrirá que nunca esteve só, que outras, como ela, já falavam outros idiomas e que suas palavras não eram desconexas. Deve-se, por conseguinte, reavaliar com alguma severidade explicações teóricas como as de Jacques Lacan, esmiuçadas por Collete Soler em O que Lacan dizia das mulheres:
Dizer que a mulher é o Outro absoluto é dizer que ela não será nada de tudo que se possa dizer a seu respeito, que ela fica fora do simbólico, real no duplo sentido daquilo que não se pode dizer e daquilo que se goza de não-fálico, com o Outro absoluto opondo um desmentido, por definição, a qualquer atribuição eventual.
Outro absoluto e Real – fora do simbólico – são justamente as atribuições que reiteram o caráter exótico da linguagem da mulher. Negar que a mulher esteja circunscrita ao Real não significa, como sugerido na obra, contrapor-se dialeticamente ao registro fálico, reiterando-o pela negação, proferida por uma voz isolada, que se inscreve como Outro absoluto. Para além do registro fálico, a mulher não está condenada à solidão de uma voz única, mas encontra, pelo contrário, toda uma rede de significantes que se tecem em outras malhas simbólicas.
É verdade que há intersecção entre os mais diferentes conjuntos de significantes que estruturam as línguas. Se as vocais psicanálises freudo-lacaniana e winnicottiana ainda desconsideram o enredamento simbólico da linguagem articulada entre mulheres – Freud não sabia o que elas queriam, Jacques Lacan insistiu no gozo outro, fora do registro simbólico, e Donald W. Winnicott limitou-se a vê-las pela lente da mãe suficiente ou insuficiente – esses limites já haviam sido notados inclusive por contemporâneas de Freud, como Karen Horney em Feminine Psychology. Lá, entre tantas outras formulações importantes, lê-se:
Em alguns de seus últimos trabalhos, Freud chamou a atenção com crescente urgência para uma certa unilateralidade em nossas pesquisas analíticas. Refiro-me ao fato de que até muito recentemente apenas as mentes de meninos e homens eram tomadas como objetos de investigação. A razão para isso é óbvia. A psicanálise é a criação de um gênio masculino, e quase todos os aqueles que desenvolveram suas ideias foram homens. É justo e razoável que eles desenvolvam mais facilmente uma psicologia masculina e compreendam mais o desenvolvimento dos homens do que das mulheres.
Assim como Karen Horney, muitas outras psicanalistas, tais como Virgínia Bicudo, Neusa Santos Souza, Sabrina Spielrein, Melanie Klein, Anna Freud têm sido resgatadas sob novas luzes. Apesar das resistências, teorias e movimentos feministas, de gênero, descoloniais, antirracistas e queers vêm impelindo a psicanálise a repensar alguns de seus pilares.
De fato, um dos múltiplos eixos tratados nesse grande espetro linguístico é a maternidade. Ao contrário do que dizem alguns psicanalistas, maternidade não é função, mas estatuto historicamente modelado em determinadas configurações. Dito de maneira sucinta: maternidade não coincide com maternagem. Quando compartilham questões da maternidade, as mulheres que são mães atravessam justamente a fronteira que as limitam às funções estabelecidas social e politicamente para elas. Revelam segredos antes inconfessáveis e resgatam pelo intercâmbio da memória a validação de suas nada edificantes experiências como mães. Recuperam seus desejos como mulheres e articulam-nos com o desejo da maternidade e com as responsabilidades a ele inerentes.
Embora crescente nos últimos anos, são poucos ainda os homens que se dispõem a participar da rede de significantes encadeada entre essas mulheres. Não se conclui daí que a posição das mulheres, dentro e fora da maternidade, seja vivida na solidão. Longe da fronteira fálica há discursos que são transmitidos e compartilhados entre elas. Eles não estão mais confinados enquanto segredos destituídos de poder ou meras traduções privadas de experiências fora do alcance político e simbólico da linguagem.
Três filmagens recentes – Maid, A filha perdida e Lara – bem como Sula, de Toni Morrison, escrito em 1973, mas traduzido apenas no ano passado para o português, mostram quão limitado é o campo linguístico fálico e, de certo modo, quão limitado é também o campo linguístico psicanalítico em torno dele articulado, mesmo quando se empenha em reconhecer seus limites partindo de seu repertório mais usual. Em minhas próximas publicações na coluna, pretendo abordar as quatro obras comparativamente para mostrar como todo um tecido se costura para além daquele recorte linguístico.
O léxico da maternidade e do trabalho entre feministas
Antes de apresentar a articulação lexical fora do âmbito fálico pelas obras acima mencionadas, é importante dizer que as análises serão feitas dentro do escopo de debates apresentado sobretudo em O mito do amor materno, de Élisabeth Badinter, Mothers de Jacqueline Rose, Of woman born de Adrienne Rich, O que Lacan dizia das mulheres, de Collete Soler, A life’s work de Rachel Cusk, Gênero, patriarcado e violência de Heleieth Saffioti e Couro Imperial de Anne McClintock.
Com Badinter, por exemplo, observa-se que as mulheres da aristocracia adotavam serviços de amas de leite a fim de manterem-se livres e cultivarem seus saberes – a boa maternagem garantia-se às expensas de cuidados que independiam da maternidade. O modelo das amas de leite expandiu-se para a burguesia e depois para classes menos abastadas: ricas podiam pagar pelo serviço em nome de seu tempo livre, enquanto trabalhadoras seguiam em suas ocupações pelo salário, impendidas de amamentar.
Apenas no século 18 ocorre a mudança ideológica que inscreve a mulher sob insígnias burguesas e normatiza-as para todas as classes: esposa e boa mãe, cujo amor estaria no registro instintual e, portanto, a-histórico e incondicional. Como mostra Anne McClintock em Couro imperial, desempenhar o papel “natural” de esposa exemplar e boa mãe no lar burguês implica servir-se de trabalhos domésticos mal remunerados de outras mulheres. Sem elas, não haveria esposa exemplar alguma e nem a boa mãe validada por aqueles moldes.
É bem verdade que desde o século 18 muita coisa mudou. Entretanto, parece que o papel das mães ainda segue marcado pelas validações da estrutura familial burguesa; mulheres-mães que nela não se encaixam seja por razões afetivas, seja por motivos econômicos, sociais e políticos estarão marcadas pelo registro de sua insuficiência.
Com a questão da maternidade e do trabalho reprodutivo – não remunerado – na base de sustentação da sociedade moderna, debates e lutas feministas dividiram-se entre mulheres que reivindicavam o reconhecimento da maternidade pelo Estado e as consequências sociais, políticas e econômicas de tal posição e outras que defendiam o amor livre, repudiando adotar o modelo da esposa-mãe como aquele que traduziria a luta primordial entre as mulheres. Acrescidas de novas camadas, tal divergência, que se iniciou sobretudo na década de 1960, ainda está em curso nos diferentes debates feministas.
Seja como for, o que interessa destacar aqui ocorreu bem antes disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, mulheres – mães ou não – trabalharam no lugar dos homens, ocupados nas trincheiras ou em outros segmentos da batalha global. Diante dessa nova realidade, feministas alegaram a equivalência no trabalho desempenhado por mulheres e homens e protestaram pelas mesmas condições para realizá-lo, inclusive planos específicos para a maternidade entre trabalhadoras. Com a inegável necessidade da mão-de-obra feminina no mercado, as próprias mulheres surpreenderam-se com o que podiam fazer ou comprovaram suas reais capacidades e puderam exibi-las efetivamente em suas atividades laborais. Observaram ainda como a maternagem ligava-se ao trabalho, que poderia então ser ou não exercido por elas. Abalou-se a ideia da mãe como dom natural da mulher. Esperavam, então, as consequentes recompensas por seus bons e leais serviços e o espaço para discutir direitos e deveres como cidadãs após suas descobertas terem sido elaboradas discursivamente. À exceção da Alemanha, porém, nada aconteceu. Depois da guerra, grande parte das mulheres se viram obrigadas a retornarem a seus lares e retomarem o mito do amor materno em todas as instâncias da vida – em sua suficiência a depender de questões econômicas favoráveis ao pagamento de serviços auxiliares ou de sua julgada insuficiência.
Com o exemplo, tenciono ilustrar tempos em que o discurso feminista ainda se submetia à espera pelo reconhecimento, sem se dar conta dos interesses na manutenção da estrutura patriarcal. Hoje, os poderes seguem desiguais, mas são muitas as mulheres que perderam a ingenuidade. Desiludidas com o patriarcado como um todo e a fim de consolidar outros modos de organização social e política, deram corpo a outros idiomas e seus significantes transitam expandindo espaços na esfera pública. Sem almejarem o encaixe no posto de únicas aos olhos do velho Outro, inventaram ainda outros modelos de amor.
Em breve, aqueles que não quiserem se alfabetizar nesses outros registros semânticos estarão despreparados para angariar zonas de poder ou para amar aquelas que exigem maneiras mais livres de viver. Ser única aos olhos de Outro não condiz mais com o desejo de muitas mulheres. Elas querem muito mais. A insatisfação, tida como própria à constituição da estrutura histérica, ganhou contornos discursivos políticos mais precisos; as reivindicações deixaram de se conformar a meras lamúrias sintomáticas de subjetividades específicas. Independentemente de sermos ou não escutadas na esfera fálica, espaços estão sendo ocupados por nós e nossos discursos reverberam aos ouvidos de muitas que não deterão suas insatisfações às dinâmicas internas subjetivas e transformarão aquelas velhas arquiteturas com toda a potência de que dispõem. Para isso, não basta ser a única.
Alessandra Affortunati Martins é psicanalista e doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. Autora de Sublimação e Unheimliche (Pearson, 2017), O sensível e a abstração: três ensaios sobre o Moisés de Freud (E-galáxia, 2020) e organizadora de Freud e o patriarcado (Hedra, 2020).