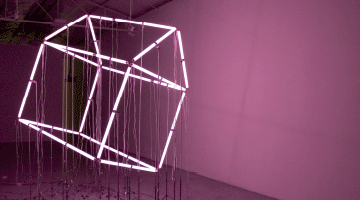Da intraduzibilidade como política

'Heavenly City' - Skyscraper, de Yang Yongliang, 2008 (Foto: Reprodução/MuCEM)
A exposição “Após Babel, Traduzir”, com curadoria da filósofa Barbara Cassin, busca demonstrar, em imagens e objetos, toda a reflexão desenvolvida por Cassin, ao longo dos últimos anos, sobre a prática da tradução
Depois de quase dois meses em Paris, cheguei pela primeira vez a uma cidade francesa mediterrânea: Marseille ou, em bom português, Marselha. Como já conhecia outras cidades mediterrâneas, sobretudo as da Itália, foi inevitável o sentimento de déjà vu: há uma identidade mediterrânea que está acima das identidades nacionais europeias. Marseille é certamente uma cidade francesa, mas também, e sobretudo, uma cidade mediterrânea.
Fundada pelos gregos, como um porto comercial, em 600 a.C., com o nome de Massalía, foi anexada ao Império Romano em 49 a.C., quando se tornou Massilia. Segundo a tradição católica, Maria Madalena teria difundido o cristianismo na região partindo daqui. A partir do século 5 da nossa era, a cidade passa a ser governada pelos Visigodos, depois pelos Ostrogodos e, por fim, pelos Francos. Em 1481, Marselha é finalmente incorporada ao Reino da França.
Historicamente, portanto, Marselha é uma cidade de muitos povos e de muitas línguas. Sua situação geográfica fez com que fosse uma cidade grega, latina, francesa, árabe, africana. Nesse sentido, Marselha era praticamente um lugar destinado a ter um museu como o MuCEM: o Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo. Podemos dizer que o MuCEM em Marselha é o museu certo na cidade certa.
Inaugurado em 2013, quando a cidade foi a Capital Europeia da Cultura, o magnífico prédio (um cubo de 15.000 m2), concebido pelo arquiteto francês de origem argelina, Rudy Ricciotti, como uma “construção de pedra, água e vento”, o MuCEM se coloca entre o Forte Saint-Jean, um dos mais antigos monumentos da cidade, cuja construção se deu entre os séculos 12 e 17 (no mesmo local em que foram encontrados vestígios da primeira ocupação grega no século VI a.C) e a Villa Méditerranée, também inaugurada em 2013, e projetada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri com o objetivo de “dar, a todos, chaves de compreensão sobre o Mediterrâneo contemporâneo”. O Forte, o MuCEM e a Villa formam um complexo dedicado às civilizações europeias e mediterrâneas.
Se o MuCEM não podia estar em um lugar mais adequado, a exposição “Após Babel, Traduzir”, em cartaz atualmente no MuCEM, com curadoria de Barbara Cassin, também não poderia ter encontrado um lugar melhor para a sua realização. Podemos dizer que “Após Babel, Traduzir” é a exposição certa no museu certo na cidade certa. Inaugurada em 13 de dezembro último, a exposição acontece numa cidade poliglota por natureza. Como lemos na apresentação do catálogo da mostra, escrita por Barbara Cassin, já em 1840, Flaubert falava sobre esse microcosmo babélico com as seguintes palavras: “Uma Babel de todas as nações, você ouve falar cem línguas desconhecidas, o eslavo, o sânscrito, o persa, o cítico, o egípcio, todos os idiomas, os que falamos no país das neves, os que suspiramos nas terras do sul.” Para mostrar que a situação continua exatamente a mesma nos dias de hoje, foi filmado, especialmente para a exposição, um curta-metragem, Marseille en V.O. (acessível com a senha EditionsMucem), que nos mostra como, cotidianamente, em Marselha, passa-se do francês ao árabe, ao armênio, ao urdu, ao wolof, ao comoriano, ao inglês. A presença de uma multiplicidade de línguas e a prática da tradução são fenômenos sempre presentes no dia-a-dia da cidade, algo que eu pude constatar nos dias que passei aqui. “Após Babel, Traduzir” não é, nesse sentido, apenas uma exposição, mas o que vemos por toda parte, a todo momento, nessa cidade.
Para entendermos a história de como a filósofa e filóloga francesa Barbara Cassin se tornou curadora dessa exposição teríamos que recuar pelo menos até o ano de 2004, ou talvez antes. Mas tomemos a publicação na França, em 2004, do Vocabulário europeu das filosofias (Le Robert/Seuil), mais conhecido por seu subtítulo, Dicionário dos intraduzíveis, como ponto de partida. O trabalho monumental coordenado por Barbara Cassin, e que envolveu 150 pesquisadores de vários países do mundo, é um estudo em torno de quatro mil termos, de mais ou menos 15 línguas principais, as línguas europeias do título, mas também de outras, com as quais essas línguas estabeleceram relações históricas importantes.
O Dicionário surge como consequência de toda uma reflexão filosófica anterior de Barbara em torno da sofística antiga e do estatuto da linguagem na constituição do pensamento filosófico. Trata-se de lembrar que a filosofia não se faz apenas com conceitos (universais) mas com palavras (singulares) em línguas (singulares) e, na passagem de uma língua a outra – portanto, na tradução -, há algo que se produz como um impasse, ou, como prefere Barbara Cassin, fazendo uso da psicanálise, como um sintoma da diferença entre as línguas. A impossibilidade de uma língua ser integralmente traduzida em outra língua nos lembra da irredutibilidade da palavra face ao conceito filosófico.
O intraduzível não é, no entanto, o que não pode ser traduzido, mas, numa formulação lacaniana bastante explorada por Barbara, “o que não cessa de (não) se traduzir”. Daí que, dez anos após a publicação do Dicionário dos Intraduzíveis, Barbara Cassin organizou um volume, publicado em 2014, na França, pela Éditions Rue d’Ulm, que se chama Filosofar em línguas: os intraduzíveis em tradução. O livro dá conta dos trabalhos de tradução do Dicionário dos intraduzíveis em várias outras línguas como o ucraniano, o árabe, o inglês americano, o romeno, o português brasileiro, o hebreu e o italiano. O Dicionário dos intraduzíveis, paradoxalmente, se traduz em línguas que, a cada vez, devem acrescentar algo à edição original, de acordo com a peculiaridade das línguas nas quais ele se traduz. O Dicionário se torna, assim, um work in progress permanente, virtualmente infinito, borgiano, podendo ser traduzido em quantas línguas existirem, elevando à potência seu trabalho original. A tradução americana, Dictionary of Untranslatables: a philosophical Lexicon, foi publicado pela Princeton University Press em 2014. A edição brasileira deve sair em 2017, pela Editora Autêntica em coedição com a editora da Universidade de Brasília
Quando falamos dos intraduzíveis, portanto, estamos falando do que está sempre por traduzir, o que implica não a impossibilidade da tradução mas seu elogio. E é precisamente o que Barbara Cassin faz em seu último livro, lançado em Paris, pela editora Fayard, neste ano, poucos dias antes da inauguração da exposição em Marselha, com um título bastante gorgiano: Éloge de la traduction: compliquer l’universel (Elogio da tradução: complicar o universal).
Trata-se, para Barbara, de tirar as consequências filosóficas e políticas da prática da tradução, porque é somente através da tradução que chegamos a localizar o intraduzível como a dimensão mais fundamental de uma língua, assim como, para a psicanálise, é somente através da relação com outro que podemos nos dar conta do nosso sintoma. Em outras palavras, o sintoma é relacional, ele não existe como algo substancial. É só porque há uma alteridade que podemos nos dar conta de que algo não se traduz. Podemos dizer, também, que o intraduzível é o que resiste à universalização. Em oposição ao conceito que, em tese, descreve uma noção universal, e que poderia ser transmitido integralmente, o intraduzível descreve uma singularidade absoluta. No caso, a singularidade de uma palavra ou de uma língua, assim como o sintoma descreve a singularidade do sujeito frente ao grande Outro que é a própria linguagem na qual ele procura se traduzir. Falar em uma língua é já traduzir para essa língua um intraduzível: o próprio sujeito em sua dimensão real. Mas é apenas nesse esforço de tradução que o sujeito pode se dar conta da sua própria intraduzibilidade, que não deve ser tomada por ele como uma falha, mas como sua riqueza mais preciosa. Entre um ponto e outro, há um percurso a ser feito, naturalmente. Daí a necessidade da prática da tradução.
A exposição “Após Babel, Traduzir” busca traduzir, em imagens e objetos, toda essa reflexão desenvolvida por Barbara Cassin ao longo dos últimos anos. A exposição é, nesse sentido, um trabalho de tradução, de conceitos e palavras, em imagens e objetos, em livros e obras de arte. Seu trabalho como curadora aqui deve ser entendido no mesmo sentido em que entendemos seu trabalho de tradutora, filósofa e filóloga: trata-se de traduzir para fazer aparecer o intraduzível.
Após Babel, Traduzir
A exposição está dividida em três partes, cada uma delas dividas, por sua vez, em duas seções. A primeira parte, “Babel, maldição ou sorte?”, começa abordando o próprio “mito de Babel” mas lida também com o tema “políticas da língua, políticas da tradução”. Essa parte da exposição se inicia com a magnífica vídeo-instalação “ZID/WALL” (1998), de Danica Dakic, na qual vemos dezenas de bocas dispostas lado a lado falando em línguas totalmente diferentes. É talvez a imagem mais sincrônica do mito de Babel, como algo que está acontecendo agora, a todo momento, ao passo que as imagens posteriores da exposição representam a Babel de modo mais diacrônico, como algo que teria acontecido um dia, como as ilustrações de Gustave Doré ou as várias pinturas a óleo sobre madeira de Abel Grimmer e de Brueghel, o jovem. Há inúmeras outras imagens da torre de Babel nesta seção da exposição, como a gravura de Athanasius Kircher, que mostra uma torre de babel cinco vezes maior que o diâmetro da terra e que teria feito com que a posição do nosso planeta no universo tivesse mudado, e as ilustrações de Erik Desmazières para o conto de Borges, A Biblioteca de Babel.
O problema da tradução e da variedade das línguas também traz consigo as representações do estrangeiro e do bárbaro como aquele que fala uma língua incompreensível. Uma ilustração divertida desse problema é aquela produzida por Mark Liberman, “The equivalent of ‘It’s all greek to me’”, que, como diz o título (que no caso da língua portuguesa pode perfeitamente ser traduzido por “Isso é grego para mim”), através de um esquema de setas, nos mostra que, para cada língua, há sempre um língua diferente que é considerada a mais incompreensível de todas. “Isso é grego para mim” é como descrevem a incompreensibilidade total de uma língua os brasileiros, os portugueses, os espanhois, os noruegueses, os suecos, os ingleses e americanos, os holandeses e também, já a seu tempo, os latinos. Os gregos por sua vez, quando querem expressar a mesma ideia, dizem: “Isso é chinês para mim”, assim como os judeus, os franceses, os russos, os húngaros, os lituanos, os romenos, os poloneses, etc.
Encontramos ainda nessa parte da exposição, objetos históricos que nos mostram o esforço de tradução permanente da humanidade, como a placa metálica que foi levada para o espaço a bordo das sondas espaciais Pioneer 10, em 1972, e Pioneer 11, em 1973, como uma espécie de garrafa lançada ao mar, para nos comunicarmos com eventuais extra-terrestres, e que traz, entre outros símbolos, a imagem de um homem e de uma mulher nus, e, no extremo oposto, uma tabuleta de argila datando do século 16 a. C, com o texto de uma carta escrita pelo faraó Amenópis para um chefe palestino, redigido, com caracteres cuneiformes, em acadiano, que era na época a língua diplomática internacional.
A segunda parte da exposição, “Os fluxos e os homens”, aborda primeiro os caminhos da tradução. Nesta seção, encontramos muitas edições antigas, como traduções para o árabe e para o hebreu dos Elementos de Euclides, por volta de 1270, e para o chinês, em 1607. Ou as traduções de Aristóteles para o árabe em 1027, e de Ptolomeu, por volta do século 9, ou, inversamente, a tradução das Mil e uma noites para o francês, publicada na Suíça em 1785. É também nessa parte da exposição que vemos como o pensamento de Marx foi traduzido para diversas línguas em todo mundo com a expansão das ideias revolucionárias do filósofo alemão.
Um momento bastante importante é o que tem por título “Traduzir a palavra de Deus?”, pois ela dá conta das indagações atuais de Barbara Cassin, que coordena um grupo de pesquisadores que deverão escrever, nos próximos anos, um novo dicionário sobre os intraduzíveis nos três monoteísmos: islamismo, judaísmo e cristianismo. Nos dias que seguiram à abertura da exposição, um workshop de três dias reuniu esses pesquisadores no MuCEM, os quais, no último dia, fizeram uma mesa-redonda pública em que abordaram as palavras para dizer Deus, o Livro e o Outro, nessas três tradições religiosas.
É nessa parte que vemos a tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo. O papa lhe encomendou, em 483 d.C., uma tradução latina de referência para substituir a antiga versão que era pouco confiável e cheia de divergências. São Jerônimo, para essa tarefa, aperfeiçoou o seu grego e aprendeu o hebreu e consagrou em torno de trinta anos a esse trabalho, produzindo isso que chamamos de Vulgata. A Vulgata, ou seja, a tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo, é o primeiro livro impresso por Gutenberg em 1455. O concílio de 1546 estipula que essa é a única tradução confiável para a fé católica. Na exposição encontramos uma edição de 1592 da Vulgata.
É também nesse momento que vemos a bíblia poliglota de Alcalá, editada pelo cardeal Jimenez, arcebispo de Toledo, em 6 volumes, entre 1514 e 1517. No centro da página está a Vulgata de São Jerônimo entre o texto grego e o texto hebreu. Encontramos também nesta seção traduções do Corão para o persa e a primeira tradução do Corão para o latim feita por Pierre o Venerável, por volta de 1141 e destinada aos não-muçulmanos.
A exposição lembra ainda que a tradução da Bíblia deu origem a muitas línguas vernáculas modernas, como o alemão, que nasce, podemos dizer, a partir da tradução de Lutero, publicada em Wittenberg, em 1534. Ainda nessa seção sobre a palavra de Deus, temos o assombroso trabalho do filólogo alemão J. C. Adelung, que, em 1806, traduz o “Pai nosso” nas 500 línguas conhecidas na época.
Chegamos por fim à última parte da exposição, “traduzíveis/intraduzíveis”, que nos faz entrar no atelier do tradutor, com Baudelaire, Mallarmé, Artaud e Pessoa se apropriando, todos, de Edgar Alan Poe, em exercícios de tradução do escritor americano. É também nessa parte que encontramos as únicas referências brasileiras ao tema: o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, publicado na Revista de Antropofagia (1928-1929), com seu “Tupi or not Tupi, that is the question”, que traz a dimensão intercultural e antropológica da tradução, assim como a referência à Intradução, palavra criada em 1974 por Augusto de Campos, cujo in faz referência tanto à intraduzibilidade quanto à ingestão antropofágica que está em jogo na tradução, como na Rosa para Gertrude, extraída de Despoesia (1970-1993).